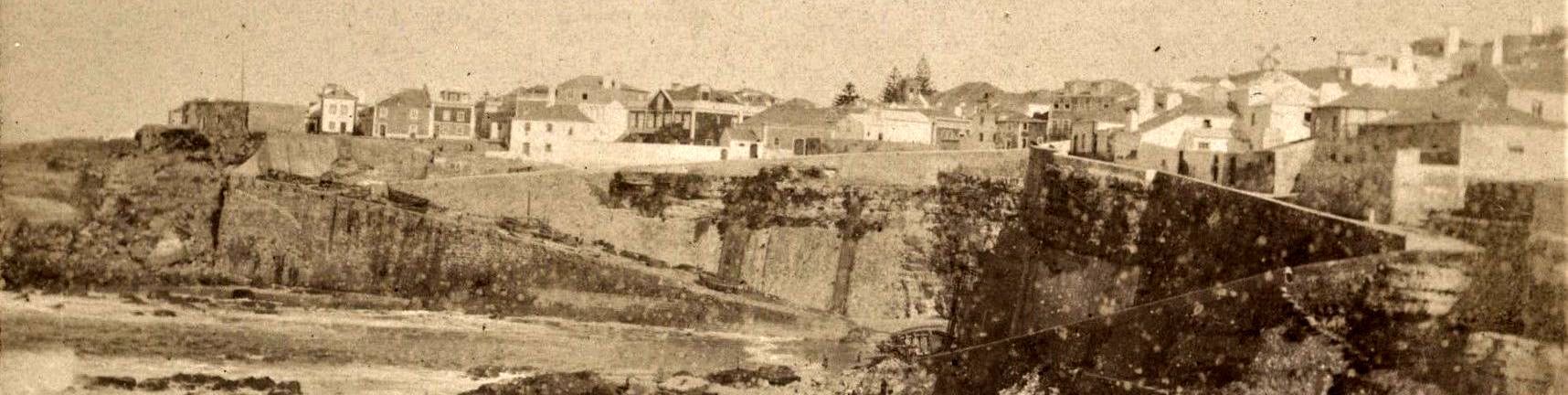Cultura Marítima Jagoz I
Nesta secção vamos dedicar-nos à Cultura Marítima Jagoz.
Iremos registar, para memória futura, as actividades sociais, económicas e culturais ericeirenses ligadas ao Mar - vendedoras e vendedores de peixe (peixeiros e peixeiras), pescadores (artesanais, industriais e desportivos), marítimos (marinheiros, contramestres, camareiros, dispenseiros, conferentes, chegadores, fogueiros, oficiais de máquinas e oficiais da ponte), empresários marítimos, centros de lazer e de avio (tabernas, Clube Naval), mecânicos marítimos, construtores navais (carpinteiros de machado, mestres e calafates), elementos da Marinha de Guerra (praças, sargentos e oficiais), sinaleiros, banheiros, etc.
Muitas das referidas actividades jagozes estão extintas ou em vias disso.
O Surf é um desporto recente com inúmeros divulgadores não será considerado na mesma perspectiva. Sendo, contudo, um desporto com excelente devir.
Utilizaremos documentos e história oral. As entrevistas foram, na maioria, gravadas, transcritas e finalmente o texto revisto e corrigido pelos entrevistados. O registo suportado na memória humana é o que é! Falível, mas útil quando confrontado com registos escritos, fotográficos, etc.!
Com a preciosa colaboração de António Elias (alcunha "Toly") para a datação e genealogia dos entrevistados.
BASÍLIO JOAQUIM CASADO

Fig. 1 Basílio Casado, em 2012, na Ericeira
Basílio Joaquim Casado nasceu na Ericeira a 24 de Julho de 1925. É filho de Basílio Roberto Casado, pescador, e de Eva Henriques Casado, doméstica, ambos naturais da Ericeira.
Caracterizou-nos a actividade haliêutica do pai de uma forma assertiva - «O meu pai foi pescador em Cabo Branco e aqui».
Em 1936, terminou a quarta classe aos onze anos. Frequentou a Escola Industrial Fonseca Benevides, em Lisboa, onde tirou o curso industrial de serralheiro mecânico.
Em 11 de Março de 1944, inscreveu-se na Capitania do Porto de Lisboa, sendo-lhe atribuída a cédula n.º 41.854.
Em 1945, entrou para a Escola Náutica, frequentando o Curso de Máquinas, na Rua do Arsenal.
Em 31 de Julho de 1947, terminou com sucesso o segundo ano do curso elementar de máquinas marítimas.
«Embarquei no cargueiro “Socorena” da “Companhia Nacional de Navegação” (“CNN”), como oficial praticante de máquinas, que fazia as carreiras Lisboa – Nova Orleães. Andei dois anos de praticante e depois passei a terceiro maquinista no mesmo navio.
Andei embarcado vinte e tal anos, quase trinta efectivos (27 anos na “CNN”), depois saí e embarquei noutras companhias em Moçambique e em Angola.
Casei com 22/23 anos com Domingas Luísa dos Santos Gonçalves Casado, natural da Ericeira». Tem dois filhos – João Basílio Gonçalves Casado e Eva Maria Gonçalves Casado.
«Não fiz tropa nenhuma. Fui dispensado por pertencer à marinha mercante.
Ao longo da minha vida tive pouco tempo de férias. Andei quase sempre embarcado porque estava sempre a ser convidado para embarcar. Passei as minhas férias sempre na Ericeira.
No mar passava o tempo a trabalhar. Passava o tempo livre a ler. Li muita coisa. Lia por ler para passar o tempo. Nunca me ia deitar sem um livro. Gostei sempre da vida do mar».
Perguntámos ao Chefe Basílio quem é que normalmente cuidava do funcionamento da máquina. A resposta surge na ponta da língua - «A máquina funciona com o terceiro maquinista, ajudantes de máquina e chegador».
«Corri o Norte da Europa todo, os Estados Unidos (Houston, Nova Orleãs, Nova Iorque), a América do Sul [Chile, onde carregávamos sal (nitratos)], África Ocidental e Oriental, Índia (Goa) e China (Macau).
Uma pessoa gostava da companhia e deixava-se estar. A companhia dava-nos férias. Nesse tempo, não era normal saltar de uma companhia para outra. Trabalhei sempre na “Nacional” (“CNN”).
Da Ericeira, andei com o Valverde [Francisco José Valverde, alcunha “Chico Alface”, oficial de máquinas], com o Joaquim Ramos (oficial) e com o Leitão (dispenseiro), que foi com quem andei mais tempo».
Basílio Casado embarcou, como oficial praticante de máquinas, no cargueiro “Nacala” (18.09.1947-24.05.1948), como oficial terceiro maquinista, no cargueiro “Cunene” (25.05.1948-03.05.1949) e no cargueiro “Arraiolos” (04.05.1949-05.09.1949).
Em 22 de Setembro de 1949, obteve a carta de oficial maquinista de terceira classe.
Voltou a embarcar, como terceiro oficial maquinista, no “Rovuma” (10.11.1949-17.02.1951) e no “Moçambique” (30.03.1951-11.04.1951), de segundo oficial maquinista no “Zambézia” (13.04.1951-16.08.1952), novamente de terceiro oficial maquinista no “Rovuma” (18.11.1952-19.05.1954), e de segundo oficial maquinista no “Moçambique” (19.05.1954-23.08.1954).
Em 19 de Maio de 1954, concluiu a carta de oficial maquinista da marinha mercante de segunda classe exclusivamente para o desempenho das funções em navios equipados com máquinas de combustão interna.
Voltou a embarcar, de segundo oficial maquinista, no “Zambézia” (23.08.1954-03.08.1956) e, de terceiro oficial maquinista, no “Rovuma” (17.08.1956-08.09.1956).
Em 30 de Janeiro de 1957, tirou a carta de oficial maquinista da marinha mercante de primeira classe exclusivamente para o desempenho das funções em navios equipados com máquinas de combustão interna. Embarcou novamente, de segundo oficial maquinista, no “Moçâmedes” (09.07.1957-16.01.1958).
Em 24 de Janeiro de 1958, terminou o curso complementar de Máquinas Marítimas na Escola Náutica Infante D. Henrique.
Regressou ao mar, como primeiro-oficial maquinista, no “S. Tomé” (03.05.1958-04.04.1961), no “Timor” (10.05.1961-30.05.1961) e no “Zambézia” (30.05.1961-17.06.1963), de segundo oficial maquinista no Moçambique (13.12.1963-01.05.1964), de primeiro-oficial maquinista no “Sofala” (06.05.1964-18.02.1966), de oficial chefe de máquinas no “Beira” (19.02.1966-28.09.1966), no “Índia” (15.10.1966-29.03.1967), no “Rovuma” (08.08.1967-30.08.1967) e no “Beira” (25.10.1967-16.12.1970).
Os navios eram todos propriedade da “CNN”, única companhia portuguesa de bandeira em que o Chefe Basílio Casado trabalhou.
«Reformei-me a meu pedido, senão ainda andava lá mais tempo. Fiz três estações em Moçambique em barcos de cabotagem. Cada estação durou cerca de dois anos. Passado pouco tempo de me reformar convidaram-me a ir trabalhar para uma companhia moçambicana. Andei lá pouco tempo, quase um ano. Regressei à Ericeira. Pouco tempo depois convidaram para ir buscar um navio que estava em reparação em Espanha, destinado a Moçambique. Andei outro ano e picos. Regressei à Ericeira.
Depois convidaram-me para ir para um navio que estava fundeado na baía de Luanda. Estive lá cinco meses fundeado. Já estava chateado com aquilo tudo. Estive quase seis meses fundeado em Luanda, à espera nunca soube do quê? Depois fizemos uma viagem ao Lobito, regressámos a Luanda e eu pedi para me ir embora. Regressei a Lisboa de avião. Nessa época, já não tínhamos navios mercantes.
O último navio em que embarquei era angolano. Os navios pertenciam ao Estado».
Até atingir a reforma residiu sempre na Rua José Ferreira Jorge, nº 3, r/c D, na Cova da Piedade. Após a reforma passou a residir na sua casa na Ericeira.
«Depois de estar reformado cheguei a ter aqui uma chata para ir à pesca com o Quirino, filho do Bartolomeu Arruda. Íamos os dois ao mar quando nos apetecia. Pescávamos com linha à mão.
Essa chata está no terreno do Joaquim Casado [Joaquim José Alexandre Casado] ao Norte».
Basílio Casado faleceu, na Ericeira, a 2 de Novembro de 2015.
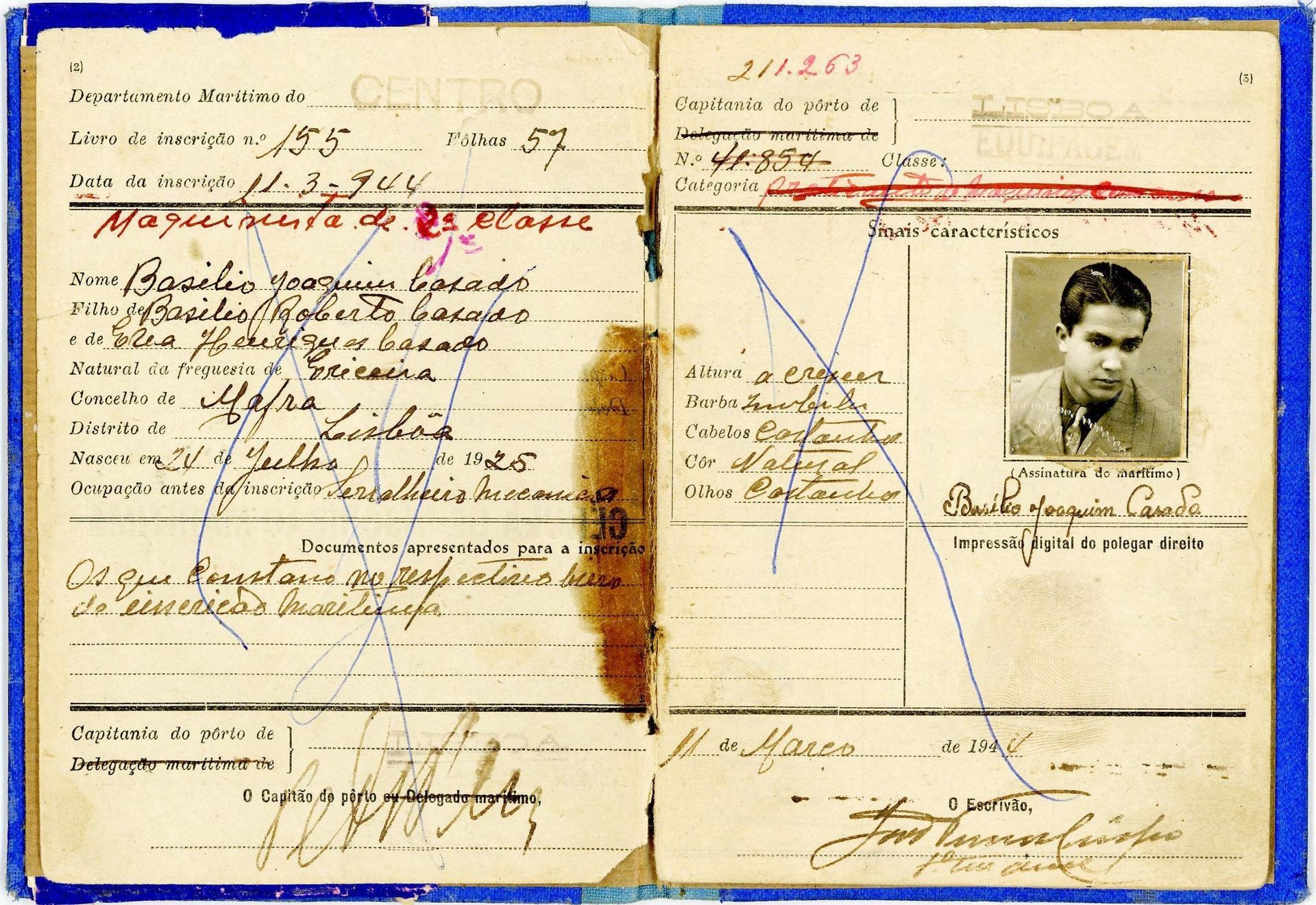
Fig. 2 Cédula de Inscrição Marítima emitida em 11.03.1944
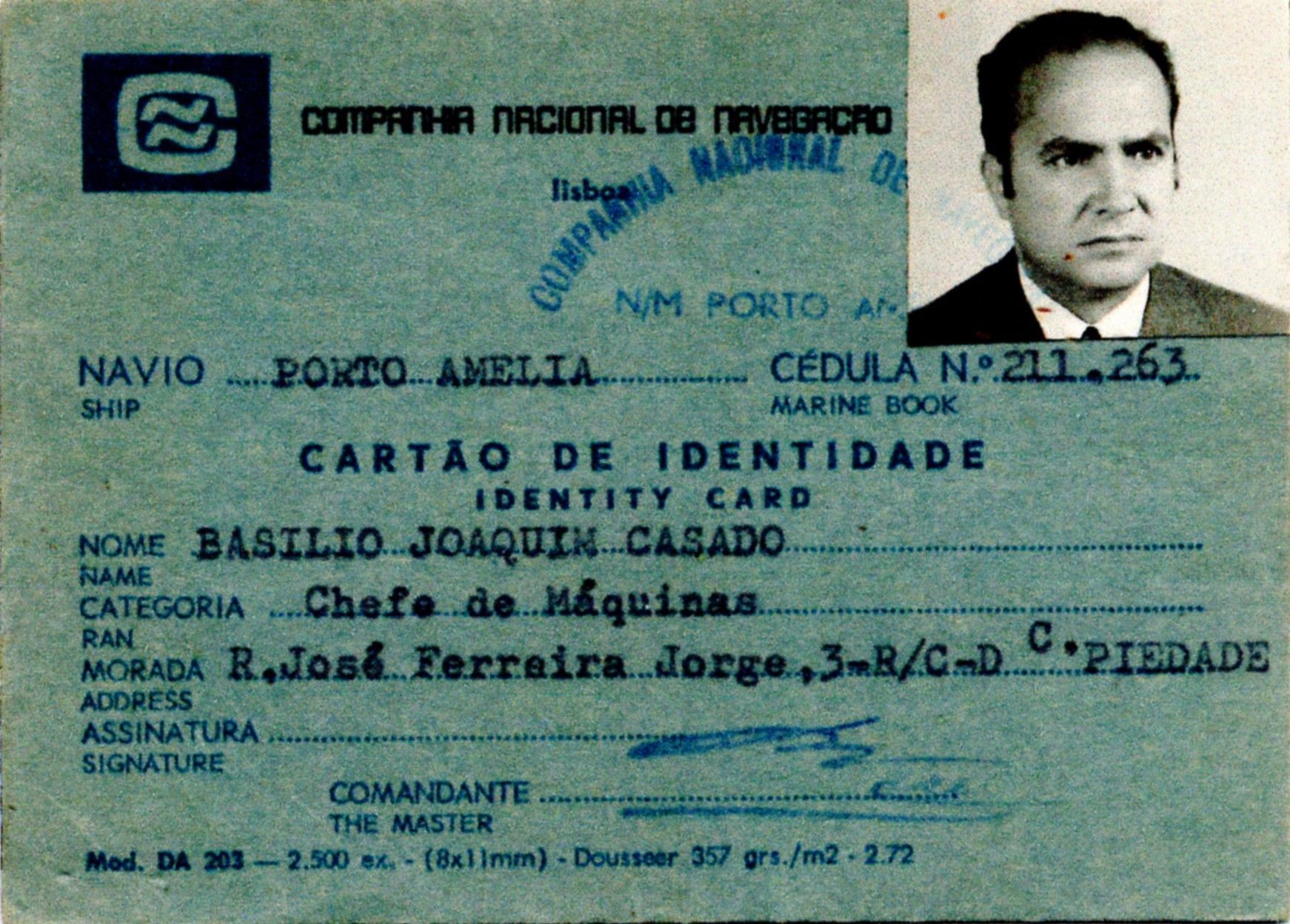
Fig. 3 Cartão de Identidade de bordo do navio “Porto Amélia”
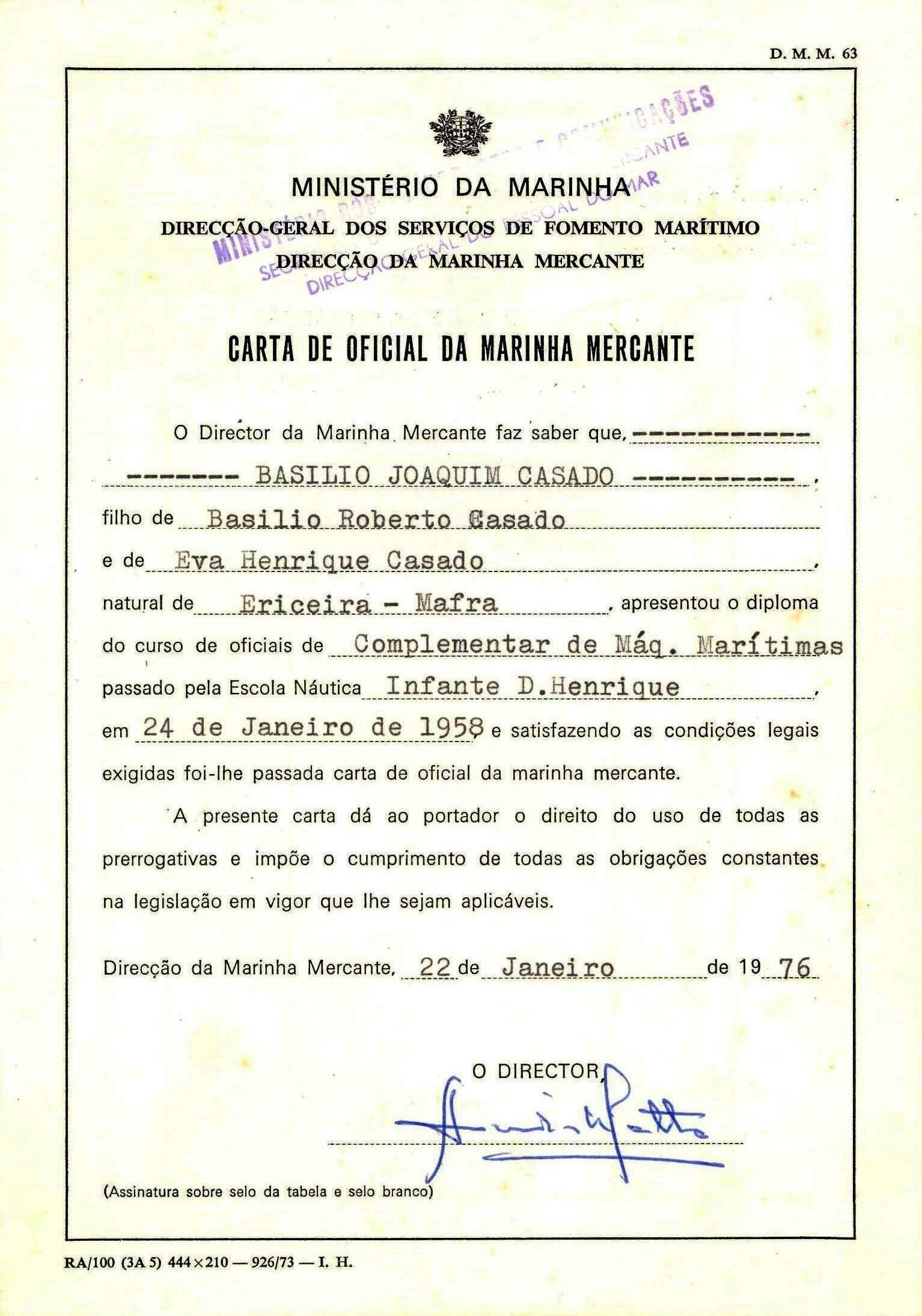
Fig. 4 Carta de Oficial da Marinha Mercante
Entrevista realizada em 26 de Outubro de 2012, na pequena sala de estar, na sua casa, na Ericeira. Documentos cedidos por Basílio Joaquim Casado e pelo filho João Basílio.
Francisco Esteves
As Tabernas da Ericeira
Do Norte para o Sul da vila.
A taberna, território profundamente masculino, era por excelência o local onde os pescadores jagozes davam largas à imaginação e ao ócio, contando as venturas e desventuras da dura vida do mar, enquanto bebiam um copo de tinto, que sendo inúmeras vezes “de três”, ultrapassava largamente em número, o cardinal três!
Foi igualmente local de aviação e de “arregimentação” das companhas. Algumas foram autênticos casinos, onde a “batota” era senhora e rainha.
Alguns proprietários foram os mais importantes armadores da pesca jagoz.
1 – Taberna da “Coelha”. Pertenceu a Maria Antónia Soares (“Maria Coelha”) e ao marido, Alfredo Vicente (“Alfredo da Coelha”). Mais tarde, passou para o seu filho, Manuel Vicente (“Manuel da Coelha”). Situava-se na Rua das Pedreiras, em S. Sebastião, no Bairro dos Pescadores ou das Fontaínhas, mais ou menos, ao lado da actual pastelaria “Solmar” (2014).
2 – Taberna do “Salsicheiro” (“Salcheiro” na pronúncia jagoz). Conhecida como Taberna do “Zé Rafael”. Situava-se junto à “Fábrica dos Pirolitos”, no início da Rua do Carmo, em frente ao Café Pastelaria “Narcibel”. No local funciona actualmente o restaurante “Os Arquinhos” (2014).
3 – Taberna do “Jasué” (na pronúncia jagoz). Em 1946, António Henriques (por alcunha “Peidas”), natural de Ribamar, abriu uma taberna na Rua do Arrabalde. António trabalhava em saibreiras e como areeiro, retirando areia dos rios. A mulher, Emília da Conceição, natural da Ericeira, tomava conta do negócio. O estabelecimento era conhecido por “Taberna do Peidas”.
Em 1958, António Henriques entregou o negócio ao filho, Josué Lourenço Henriques, que na altura fez obras no edifício. Josué nasceu a 17 de Outubro de 1938, na Ericeira. Foi trabalhar para Lisboa com doze anos como ajudante de marçano. Subiu os degraus de caixeiro a encarregado em vários estabelecimentos lisboetas desde Campo de Ourique à Praça da Alegria. Saiu da “Favorita”, na Praça da Alegria, para tomar conta da taberna do pai, a que chamou a “Pérola do Arrabalde”. Josué esteve à frente do negócio até 1998, altura em que se reformou.
No tempo do pai e nos anos cinquenta e sessenta «poucos petiscos se faziam. O dinheiro era pouco. Fazia-se peixe frito, isso, quase todas as tabernas tinham. Havia pevides, tremoços e amendoins».
O vinho tinto era adquirido em vários lados, no Sobral da Abelheira, na Meã e no Boco. A maior quantidade provinha do Sobral da Abelheira.
Josué Henriques ia provar e comprar o vinho para a taberna juntamente com o “Manuel da Coelha”, o “Zé Rafael” e o “Zé de Barros”. Pouco depois, o Norberto ia buscar o vinho na camioneta, levando os barris vazios limpos das várias tabernas.
«Naquele tempo, vendia-se pouco vinho branco. Era mais, era tinto.» Vendia vinho tinto, vinho branco, “Eduardinho [1]”, “ginja”, vinho abafado, branco velho (abafado com vinho branco, meio por meio), aguardente, cortado (aguardente com abafado, meio por meio), pirolitos, e, mais tarde, gasosas da “Ericeirense” [2].
Josué confeccionava salada de polvo. Tinha mercearia ao lado. Vendia queijos frescos e da Ilha e sandes. Às vezes, a mulher fazia uma feijoada de búzios. Eis a receita, que amavelmente nos cedeu – Os búzios são cozidos à parte. O feijão branco é posto de molho e cozido. Faz-se o guisado (refogado) com azeite, alho, cebola, louro e piripiri. Depois juntam-se os búzios e o feijão e tempera-se de sal a gosto. O filho Paulo Henriques, nascido a 28 de Agosto de 1967, na Ericeira, encontra-se ao leme do café. A taberna e mercearia situavam-se onde hoje é o Café “Pérola” (2014).
[1] Licor que teve origem numa mistura de licores que o palhaço “Eduardinho”, do Coliseu, habitualmente consumia na Ginjinha, das Portas de Santo Antão, de J. Manuel L. Cima & Herdeiros, estabelecimento existente na Rua das Portas de Santo Antão, nº 7, em Lisboa, desde o século XIX. Inspirada na mistura, a firma decidiu começar a produzir o “Eduardinho”. O sucesso do “Eduardinho” despoletou uma série de cópias, com nomes tão sugestivos como “O Pescador”, “Reizinho”, “Mulatinha”, etc.
[2] Os refrigerantes “Ericeirense” foram produzidos pela Fábrica de Refrigerantes Viúva José Alves dos Santos, situada em S. Sebastião.
4 – Taberna da “Peralta”. Pertenceu a Bernardino Gomes e Angelina Bernardes dos Santos (17.05.1916-30.07.1987), pais de Quintino António Gomes. Anteriormente, foi propriedade da avó de Angelina dos Santos, que tinha a alcunha “Peralta”. A “Peralta” era natural da Serreira, lugar da Freguesia da Freiria. A taberna situava-se no edifício da actual oficina do estofador Arnaldo Duarte, no Largo das Fontainhas (2014). Encerrou à perto de quarenta e poucos anos.
5 – Taberna do António Miranda. Era taberna e mercearia. Situava-se na Rua do Carmo, no lado sul, perto do enfiamento da travessa que dá para a estrada nacional.
6 – Taberna do “Joaquim da Casimira”. Era taberna e mercearia. Situava-se na esquina da Rua do Rio Calvo com a Rua Florêncio Granate, no Largo das Fontainhas. Actualmente é o Café padaria “Pãozinho das Marias” (2014).
7 – Taberna do “Marrafa”. Situava-se na Travessa do Cotovelo nº 2. Mais tarde, foi o Café “Nortada” (2014).
8 – Taberna do João Baptista. Pertenceu inicialmente a João Baptista. Em frente à porta, do outro lado da rua, tinha um macaco, atractivo exótico iconográfico do tempo.
Em 1948, António de Almeida Fontão e a mulher, Sofia Esteves Pereira Fontão, tomaram de trespasse a taberna a João Baptista por vinte contos, passando a chamar-se “Taberna do António Fontão”.
A taberna tinha um casão, onde Sofia e o marido guardavam os barris de vinho e onde faziam a água-pé. Vejamos um pouco da história da taberna nas palavras de Sofia Fontão – «Eu fazia os petiscos que o João Baptista fazia. Um era polvo à João Baptista. Cozia o polvo à parte. Depois cortava-o aos bocadinhos. Fazia os torresmos do toucinho. Punha o polvo cozido dentro. Cozia batatas à parte e depois deitava o molho e o polvo por cima das batatas. Era muito bom. Estive na taberna treze anos. Ao fim de treze anos, trespassei a taberna ao Tio Henrique Penicheiro (Henrique Pereira Canudo), que era mestre de pesca. Já estava farta da taberna até aos olhos. O Tio Henrique Penicheiro comprou a casa à viúva do Baptista.
Naquele tempo, as lanchas andavam à vela e a remos. Não tinham motores. O meu pai era mestre de pesca, vinha aí de Inverno com o barco e dava muito peixinho às lanchas. Apareciam gaivotas em volta do barco. Todas as lanchas gastavam da minha casa.
O Inverno era muito grande. As lanchas não iam ao mar. De Inverno, os pescadores gastavam copinhos de vinho fiado. Levavam para o mar vinho fiado e conservas e nós abonávamos o dinheiro para a isca. No Verão faziam contas e pagavam. O nosso lucro estava no rol. O rol era os copos que bebiam, os vinhos, as conservas, o dinheiro que emprestávamos. Abonávamos o dinheiro.
Como eram muitas lanchas, eu fazia uma malandrice. O meu marido quando era dia de contas não gostava de estar lá a aviar. Ia para a malhada apanhar navalhas e eu ficava ali. Ficava a aturar os bêbados. Eles eram muitos e queriam sempre um copinho de graça, pois pagavam a dívida. Quando fazia as contas, eu somava e fazia-lhes uma malandrice. Eu oferecia um copinho a todos. Eles ficavam todos contentes, mas assentava os copinhos e depois dizia-lhes – Fazem o favor de verem se está bem somado, pois eu não sei muito bem. Se eles fossem ver a conta diziam-me – Olha enganaste-te, mas eu tinha logo que dizer – Eu não disse para vocês verem! Mas eles nunca viam e diziam – A gente confia em ti! A gente confia em ti! E eu dizia – Vejam lá. Eu não sei muito bem de contas. Mentira! Era a malandrice que eu lhes fazia.
O meu marido comprava o vinho em armazéns aos saloios, longe daqui. Alugava uma camioneta e ia todos os anos com os barris comprar os vinhos nos arredores à Carvoeira, Boco, Valverde.
Eu e ele púnhamos um barril de 100 litros em cima de um cavalete de um metro. Vendíamos um barril de 100 litros de vinho tinto em dois dias. Vendíamos à medida e aos copos. Vendíamos um litro, meio litro, o garrafão de cinco litros. Vendíamos mais vinho tinto.
Quando era o dia da Espiga, eles estavam tesos, não tinham dinheiro, levavam o vinho e diziam que era para o rol. Eles diziam que era para a canta. Levavam cinco litros e dinheiro para irem comprar um coelho. O vinho de Inverno estava no rol.
Eu fazia petiscos. Eu fazia caracóis grandes de cebolada. Fazia mexilhão à catrafiam e de cebolada. Fazia pastéis de bacalhau, peixe frito. Às vezes encomendavam-me frango estufado ou abrótia estufada ou uma caldeirada.»
Eis algumas das receitas dos petiscos servidos na taberna confecionados pela Sofia.
Mexilhão à catrafiam – «Raspava os mexilhões, refogava a cebola às rodas em azeite com um bocadinho de colorau, metia os mexilhões, a abrir no molho da cebola. Não se põe água. Não se mete sal. A água do mexilhão tem sal».
Mexilhão de cebolada – «Faz-se bastante cebolada com tomate, colorau e bastante azeite. Cozem-se os mexilhões à parte, descascam-se e metem-se dentro daquela cebolada. Comem-se com batatas cozidas. Metem-se por cima das batatas cozidas».
Pastéis de bacalhau – «Escolhem-se as batatas que não se escangalham. Punha bastante cebola picadinha. Punha um bocadinho de pimenta. Desfiava o bacalhau com um garfo. Tirava as espinhas e punha num pano branco para ficar bem “desfiadinho”. Dobrava o pano e desfiava o bacalhau no pano. A massa do bacalhau tinha de ficar rijinha. Não se põem muitos ovos senão a massa fica “empapassada”. Leva tanto de batata como de bacalhau. Têm de se fritar, bem “fritinhos” para não ficarem moles no outro dia.
Vendíamos vinho branco, vinho tinto, cortadinhos (o cortadinho era vinho branco com vinho abafado), aguardente, Eduardinho, ginjinha com elas ou sem elas, amêndoa amarga, pirolitos, laranjadas, “traçadinhos” (vinho misturado com gasosa).
O Henrique "Penicheiro" fez obras e alugou a taberna ao “Zé Quina” (José do Carmo Silva), depois ao Casa Pia, a um da Feira Popular e a outro que era sapateiro. Estes quatro estiverem na taberna depois das obras, a minha casa era antiga».
Em 7 de Agosto de 1952, António de Almeida Fontão comprou a Feliciano Coelho a chata “Maria Albina da Nazaré” e denominou-a “Albano Fontão”, registando-a com o nº E103L. Tinha 0,699T de arqueação e destinava-se à pesca local. Esta embarcação foi construída por Silvino Duarte Marçal em 1945. Depois de pertencer a vários proprietários acabou destruída pelo mar na noite de 21 de Fevereiro de 1966.
A taberna situava-se na Rua de Baixo nº 6, a Norte da “Taberna do Andorinha da Rua de Baixo” do lado Nascente.
9 – Taberna do “Andorinha” ou “Andorinha da Rua de Baixo”. Foi propriedade de Manuel dos Santos Caré e da sua mulher Teresa de Barros Caré, que a manteve em actividade alguns anos, após a sua morte em 1926. Mais tarde, pertenceu a Domingos Gomes Salvador (por alcunha “Domingos da Açúcar”), casado com Beatriz Conceição Gomes. O vinho era adquirido aos saloios. Os fregueses entretinham o ócio, jogando ao dominó e às cartas no intervalo dos “copos”. Era frequentada principalmente por pescadores. Vendia somente a fase líquida.
Nessa época era conhecida por “Taberna do Domingos da Açúcar”. O filho, José Gomes Salvador, seguiu os passos do pai (ver Taberna do “Zé da Açúcar”). Passou depois para Francisco da Silva Martins (por alcunha “Andorinha”), que, passados alguns anos, adquiriu também a Taberna do “Andorinha de Cima” (ver “Taberna da Carolina”).
Francisco Martins foi igualmente um importante empresário marítimo. Em 24 de Abril de 1945, comprou a José António Tomé a embarcação “Maria Regina” registada com o nº E55F. Tinha 1,671T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 30 de Novembro de 1945, comprou a Manuel Lopes Brioso a lancha “Maria Zelinda” registada com o nº E10F. A lancha foi construída nesse ano por José da Luz Pardal e denominava-se “Há-de Ser o Que Deus Quiser”. Tinha 1,920T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 18 de Janeiro de 1965, os herdeiros de Francisco Martins venderam a lancha a Victor Martins Mira. Estava equipada com um motor “Alvin” de 4,7 H.P. Em 11 de Outubro de 1949, Francisco da Silva Martins comprou ao carpinteiro construtor naval João da Luz Pardal a embarcação “Pérola da Ribeira” registada com o nº E155L. Tinha 2,675T de arqueação. Em 15 de Dezembro de 1949 foi autorizada a instalação de um motor “Albin” de 9 H.P. Destinava-se à pesca local com anzol à linha. Posteriormente o motor “Albin” foi substituído por um “Conventry Victor” de 9/11 H.P. Em 11 de Outubro de 1949, comprou ao carpinteiro construtor naval João da Luz Pardal a embarcação “Rainha da Praia” registada com o nº E156L. Tinha 1,124T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca local com anzol. Em 5 de Junho de 1952 foi vendida a Rodrigo Bispo. Em 28 de Fevereiro de 1952, Francisco da Silva Martins registou a embarcação “Pérola da Ericeira” com o nº E174L que mandara construir ao construtor naval Policarpo Vicente Isaac. Tinha 3,807T de arqueação. Estava equipada com um motor “Solo” de 12 H.P. e destinava-se à pesca local a anzol à linha. Em 9 de Julho de 1952, registou a chata “Andorinha” com o nº E182L que mandara construir ao construtor naval Policarpo Vicente Isaac. Tinha 0,437T de arqueação e destinava-se a auxiliar de uma lancha de pesca local.
O edifício onde se situava a taberna foi comprado pelo Arquitecto Santa-Rita, pertencendo actualmente à sua família. Localizava-se na Rua de Baixo, próximo do Forte da Natividade.
10 – Taberna do “Carteiro”.

Lucinda da Conceição Dias
A taberna pertenceu à mãe de Artur Neves, Lucinda da Conceição Dias. O pai, António Fernandes Neves, foi carteiro na Ericeira. Lucinda Dias esteve longas décadas ao leme da taberna.
António Neves adquiriu a Serrão Franco a mesa onde o Rei D. Manuel II teve a última refeição na Ericeira, antes da fuga para o exílio. Após a refeição, partiu dali para embarcar na Praia da Ribeira. A referida mesa, hoje na posse do neto, António José Neves, esteve muitos anos ao serviço na taberna. Alguns anos mais tarde, o estabelecimento passou a denominar-se “Taberna do Fontão”, quando passou a ser propriedade de Joaquim de Almeida Fontão. Actualmente (2021), o estabelecimento chama-se a “Taberna”. Paula Rocha Lourenço (Paula “Minhoca”) mantém-se ao leme do estabelecimento, há 36 anos. É a única taberna histórica da Vila ainda no activo.
Para disfrutar e emular um pouco a memória marítima jagoz de outros tempos, recomendo ao leitor mais atrevido que peça um pastel de bacalhau, confecionado pela Paula, e um copo de “três” tinto, naturalmente!
11 – Taberna da Carolina. A taberna pertenceu a Francisco da Silva Martins (por alcunha “Andorinha”). Francisco Martins foi proprietário das tabernas “Andorinha de Cima” e “Andorinha da Rua de Baixo”.
A “Taberna do Andorinha de Cima” passou depois para Mário Lourenço (“Mário dos Táxis”) e, cerca de 1954, para Joaquim Leandro e sua mulher Carolina Franco Alberto.
O estabelecimento passou a chamar-se Taberna da Carolina. Joaquim Leandro faleceu em 1974, ficando ao leme da taberna, Carolina Alberto, sua filha, e o genro José Lei, que faleceu em 18 de Abril de 1974. Em face destes acontecimentos, ainda em 1974, o seu filho Carlos Leandro (“Carlos da Carolina”), ao tempo pescador em Cabo Branco, regressou à Ericeira para prosseguir o negócio da família. A taberna teve uma longa tradição do jogo do “Chinquilho”.
Os vinhos eram comprados no Pobral, Valverde, Carvalhal e Boco. De acordo com o relato de Carlos Leandro – «Era ali para aqueles lados que tirava o vinho (tinto). Íamos, eu, o Marrafa, o “Ti” Procópio e o “Manuel da Coelha”, em sociedade os quatro.» Normalmente, iam a um Sábado ou a um Domingo, provar o vinho. Se fosse bom faziam um contrato e mais tarde iam recolhê-lo. E prossegue – «O vinho branco ia quase sempre buscá-lo ao “Zé do Casal” em garrafões, porque naquela altura vendiam-se poucas bebidas brancas, tanto faz cerveja como vinho branco. Vendia-se vinho tinto, vinho abafado, “cortados” (metade, metade, aguardente e “Eduardinho”), branco velho, (metade, metade, vinho branco e “Eduardinho”) e aldrabão (gasosa, casca de limão, ginja ou “Eduardinho”)».
Serviam como petiscos, caracóis, «peixe frito que a minha sogra às vezes trazia (moreia, carapau), codornizes, bifanas. O nosso forte era caracóis. Os caracóis eram lavados. Bem lavados. Depois iam para dentro da panela com água só à superfície deles. Depois deixava-se estar um bocadinho, punha-se no lume brando para eles saírem. Depois de eles estarem saídos, quando começasse a ferver punha-se alho, piripiri e louro. Depois de estarem cozidos é que se punha o sal».
A taberna fechou em 1989, altura em que “Carlos da Carolina” se reformou. Situava-se na Travessa da Rua do Norte.
12 – Taberna do “Zé de Barros”. Em 1940, Luís Pina Júnior (por alcunha “CP”) veio da Remonta de Mafra reabrir a taberna que pertencera a Elisiário Bernardino e que ao tempo se encontrava encerrada.
Luís Pina foi vendedor na lota da Ericeira e empresário marítimo. Em 12 de Abril de 1946, mandou construir a chata “Elder” ao construtor naval José dos Santos Caré e registou-a com o nº E128L. Tinha 0,980T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 11 de Abril de 1952, vendeu a referida chata a Francisco Martins Rodrigues que a denominou “Valentina Dias”. Em 12 de Maio de 1947, Luís Pina comprou, a João Jacinto Morais Júnior, a chata “Santa Maria”, registada com o nº E101L. Tinha 0,696T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira com anzol. Em 14 de Janeiro de 1952, Luís Pina vendeu a embarcação a Vitorino Dias que a denominou “Zezito”.
Na “Taberna do CP”, como ao tempo era conhecida, trabalhavam a mulher, Aurora da Conceição, e a filha, Visitação da Conceição.
Os vinhos eram adquiridos na região – Pobral, Sobreiro, Achada, Carvoeira, Valverde, Carvalhal. Para comprar e avaliar os vinhos juntavam-se duas ou três tabernas, mandavam medir o grau do vinho e depois iam prová-lo. Visitação ainda se «lembra de o pai ir com o “Zé da Severa”, que tinha restaurante e taberna.»
Na taberna serviam-se caldeiradas, peixes fritos (carapaus, sardinhas, muito peixe-espada), pataniscas de carapau pequenininho, pataniscas de bacalhau e pataniscas de mexilhão.
Visitação revela-nos a receita das pataniscas – «Fazia uma massa de farinha e punha salsa picada, cebolinha picada, ovos, conforme a porção, pimenta. Era tudo muito bem “batidinho”, e depois ia a fritar. Aparecia o cliente, havia polvo cozido. Fazia o que eles quisessem. Polvo frito e salada de polvo». Vendia-se vinho tinto, vinho branco, vinho abafado, “Eduardinho”, pirolitos, «a gasosa da terra», e aldrabões (gasosa, casca de limão e “Eduardinho”). Foi um dos santuários do jogo da “batota”. Luís Pina reformou-se e passou a taberna a “Zé de Barros” (José Barros Neves). Situava-se na confluência do Largo Jaime Lobo e Silva com a Travessa da Misericórdia.
A taberna do “Zé de Barros” foi uma das catedrais da Caneja de Infundice. Neste local foram iniciados no ícone da gastronomia jagoz muitos dos jornalistas que posteriormente ajudaram a divulga-la na imprensa lisboeta. A esposa Lucemar Neves era a cozinheira de turno. A tasca do “Zé de Barros” foi durante muitos anos pousio da tertúlia jagoz denominada “Grupo Os Treze”. Actualmente (2012), é o restaurante “Taberna do Fado”.
13 – Taberna do “Carranca”. A taberna pertenceu a “Júlio da Carranca” (Júlio Francisco de Carvalho que também era proprietário da pensão “Estrela”, na Rua 5 de Outubro, em frente da actual drogaria “Bernardino”. Tinha casa de pasto e quartos. Por que na taberna não entrava ninguém com menos de dezoito anos era considerada na vila uma taberna “selecta”. Júlio de Carvalho faleceu em 30 de Agosto de 1958. Situava-se na Travessa do Lobo.
14 – Taberna do “Zé da Márcia” (Márcia Alves). José Ruivo, conhecido por “Zé da Márcia”, era natural da Assenta. Na década de 1940, veio para a Ericeira abrir um negócio de velharias.
Em 1952/53, José Ruivo abriu a taberna, casa de pasto e pensão. O estabelecimento tinha portas para as duas ruas. Esta taberna esteve activa até ao início da década de 1960. Márcia Alves era prima direita de Raul Duarte Gomes, proprietário do Hotel de Turismo da Ericeira. Os netos de José Ruivo, João Pedro e Francisco, são hoje os proprietários dos restaurantes “Tik Tak” e “Tik Tapas”. Situava-se na Rua da Misericórdia, na esquina com a Travessa do Lobo.
15 – Taberna do Afonso (da “Rosa do Adro”). Há cerca de um século, a taberna pertenceu a Hilário dos Santos Pereira (por alcunha “Hilário Cacum”). Januário Lucas, pai de Afonso da Silva Lucas, natural da Freiria, foi proprietário da “Taberna da Rosa do Adro”, situada na Rua da Procissão junto ao adro da Igreja Paroquial. Antes de 1940, Afonso Lucas, que herdara a taberna, saiu dali para tomar de trespasse a “Taberna do Melgueira”, que se situava em frente à Capela de Santo António, no edifício que ainda hoje pertence à família de José dos Santos Caré Júnior. Ali nasceram os três filhos de Afonso Lucas e de Conceição Adelaide Pereira, sua esposa.
Afonso Lucas, que deitou a mão aos mais diversos negócios para defender a vida, explorou, desde 1948, o negócio de iluminação e lançamento de fogo-de-artifício para festas e arraiais populares, após ter pertencido à comissão das Festas em Honra de Nossa Senhora da Nazaré nesse mesmo ano, aproveitando o remanescente das iluminações contratadas para os festejos. Teve um negócio de ferro-velho e velharias. Foi sócio de Raul Duarte Gomes, no negócio de transporte de vendedeiras de peixe e o mais importante e inovador empresário marítimo jagoz.
Em 16 de Junho de 1936, Afonso Lucas registou, com o nº E58F, a embarcação “Rosa do Adro”. Tinha 1,077T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 27 de Novembro de 1942, foi mandada desmanchar.
Em 5 de Maio de 1941, comprou a embarcação “Boa Viagem” a Francisco Gualdino. Foi registada com o nº E42F e tinha 1,105T de arqueação bruta. Destinava-se à pesca costeira e era movida a vela e remos. Vendeu-a em Maio de 1942, tendo sido registada na Capitania do Porto de Peniche.
Em 27 de Agosto de 1941, registou, com o nº E34F, a embarcação “Cabo Mondego” que adquiriu a Procópio da Cunha Padrão. Tinha 1,365T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. No mesmo dia, registou, com o nº E104F, a embarcação “Estrela do Mar” que adquiriu igualmente a Procópio da Cunha Padrão. Tinha 1,765T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 15 de Abril de 1943, o registo desta embarcação foi transferido para a Delegação Marítima de Cascais.
Em 16 de Abril de 1942, registou, com o nº E126F, a lancha “Maria Helena” que adquiriu a Jacinto Gomes Ferreira. Tinha 1,765T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Esta lancha, construída por José da Luz Pardal, chamava-se anteriormente “Senhora das Dores”. Em 18 de Maio de 1943, Afonso Lucas vendeu-a a Joaquim Rodrigues que a baptizou “Matilde” e a registou com o nº E36C.
Em 30 de Março de 1943, fez registar, com o nº E142F, a embarcação “Victor Afonso” que adquiriu a António Gomes Ferreira. Tinha 2,216T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 4 de Novembro de 1944, Afonso Lucas equipou a embarcação com um motor “Baudouin” de 5 H.P. (“Horse Power” – Potência do motor expressa em cavalos). Em 9 de Abril de 1956, foi autorizada a substituição do motor “Baudouin” por um “Albin” usado de 9 H.P. No mesmo dia, registou, com o nº E139F, a lancha “Maria Helena” que adquirira a José da Luz Pardal. Tinha 1,723T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Afonso Lucas vendeu a embarcação, em 7 de Maio de 1946, a Filipe Duarte Abrantes e Manuel Gravato da Silva, moradores no Vale do Carregado, Vila Franca de Xira, que a denominaram “Ericeira”.
Em 3 de Janeiro de 1946, Afonso Lucas registou o barco, feito por Policarpo Vicente Isaac, denominado “Januário Lucas”, movido a vela, remos e motor, matrícula nº E122L, e destinado à pesca costeira. Em 26 de Maio do mesmo ano, este barco foi equipado com um motor espanhol da marca “Solo” de 8 e 1/3 H.P. Em 23 de Março de 1956, foi autorizado a substituir o motor “Solo” por um “Petter” de 10/12 H.P. Em 4 de Outubro de 1979, o barco foi registado em Vila Franca de Xira com o nº VX563L e a denominação “Juventude”.
Em 6 de Fevereiro de 1947, adquiriu a Policarpo Vicente Isaac, residente na Nazaré, a embarcação “D. Maria Helena”. Foi construída em 4 de Abril de 1932 e acabada de reconstruir por Mestre Policarpo, em 6 de Fevereiro de 1947. Ficou registada com o nº E141L. Estava equipada com um motor alemão “Karl-Erik” de 5 e 1/3 H.P. Destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 19 de Agosto de 1950, naufragou ao largo da Ericeira.
Em 3 de Setembro de 1949, comprou a Policarpo Vicente Isaac, residente na Nazaré, a embarcação “D. Conceição Lucas”. Ficou registada com o nº E154L e tinha 2,880T de arqueação bruta. Tinha um motor sueco “Albin” de 9 H.P, 1.500 r.p.m., 180kg de peso e o consumo horário de quatro litros. Destinava-se à «pesca local com anzol.» Em 26 de Março de 1956, Afonso Lucas vendeu-a a Agostinho da Silva que a denominou “Nato”. Em 3 de Abril de 1956, foi autorizada a substituição por um motor “Sanofi” de 10/15 H.P. Em 25 de Maio de 1959, Agostinho Silva vendeu-a a Alberto de Matos Franco que a denominou “José Alberto”. Estava equipada com um motor “Albin” de 9 H.P.
Em 27 de Novembro de 1951, Afonso Lucas comprou a Gregório da Silva a embarcação de pesca local “Peixe Espada”, nº E85L, anteriormente denominada “Boa Viagem” e “Santa Luzia”. Tinha 1,313T de arqueação bruta. Em 15 de Março de 1984, o registo foi cancelado porque «estava desaparecida há mais de dois anos.»
Em 26 de Março de 1956, Afonso Lucas adquiriu a Bernardino de Matos a lancha, de «pesca local com linha e anzol», denominada “Maria Helena”, com 1,660T de arqueação e matrícula nº E54L. Foi acabada de construir em 22 de Agosto de 1941 por José da Luz Pardal e registada por Bernardino de Matos com o nome “Flôr de Maria”. Em 15 de Março de 1984, o registo foi cancelado, porque «estava desaparecida há mais de dois anos.»
Em 1954-55, Afonso Lucas foi o introdutor do primeiro tractor na Praia da Ribeira (da marca “Ford”) para fazer as puxadas dos barcos, que até aí eram efectuadas por juntas de bois, tudo isto depois da primeira tentativa frustrada de um negociante da Carvoeira, um par de anos antes, à semelhança do que tinha visto em Peniche e na Nazaré. O filho, Victor Lucas, foi o primeiro tractorista da Praia da Ribeira. No início, os pescadores ericeirenses reagiram negativamente a esta inovação. O filho Januário seguiu os passos do irmão e foi igualmente tratorista na praia.
Victor Afonso Pereira Lucas nasceu a 25 de Maio de 1939. Fez a quarta classe, na Ericeira, com os professores “Miss Macaca” (Maria da Conceição Figueiredo, natural da Madeira) e Botelho. Foi um dos melhores alunos da sua turma.
Em 1958, Victor Lucas casou com Maria Irene Ferreira Freire Lucas, nascida em 1940. O casal viveu sempre com os pais de Victor, no edifício da taberna. Victor Lucas trabalhou com o pai, enquanto este foi vivo. Em 1986, sucedeu ao pai no leme da taberna.
No início, os vinhos eram adquiridos na Achada, Póvoa, Sobral da Abelheira, Montelavar, Barreiralva, Freiria, mais tarde, em S. Mamede da Ventosa e, por fim, em Olhalvo.
A taberna vendia fruta, caras de bacalhau, línguas, sames, água-pé (na época) e atum de barrica. Victor, o irmão Januário e o pai iam comprar o atum de barrica a Vila Real de S. António, no Algarve. O fornecedor era o Sr. Arménio Cardoso. Entre Setembro e Março iam mensalmente carregar cerca de uma tonelada de atum de barrica ao Algarve, que depois vendiam pelos arredores, nas feiras e à saída da missa junto às igrejas, aos Domingos.
Os petiscos da taberna incluíam, para além do atum de barrica, torresmos, pastéis de bacalhau, couratos (preparados e temperados por Maria Irene e assados no carvão por Victor Lucas, num grelhador situado em frente do estabelecimento) e peixe frito (peixe-espada, raia, sardinhas e carapaus). Foi um dos locais históricos onde era possível manducar a Caneja de Infundice. Foi das últimas tabernas históricas ericeirenses a encerrar a porta. Faleceu em 2003.
16 – Taberna do Procópio (“Pricópio” na pronúncia jagoz). Até 1940, a taberna pertenceu a Firmino Pirata, sendo conhecida como a “Taberna do Pirata”. Nesse ano, passou para Augusta da Conceição Mano que foi taberneira durante cerca de dois anos.
Em 1942, o estabelecimento passou para a filha Gertrudes Caseiro, mãe de Procópio Fernandes Mano (12.05.1912-25.08.1994). Pouco depois, passou para a irmã Augusta Caseiro. Nessa época vendia apenas vinho tinto e aguardente. De Augusta Caseiro a taberna passou para o sobrinho Procópio Fernandes Mano.
Entre 1942 e 1944, Procópio Fernandes Mano, que até aí andava embarcado na pesca do arrasto em Cabo Branco, casou com Maria Regina Martins Mano (22.03.1922-02.01.1981). O casal teve dois filhos, Maria Raquel Martins Mano Pinto, nascida em 13 de Fevereiro e 1946, e Horácio Martins Mano, nascido em 10 de Fevereiro de 1949, na Ericeira.
Horácio Mano fez a quarta classe com doze anos, pois entrou para a escola aos oito. Após terminar a instrução primária foi ajudar o pai na taberna. Aos dezoito anos tirou a cédula marítima e embarcou no navio “Amélia de Melo”, durante dois anos.
Em 1969, assentou praça do RAL1, em Lisboa. Após a recruta e instrução fez uma comissão de serviço na Guerra Colonial em Angola, durante dois anos. Em 1972, regressou de África e voltou ao trabalho na taberna.
Em 1975, casou com Lídia Maria Sardinha dos Santos Mano. Em 1981, Maria Regina faleceu e Maria Raquel ficou com o pai e o irmão na taberna, «a fazer as vezes da mãe». Em 1984, a taberna passou para Horácio Mano.
Horácio fechou o estabelecimento e trespassou o negócio a “Miguel Luís da Custódia”, que ao tempo abriu um restaurante. Fechou a taberna porque estava cansado e saturado, pois não tinha Sábados nem Domingos, trabalhava desde as 7h até as 22h 30m. Durante o dia, a única altura em que saía à rua era às 7h da manhã para ia comprar o pão.
No início, a taberna abria às 4h e 30m para aviar as peixeiras, que depois seguiam para a venda nos arredores.
O vinho de barril era adquirido a adegas particulares nos arredores da Ericeira. No início, na Achada, Sobreiro, Arrebenta, Cheleiros (Carvalhal e Boco) e Sobral da Abelheira. Mais tarde, quando os vinhos das adegas começaram a rarear, passaram a comprar a armazenistas, na Venda do Pinheiro (Carlos) e Ribeira de Pedrulhos (Moleiros). Procópio Mano chegou a engarrafar vinho para alguns clientes.
Procópio tinha um alcoómetro com que determinava o grau alcoólico dos vinhos. Os comerciantes traziam uma amostra de vinho para ser avaliado em garrafas. Maria Raquel provava o vinho, para dar ou não a sua aprovação para a aquisição do mesmo. Chegaram a vender, por dia, dois barris de cem litros.
Horácio ia às adegas provar o vinho e se gostasse fechava o negócio. Acordava uma data para voltar e carregar o vinho para a taberna com o sogro.
Na taberna vendia-se aguardente, vinho tinto, vinho branco, vinho abafado, ginja, “Eduardinho” e o branquinho velho. O último era uma mistura de “Eduardinho” com vinho branco. Vendiam mais da parte da manhã às pessoas que vinham ao mercado à Ericeira. Houve uma altura em que vendiam dois tipos de vinho, um mais barato e outro mais caro.
A taberna para além da fase líquida comercializava também sólidos. As receitas de Maria Regina foram gentilmente cedidas pela filha Maria Raquel, que as confeccionou diariamente durante alguns anos.
Vamos conhecer as célebres pataniscas de bacalhau na primeira pessoa: «As pataniscas eram fritas, numa frigideira negra de ferro, em óleo. O bacalhau demolhado cru era aberto e cortado em quadrados. Passava o bacalhau por farinha sem fermento e ovo (dois ovos) e deitava na frigideira. Para a patanisca ficar baixinha e estaladiça, o segredo estava na fritura. O segredo era pôr o bacalhau envolvido na farinha com uma colher, lentamente na frigideira, esticando a farinha enquanto fritava. A minha mãe fazia as pataniscas com muito carinho.»
Raquel recorda com alguma emoção – «O “Xico Cómico” (Francisco José Baptista Gomes de Oliveira), irmão do João “Pintalim”. Era um grande fã das nossas pataniscas. Quando me encontrava na rua perguntava-me sempre pela receita das pataniscas.» E acrescenta – «A taberna tinha clientes de fora que vinham de propósito para comer as pataniscas».
As pataniscas eram vendidas durante o período da manhã, ao fim-de-semana. Durante o Verão confeccionavam pataniscas todos os dias.
A carne assada em tacho de barro: «A carne confeccionava-se com lombo de porco da parte da pá. Era uma das especialidades da casa, juntamente com as pataniscas. A minha mãe punha alho, louro e sal dentro da carne e massa de colorau, vendida em bisnaga, vinho branco, banha de porco e azeite. Cobria-se a carne com água, muita água. Ficava a apurar até reduzir o molho». Ultimamente, Maria Raquel acrescentava cenoura.
Vendiam ainda bacalhau assado, codornizes fritas e peixe frito (arraia, fanecas, carapaus e sardinhas). Raquel recorda ainda – «O Armando Pina era um grande apreciador das codornizes fritas». Aos Domingos à tarde vendiam pires de dobrada com feijão, que tinha clientes fiéis. «Quando a minha mãe faleceu deixámos de vender a dobrada».
Mais tarde, Horácio passou a vender orelha de porco (cozida, cortada aos pedacinhos, temperada com azeite, vinagre e coentros), queijos frescos e queijo da Ilha.
Os clientes frequentavam a taberna para ouvir telefonia, principalmente as “rádio novelas”.
Era através da telefonia do “Procópio” que, no início dos anos cinquenta, as traineiras de sardinha oriundas de Peniche, nos meses de Verão anunciavam, à noite, a sua chegada à vila. Quando as traineiras aportavam, «o “Ouriço” (João da Luz) ia na chata buscar a sardinha». Os tripulantes das traineiras com o dinheiro da venda das sardinhas chegavam a esgotar certos víveres nas lojas da vila.
Nessa época, a Ericeira foi palco de uma acrescida agitação social, tornando-se uma fervilhante vila cosmopolita. O “Procópio” foi das primeiras tabernas a ter televisão.
Procópio Mano foi empresário marítimo e proprietário de várias lanchas de pesca. Recebia a parte do pescado atribuída ao barco e contratava os arrais, desenvolvendo significativamente a pesca artesanal ericeirense. Manteve a frota pesqueira até 1972.
Em 11 de Outubro de 1945, Procópio Mano adquiriu a lancha “Gracinda” a Sebastião e Eduardo Jorge. Tinha o nº de registo E3C, 1,737T de arqueação bruta, destinava-se à pesca costeira e era movida a vela e remos. Em 11 de Agosto de 1948, vendeu-a a Frederico Henriques Côcô que a denominou “Vanda”. Em Maio de 1950, a lancha foi equipada com um motor da marca “Albin” de 4,7 H.P.
Em 9 de Julho de 1946, comprou a lancha “Maria Raquel” a Álvaro Bernardino. Foi registada com o nº E30L, tinha 1,264T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 30 de Agosto de 1949, foi vendida a Felisberto Pereira da Silva e passou a denominar-se “Maria Augusta”.
Em 30 de Dezembro de 1949, Procópio Mano comprou, a Honestalda da Conceição Gomes, a lancha “Maria Raquel”, antes denominava “Almerinda”, com o nº de registo E88L. Tinha 1,616T de arqueação bruta, movia-se a remos e vela e destinava-se à «pesca local com anzol.» A 18 de Janeiro de 1960, foi abatida por se encontrar em mau estado.
Em 7 de Março de 1949, Procópio Mano registou a lancha “Horácio”, com o nº E151L, que encomendara a João da Luz Pardal, da Assenta. Tinha 2,580T de arqueação bruta, era movida a vela, remos e motor e destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 26 de Abril de 1949, foi equipada com um motor “Albin” de 4,7 H.P., com 73kg de peso e 1.500 r.p.m. Em 6 de Maio de 1960, o motor “Albin” foi substituído por um “Petter” de 12 cavalos. Em 17 de Junho de 1960, foi vendida a Augusto Castela Soares, passou a denominar-se “Raquel Maria” e mantinha o motor “Petter” de 12 H.P.
Em 8 de Junho de 1949, adquiriu a lancha “Horacinho” ao construtor naval da Assenta, João da Luz Pardal. Tinha o nº de registo E153C, 1,960T de arqueação e movia-se a vela e remos. Em Agosto de 1949, foi equipada com um motor “Albin” de 4,7 H.P., com 75kg de peso e 1.500 r.p.m. Em 6 de Junho de 1966, foi vendida a Francisco Matos Ferreira e José Pereira Sampaio, residentes em Alhandra, e estava equipada com um motor “Albin” de 7,5 H.P.
Em 11 de Agosto de 1948, Procópio Mano adquiriu, a Frederico Henriques Côcô, a lancha denominada “Raquel”, com o nº de registo E70L, movida a vela e remos e destinada à «pesca costeira de anzol.» Tinha 1,357T de arqueação bruta. Em 6 de Fevereiro de 1953, foi vendida a João da Luz e passou a denominar-se “Tempestade”.
A lancha “Zélita”, com o nº de registo E168L, pertenceu sucessivamente a Agostinho dos Santos, Sebastião José de Sousa Dinis e Alberto Matos Franco, que a denominou “Zizi”. Em 12 de Setembro de 1950, Alberto de Matos Franco vendeu a “Zizi”, com o nº de registo E168C, a Procópio Mano. Foi construída por José da Luz Pardal. Tinha 2,500T de arqueação e estava equipada com um motor “Buch” de 6 H.P.
Em 12 de Setembro de 1959, a lancha “José Alberto”, anteriormente denominada “Conceição Lucas”, com o nº de registo E154L, foi vendida por Alberto de Matos Franco a Procópio Mano. Tinha 2,880T de arqueação bruta e estava equipada com um motor “Albin” de 9 H.P. Em Abril de 1960, o motor “Albin” foi substituído por um “Petter” de 15 H.P. (ver Taberna do Afonso) Em 30 de Outubro de 1967, Procópio Mano vendeu-a ao pescador jagoz José Álvaro Matos Arvelo.
A taberna era frequentada por todos os estratos sociais. Situava-se no Largo da Fonte dos Golfinhos. Actualmente (2012), é o restaurante snack-bar “O Cantinho da Noémia”.
17 – Taberna do Camarão. João Francisco Calhandro abriu a taberna “Pérola do Mercado” em frente do mercado. O filho Vasco da Luz Calhandro continuou a obra do pai. Em 1942, Visitação da Conceição, filha do “CP” (ver Taberna do Zé de Barros”), casou com Vasco Calhandro. Visitação Calhandro diz-nos com saudade – «Deixei a taberna do meu pai para vir para a do meu marido».
Nesta taberna servia os mesmos petiscos que confecionava na taberna do pai (ver Taberna “Zé de Barros”), a que acrescentou peixinhos da horta, de feijão-verde, e carapauzinhos fritos enfiados no “rasquilho”. «Os carapaus eram limpinhos. Passava-os por farinha de trigo e iam a fritar.» Acrescentou ao espectro líquido que vendia na taberna paterna a nova moda do “traçado” (metade de gasosa e metade de vinho).
A taberna abria às quatro, cinco horas da manhã e fechava à meia-noite, uma hora, «não tinha dia de fechar.» «Fazia a caldeirada num tacho de barro. Se houvesse, punha uma camada de mexilhões no fundo para não pegar, depois uma camada de cebola, batata, muito tomate e muito peixinho (arraia, safio, “pita-roxa”), muito azeite, pouquinho sal, salsa, alhos e louro» Depois de estar apurada é que se ajustava o sal. Servia também a sopa da caldeirada. Aproveitava o caldo e punha uma massinha de cotovelinho a cozer, depois temperava com um bocadinho de vinagre e servia».
Pouco depois de casar, Vasco Calhandro foi trabalhar para os táxis do “Vidinhas”, mais tarde ingressou na Empresa de Viação Gaspar, porque «a taberna não dava para comer. Era fiados!»
A determinada altura, Visitação foi contagiada com tuberculose por um dos clientes. Depois de adoecer nunca mais voltou à taberna. Em Janeiro de 1957, Vasco Calhandro passou a taberna a Maria Cristina de Jesus Bernardo (timoneira da taberna) e a António Pereira Elias, conhecido por “António da Constância”, (pais do “Toly”), que, em 23 de Fevereiro de 1962, a passaram a José dos Santos Camarão. Constância era, obviamente, a mãe de António Pereira Elias, avó do "Toly".
Maria Cristina e o marido emigraram no ano seguinte para a Alemanha. O Camarão esteve ali quarenta e tal anos. Situava-se na Rua dos Ferreiros, em frente ao mercado. Actualmente (2012), chama-se “A Tasquinha”.
18 – Taberna do “Zé da Açúcar”. A taberna foi aberta pelo jagoz José Gomes Salvador (1907-1964) (por alcunha “Zé da Açúcar”) casado com Maria Isabel Brum Valverde (“Mariazinha da Ilhoa”). O estabelecimento era constituído por taberna e mercearia. O vinho era adquirido aos saloios. Os meus avós maternos, Luís Henriques Pereira da Silva (“Luís Faz Vistas”) e Mariana de Jesus Henriques (“Mariana do Leite”), adquiriam o vinho que consumiam em casa nesta taberna. Era frequentada pelos empregados da “Empresa de Viação Mafrense”, pertencente a João Sardinha Dias. A empresa era vulgarmente designada por “Sardinha”. As instalações ericeirenses (garagem e escritório) localizavam-se perto desta taberna, na Rua da Misericórdia. Joaquim Casado (por alcunha “Joaquim da Lúcia”) seu vizinho e comerciante do ramo de mobiliário, afirmou-nos peremptoriamente – «Ele vendia muito vinho tinto. Esteve lá muito tempo, até morrer. Vendia vinho às garrafas. Ia lá sempre comprar o vinho. Ele tinha uma pinga muita boa. Não fazia malandrices no vinho. Não! Não! Tinha vinho muito bom. O que eu bebia. Ele vendia muito vinho.» Situava-se sensivelmente a meio da Rua 5 de Outubro, no lado nascente.
19 – Taberna do Albertino. Albertino era guarda-fiscal. Situava-se no Largo das Ribas, onde até há pouco se vendiam jornais. Hoje, é a “Tasquinha do Joy”. Era adjacente à antiga loja da “Ana do Paulo”.
20 – Taberna do David. David Marques Melo (28.12.1908-31.12.2000) nasceu em S. João de Loure, Aveiro. Com 12 anos, veio para a Ericeira trabalhar numa padaria situada na Lapa da Serra. Mais tarde, chegou a gerente dos estabelecimentos Galrão.
Em 1936, fundou a taberna. À medida que o negócio prosperou abriu uma mercearia, pensão e restaurante. Tinha também uma carvoaria e cocheira na Rua do Paço. Além de vender o “estado líquido”, guardava burros. Em 1984, passou o negócio ao Camarão.
No edifício onde se situa o actual “stand” de automóveis “2M” (2012), David Melo abriu uma indústria de salsicharia. Fabricava, vendia e comercializava os seus produtos para os concelhos de Cascais, de Sintra e de Mafra, possuindo para isso uma frota de duas camionetas Bedford que faziam a respectiva distribuição. Como durante o tempo em que possuiu a actividade de mercearia importara loiça da “Vista Alegre” e da região de Ílhavo, adquirindo conhecimento deste ramo comercial, David Melo abriu no final da década de 1960, uma loja de loiças no Largo do Conde da Ericeira, no nº 17B. A taberna situava-se na Rua da Boavista, logo acima da porta do actual supermercado “Camarão”.
21 – Taberna. A taberna pertenceu a João Calhandro. Mais tarde, foi passada a um sujeito natural da Pedra Amassada que veio abrir o “Baile do Carvoeiro”. Era simultaneamente taberna e “Baile do Carvoeiro”. Situava-se na Rua do Mercado, na última casa de cima, do lado Norte.
22 – Taberna do Aníbal. Aníbal tinha a alcunha “Burro Mole”. Situava-se no local onde é actualmente (2023) a marisqueira “Mar à Vista”.
Um pouco do passado desta taberna com Maria Catarina de Carvalho Franco Alberto Dias, filha de Aníbal Franco Alberto (por alcunha “Burro Mole”) e de Marta Santar. Nasceu na Ericeira a 17 de Maio de 1942. «Quando tinha nove anos morávamos na Rua do Arrabalde, onde se situa o Josué. Nasci na Rua de Baixo. O meu pai trabalhava nas obras. A minha mãe vendia peixe e marisco. A minha mãe pensou abrir um negócio. Os meus pais alugaram a casinha da Nazaré "Barraqueira". Eu tinha nove anos (1951). A casa era muito pequena. Tinha só um quarto, uma casa de jantar e uma casa de banho tão pequena que se fosse hoje eu não caberia lá. O meu pai foi arranjando a casa aos bocados à medida que vinha do trabalho, pôs azulejos, etc. O meu pai abriu a taberna tinha eu nove anos. Na abertura pôs uma tigela grande com tremoços e azeitonas, que nós comemos num instante. Fartou-se de ralhar connosco.
Vendíamos copos de vinho tinto, traçadinhos, aldrabões, esse tipo de bebidas. Eu sabia fazer as bebidas muito bem. Misturava-se um pouco de aguardente com abafadinho. Não havia gasosas. Mais tarde apareceram os pirolitos e depois as gasosas. Tínhamos uns barris de vinho pequenos. O vinho era fornecido umas vezes por um senhor de fora, outras vezes comprávamos ao “Zé do Casal”. Começámos assim. A minha mãe fazia a venda fora, em Lisboa. Vendia mariscos aos restaurantes de Lisboa, “Solmar”, “Amazonas”, no Arco do Cego, “Leão D’Ouro”, “Ramiro”, “Mó”, etc.
O Ramiro queria casar comigo. Não quis casar com ele porque tinha uma casa de meninas. O Ramiro comprava “escrupiêrs” à minha mãe, trazidos pelo meu irmão. Estava sempre a encomendar os “escrupiêrs” à minha mãe. O meu irmão embarcou com 16 anos. Ele justificava que era para uma casa que tinha em Lisboa. Eu vim a descobrir que era para uma casa de meninas. Depois já não quis nada com ele. A minha mãe dizia-me – “Catarina é um bom partido!”
A minha mãe vendia muito marisco (lagostas, santolas e sapateiras; as sapateiras eram das nossas) à “Solmar” que tinha viveiros em Cascais. Chegou a pôr também lá mariscos. Vendíamos para França através do Renet Vidrik, que tinha os viveiros na Rua da Madalena. A “Solmar” quando tinha avaria nos viveiros guardava o marisco nos nossos viveiros, aqui na Ericeira. Tivemos três viveiros por detrás do Hotel de Turismo e um nas Furnas. Um chamava-se “Três”, outro, “É de todos”, porque iam lá roubar-nos marisco. Não me lembro do nome dos outros dois.
Trabalhei muitos anos na cozinha do “Mar à Vista”. Cozíamos as lagostas, santolas e sapateiras, numa panela com água a ferver, num fogão a petróleo. Metíamos dentro o marisco vivo a cozer. O marisco cozia durante 20m. Se fosse pequeno cozia durante quinze minutos. Vendíamos caixas de camarão, com sal por cima, feitas em madeira muito fininha, que vinham da Galiza, por 7$50! Vendíamos só marisco cozido. Não tínhamos outra confeção. Também vendíamos ostras, que vinham de França, porque não havia cá. Tínhamos fregueses franceses que só comiam ostras.
Vendíamos búzios e percebes. Para cozer percebes, deitam-se os percebes numa panela com água fria e sal. Quando a água levanta fervura retiram-se. Estão cozidos. Os meus pais passaram o “Mar à Vista” ao Catorze (alcunha de Joaquim Santos, actual proprietário (2014) há cerca de 40 anos (1982).
Às vezes, fazíamos arroz de marisco por encomenda, para a Amália Rodrigues, para o Eusébio, para o José Águas. O Águas é padrinho do meu filho Mário Jorge. Nesse tempo, vender arroz de marisco, não era vulgar como é agora. Tínhamos pouco pessoal e muito trabalho. Tínhamos duas raparigas que vinham lavar a loiça, a “Ti Santas” do Moleiro (Maria dos Santos Ferreira Versos Brites, mãe do “Chico”, do António e do “Zé” Brites) e a Olinda “Feijoa” (Olinda de Jesus Brites, mãe do Osvaldo Feijão). Eram cunhadas. Depois de regressarem da malhada vinham-nos lavar a loiça. A minha mãe emprestava-lhes dinheiro para comerem, quando não podiam ir à malhada».
23 – Taberna. Pertenceu a António Lobo e Silva, filho de Jaime de O. Lobo e Silva. Depois, a António Valongo. Mais tarde, passou para “António Coxo”, pai do António, proprietário do café “Polo Norte”. Situava-se no lado sul, sensivelmente a meio, do Largo do Conde da Ericeira.
24 – Taberna da Laranjinha. Pertenceu a António Fino. Nesta taberna, os jagozes jogavam à Laranjinha [3]. Situava-se na Rua Prudêncio Franco da Trindade, da parte de cima, onde está o “Capote”. Ver Apêndice.
[3] No ensaio a “Laranjinha, lazer, solidariedade: um ensaio de Antropologia Urbana”, a antropóloga Graça Cordeiro escreve que a laranjinha é “um jogo de pontaria e destreza exclusivamente masculino (...)” e que “A taberna, muitas vezes associada à carvoaria, era o seu espaço preferencial (...)”. A Laranjinha era um jogo tradicional que foi muito popular em Lisboa, na primeira metade do século XX, que se difundiu pelos seus arredores.
25 – Taberna do Caetano. Caetano era sapateiro de profissão. Situava-se na esquina do Largo do Prim, em frente da antiga loja de modas “Sales”. Actualmente é a loja “Dona Toalha” (2012).
26 – Taberna do Severa. Pertenceu a José Severa. Situava-se no local do actual restaurante “Mar da Areia”. Mais tarde passou para a morada onde existiu a pensão “Severa”, na Rua da Fonte do Cabo.
27 – Taberna do Maximino. Maximino era enfermeiro de profissão. Situava-se na esquina sudoeste da Rua da Misericórdia com a Travessa da Esperança, onde está hoje instalado o bar “Tubo” (2021).
28 – Taberna do Lebre. Ainda está em actividade. Situa-se na Rua de Santo António.
29 – Taberna do “Cheira Candeeiros”. Situava-se na Rua da Misericórdia. Fechou em Setembro de 2012.
30 – Taberna do Batalha. Pertenceu ao jagoz Alfredo Batalha (por alcunha “Cagadas”). Antes de se estabelecer como taberneiro, Alfredo Batalha andou muitos anos embarcado na marinha mercante. Enquanto marítimo acrescentou algum pecúlio ao seu salário negociando em “ouro”. Alfredo vendia pechisbeque por ouro em África. Segundo se gabava frequentemente vendia pechisbeque por ouro aos africanos, pois bastava ser amarelo e luzir! Na taberna, para além dos comes e bebes, Alfredo Batalha vendia lotaria. Situava-se na Rua 5 de Outubro, onde está a actual sapataria “Golfinho” pertencente ao João “Pintalim” (2012).
31 – Taberna do “Alberto Ferrador”. O jagoz Alberto da Cruz Miranda (16.03.1909-03.09.1995, por alcunha “Alberto Ferrador”) abriu a taberna denominada “A Tendinha do Ferrador” em 1958-1959.
Alberto Miranda foi ferrador de profissão. Simultaneamente, tratava e curava animais. Abriu a taberna, porque no final dos anos cinquenta a lei impediu os ferradores de passarem as guias para aviar na farmácia as receitas dos medicamentos que prescreviam. Segundo a sua filha, Ana Maria – «Essa foi uma das razões, que o levou a mudar de vida, porque ferrar apenas os animais já não garantia rendimento para o sustento da família».
«O meu pai contava esta história – Uma vez, foi chamado por uma família dos arredores para tratar de uma vaquinha na altura de parir. Chamaram, em simultâneo, o meu pai e o veterinário. Quando o meu pai chegou, já lá estava o veterinário, que tinha acabado de passar uma guia para mandar abater o animal no matadouro. O meu pai virou-se para o Dr. e disse-lhe: “Sr. Dr., se me der licença, eu posso salvar o animal, a mãe e a cria.” O Dr. respondeu-lhe: “Com certeza, pode executar esse trabalho”. Até esteve presente e acompanhou o trabalho de parto. O meu pai acabou por salvar a cria e o animal. A partir daí, o referido veterinário fez queixa do meu pai. Não foi do seu agrado, mas, tinha dado autorização para o meu pai realizar o trabalho».
Na taberna, os clientes podiam optar por passar o tempo, jogando ao chinquilho ou à laranjinha. Na parte traseira, “Alberto Ferrador” fez umas instalações próprias para o jogo da laranjinha. Jogava-se também ao dominó e às damas.
O genro Afonso Duarte afirma a determinada altura – «O meu sogro tinha brio em apresentar o melhor vinho que havia nas redondezas para vender na taberna e, na Ericeira, era afamado o vinho tinto do “Alberto Ferrador”. Corria os arredores todos à procura dos melhores vinhos. Por norma, ia levantar o vinho com o “Zé Rafael”. Mas, o meu sogro era uma pessoa muito esquisita nesse aspecto. Levava umas garrafitas pequenas para recolher umas amostras e mandar analisar o grau de acidez, que o vinho pudesse ter. Levava sempre uma pequena porção de bacalhau para provar o vinho. Os “saloios” não o enganavam. Tinha sempre vinho, do que era bom.»
Alberto Miranda fazia caldeiradas por encomenda, e em casos especiais, preparava canêja para alguns eleitos, que vinham propositadamente de Lisboa, degustar esta preciosa iguaria.
E prossegue – «Um dia, um rapazinho apareceu na taberna com uma garrafa de gasosa meia cheia e disse-lhe – “Oh, Sr. Alberto, o meu pai diz para acabar de encher esta garrafa com vinho”. O meu sogro virou-se para o miúdo e disse-lhe – “Olha, vai lá atrás dizer ao teu pai que nesta casa não se estraga vinho. Não se mistura vinho com gasosa, nem com água. Se quiseres meio litro de vinho, trás uma garrafa, que eu vendo-te o vinho. Misturar, eu não misturo”, afirmava ele convicto. “Eu não tenho por hábito fazer tal coisa. O vinho não se estraga”.» Vendia também “Laranjina C”, pirolitos e gasosas da “Ericeirense”.
Ana Maria continua – «Entretanto, e após a venda por parte da Família Carmo, proprietária do espaço onde se situava a “A Tendinha do Ferrador”, para a construção do edifício dos Correios, o meu pai e o “Zé Pedro” foram obrigados a sair, que presumo, tenha ocorrido no início dos anos setenta do século passado. Nessa altura, o meu pai mudou a “Tendinha” para a casa onde residia com a minha mãe, Mariana Nazaré da Mata Miranda, (24.06.1910 -16.08.2002), sita na Rua Alípio Franco Leitão. Era uma casa relativamente pequena, não muito distante da localização inicial da taberna. No seu interior, dispunha de um quintal que foi convertido em adega. Era aí que o Dr. Peralta (médico na Ericeira e emérito “Bon Vivant”) e os amigos iam almoçar as caldeiradas feitas pelo meu pai».
Afonso Duarte acrescenta – «O meu sogro fazia as caldeiradas com todo o preceito. Lavava o peixe, só com água do mar, que ia buscar à praia em garrafões. Só recolhia a água do mar, quando as águas estivessem clarinhas. Forrava o fundo do tacho com navalhas. As suas caldeiradas eram muito conhecidas e extremamente apreciadas».
Após a construção do terminal de camionagem no Largo do Conde da Ericeira, “A Tendinha do Ferrador” era o local de eleição frequentado pelos motoristas e cobradores das empresas de camionagem que serviam a Ericeira na época – a “Gaspar” (“Empresa de Viação Gaspar”) e a Mafrense (“Empresa de Viação de João Sardinha Dias”). Aí contavam-se histórias e sabiam-se as notícias da terra ou do concelho, no intervalo entre as chegadas e as partidas das camionetas de carreira até 1977, ano em que o “Tio Alberto”, como carinhosamente era tratado pelos amigos, encerrou “A Tendinha do Ferrador” na sequência da doença que o apoquentou.
A taberna localizou-se inicialmente no quarteirão dos actuais Correios, a Norte do mesmo, no Largo do Conde da Ericeira, ao lado da oficina do “Zé Pedro” (José Pedro Gomes Ferreira). Mais tarde, passou para a Rua Alípio Franco Leitão nº 28.
32 – Taberna do “Manuel da Praça”. Situava-se no local onde está hoje o fotógrafo, no Largo do Conde da Ericeira. Tinha restaurante e guardava burros.
33 – Taberna do “Gregório Sapateiro”. Depois, passou a designar-se “Taberna da Gabina”, nome da proprietária Olinda Gabina. Situava-se na Rua Gonçalves Crespo onde está hoje o restaurante pertencente a Joaquim Laureano, chamado “Adega” (2012).
34 – Taberna do “Parreirinha”. O jagoz Sebastião Alberto Parreira (01.08.1916-17.05.1988, por alcunha “Parreirinha” ou “Tião”) era filho de Joaquim Parreira (“Parreira Velho”), que explorou igualmente uma taberna no Largo das Ribas, conhecida como “Cova Funda”, cuja porta dava para o Largo das Ribas, localizada numa casa em que se situa o edifício de esquina, no início da Rua Capitão João Lopes, vizinho do Restaurante Gaivota, hoje Restaurante “Mar de Latas” (2021). Joaquim Parreira andou embarcado na marinha mercante durante vários anos.
Entre 1944 e 1951, Sebastião Parreira explorou um bar de praia e uma vasta frota de embarcações, durante os meses de Verão, na Foz do Lizandro. Desembarcava no início do Verão e voltava ao mar no fim da época balnear.
Em 1952, tomou de trespasse a “Taberna do Gafanhoto”, também conhecida por “Taberna do Ildefonso”, que passou a denominar-se “Parreirinha” tendo aí permanecido até 1957-58, altura em que fechou a taberna para abrir uma nova taberna com a mesma denominação, agora também restaurante, no prédio que pertencia aos pais da sua esposa Maria Cecília Casado Parreira (22.11.1917-04.03.2014), onde se situa o actual restaurante “A Parreirinha” (2014).
A mudança de instalações, fruto da necessidade de aumentar a área de exploração comercial, foi precedida de um típico episódio de puro e duro caciquismo local, infelizmente, ainda hoje vigente em muitas regiões do país.
A área onde hoje se encontra o prédio que engloba a casa de congelados na Rua da Conceição, contíguo ao restaurante “Gafanhoto”, era, nos anos cinquenta, um quintal.
Sebastião Parreira negociou com o proprietário a compra do terreno com o objectivo de aí vir a construir um restaurante, prolongamento natural da taberna, tendo para isso dado um sinal ao seu proprietário. Quando diligenciou junto da Câmara de Mafra qual era o tipo de construção que poderia edificar, foi confrontado com o facto insólito de a Câmara ter decidido autorizar Raul Duarte Gomes, proprietário do Hotel de Turismo da Ericeira e da “Pensão Gomes”, a edificar um edifício de raiz, geminado com a “Pensão Gomes”, em plena via pública, daí resultando que o quintal previamente negociado iria ser objecto de expropriação para alargamento da via pública. Hoje, esta pequena artéria que contorna o edifício do restaurante “Gafanhoto” acaba frente a esse prédio, construído no seu natural prolongamento, sendo por isso obrigatório contornar o mesmo para o beco que vai dar à Rua Mendes Leal. O quintal acabou por não ser expropriado.
O filho de Sebastião Parreira, Joaquim Parreira, revela-nos – «Quando o meu pai confrontou o arquitecto da Câmara de Mafra com tal aberração urbanística até então desconhecida, que o iria obrigar a perder o sinal dado, este respondeu-lhe, com todo o desplante – “O plano director da Ericeira trago-o eu no bolso. Com uma borracha apago e com um lápis altero!” Foi a frase que o meu pai nunca esqueceu».
Na primitiva taberna, tal como na que lhe sucedeu, o vinho aviado aos clientes era comprado em adegas particulares habitualmente das regiões do Boco, Carvalhal e Aveiras de Cima. Por norma, Sebastião Parreira adquiria os vinhos juntamente com “Zé de Barros”.
Na taberna vendia-se, de acordo com o gosto do cliente, vinho tinto, vinho branco, “abafadinho”, aguardente, “Mosca” (aguardente moscatel da José Maria da Fonseca), genebra, ginja (com elas e sem elas), cortados, “traçadinhos”, “Eduardinho” e “amarguinha” (licor de amêndoa amarga), pirolitos e refrigerantes “Ericeirense” e “Laranjina C”, distribuídos pela Família Caré. Pouca cerveja se vendia. O vinho era servido ao cliente em «copos de dois ou de três».
Uma grande parte do vinho era vendida em garrafas individuais ao litro para consumo doméstico. Os quatro barris da taberna encontravam-se alinhados e pousados em dormentes. Vendia-se cerca de um barril de cem litros de vinho tinto, a cada dois dias.
Para acompanhar o “copo” vendiam-se muitos pires de fava frita em comparação com o reduzido número de pires de tremoços. Serviam-se também queijinhos frescos ou secos (os que não eram vendidos no dia, eram secos em tabuinhas de madeira e vendidos posteriormente mirrados e enfezados, mas cheiinhos de sabor), navalheiras cozidas, pastéis de bacalhau, ovos cozidos e, a pedido, “punhetas de bacalhau”, travessas de mexilhão e sangria (feita com limão, laranja, groselha, vinho tinto, gasosa e açúcar, aromatizada com uma folhinha de hortelã e um pau de canela).
A taberna primitiva já tinha uma sala interior e um terraço, onde se refugiavam os clientes que não queriam estar ao balcão ou pretendiam petiscos mais elaborados. Aos Domingos à tarde, após os jogos de futebol do “Ericeira” (“G.D.U.E.”), não havia mãos a medir. A taberna era frequentada habitualmente por todo o tipo de clientes.
A “Taberna do Ildefonso” situava-se no local onde hoje se encontra o restaurante “Gafanhoto” na Rua da Conceição.
35 – Taberna do Dário. Pertenceu a Dário Baptista da Silva, que, além de taberneiro, foi comerciante de lagostas e proprietário da embarcação “Santa Rosa”. Em 22 de Junho de 1944, Dário Silva registou, com o nº E153F, a embarcação denominada “Santa Rosa”, construída por Policarpo Vicente Isaac, no mesmo ano. Tinha 0,642T de arqueação bruta e destinava-se à pesca costeira. Em 12 de Junho de 1954 vendeu-a a João Pelaira, residente em Olhão, que a registou com o nome “Maria Georgina”.
Situava-se na esquina sueste do cruzamento da Rua do Caldeira com a Travessa do Jogo da Bola.
36 – Taberna do “Jaime da Margarida”. Um pouco de história da taberna de acordo com António Augusto Arruda – «O Jaime da Margarida era meu tio. Foi pescador. Andou muito tempo na pesca do arrasto. Teve também aqui uma embarcação. O meu padrinho, o Augusto Cosme era o dono dessa taberna, quis passar o negócio para o nome do meu pai antes de morrer, mas o meu pai não era comerciante. Era analfabeto. Não quis.
O Jaime da Margarida aproveitou-se e fez muito bem. Teve uma vida boa. Era das melhores tabernas da Ericeira. Vendia vinho tinto, algum branco e ginjinha. O principal era vinho. Lá havia um ou outro que pedia ginjinha ou aguardente. Vendia navalheiras, que a malta apanhava e ele revendia. No Verão, vendia queijos frescos que às vezes comprava à minha mãe. A maior parte do negócio era a venda de vinho. Naquela altura, a malta aviava-se ali. Iam buscar vinho para casa. Vendia também vinho aos copos. Havia a “Pensão Cosme” que era da minha madrinha, com os quartos por cima. O Augusto Cosme era natural da Carvoeira, como a minha madrinha, a minha mãe e as minhas tias. Uma delas era mãe do Fernando Pinta. Eram todos da Carvoeira. Vieram para cá muito novinhos. O Augusto Cosme veio para a Ericeira trabalhar para o Burnay. Dizia-me que tinha plantado as palmeiras. Havia muitas palmeiras e árvores. Foi ele que fez o jardim do Burnay. Com as coroas que foi ganhando no Burnay abriu a taberna. Depois ganhou mais umas coroas e comprou o prédio. Comprou mais prédios, que depois eu herdei, mais o meu primo Pintassilgo. Mais tarde, o prédio da pensão foi comprado pela Marta, do “Mar à Vista”».
Situava-se na Rua Eduardo Burnay, na esquina do restaurante “Pinta”, onde hoje existe uma loja de acessórios de moda (2012).
37 – Taberna do “Rei do Sebo”. Era taberna, de um lado, e “Baile do Americano”, do outro. Tinha a bandeira americana à porta. Chamou-se “Baile do Americano” por que Carlos da Luz Luís, primo de “António Honorato”, naufragou num barco americano, durante a Segunda Grande Guerra nos mares da Gronelândia. De acordo com “António Honorato” – «No naufrágio salvaram-se uns quantos tripulantes numa baleeira. “Carlos Americano” foi o único que foi encontrado com vida. Durante o naufrágio, o frio gelou-lhe os pés e as mãos. Salvou-se porque durante a noite bebia um pouco de whisky que havia na baleeira. Foi salvo por um barco russo.
Na Rússia, onde foi socorrido, amputaram-lhe os pés e as mãos, tendo-lhe sido posto duas próteses – uma luva, numa das mãos, e um gancho, na outra. Havia ali uma jogada qualquer.» Tinha próteses nas mãos e nos pés. O barco provavelmente transportava armamento para a Rússia. «O Carlos recebia uma reforma choruda da América. Gastava mais do que ganhava, quando a reforma acabou chegou a pedir ao pé da Calçada da Baleia, junto ao prédio do “Pinta”. Um dia, alguém foi ao consulado contar a história do americano e passado pouco tempo o consulado deu-lhe uma reforma vitalícia e uma maquia considerável que entregou à mãe.» Com o dinheiro, Carlos Luís organizava bailes com música de gira-discos e de acordeão, tocado por Fernando Silva.
Situava-se nos Murtórios na Rua do Arvoredo, lado sul, a seguir à Travessa da Fonte do Cabo.
Nota: Texto baseado em informações orais fornecidas por – António Caré, Santos da Costa Gaspar, Júlio Lopes, Isidoro Pereira (“Carapau”), Madalena Ruivo da Conceição, José Joaquim Casado Parreira, Victor Afonso Pereira Lucas, Januário Pereira Lucas, Maria Raquel Martins Mano, Horácio Martins Mano, Silvério Fontão Marques Melo, António Luís Jorge (“António Honorato”), Josué Henriques, Visitação da Conceição Calhandro, Francisco Fernandes, Amália de Jesus Henriques, Maria Isabel dos Santos Miranda Gomes, Beatriz Domingos Gregório Gomes Salvador (“Tixa”), Joaquim Casado, Ana Maria da Mata Miranda Duarte, Afonso Gomes Duarte, José do Carmo Serra, José Pedro Gomes Ferreira, João Mano Silva (“Tinhocas”), José dos Santos Caré Júnior, António Augusto Arruda, Sofia Esteves Pereira Fontão, José Álvaro Matos Arvelo (“Tuta”), António José Neves, António Bernardo Elias (“Toly”), Maria Catarina de Carvalho Franco Alberto Dias, José Manuel Feijão.
Apêndice
As regras da Laranjinha
O campo de jogo é um rectângulo aberto no chão, com um pavimento de terra batida, coberta com uma mistura de areia e caliça, ladeado por tabelas em madeira, sendo normalmente de cortiça as dos topos (cabeceiras). As tabelas laterais possuem, fixadas sensivelmente a meio, duas peças metálicas a que se dá o nome de “garrafinha” ou “polícia”, que desempenham um papel especial no desenrolar do jogo. Para jogar são precisas seis bolas grandes, de madeira maciça ou de fibra, e uma mais pequena – mais ao menos semelhante às bolas de matraquilhos –, que é chamada de “laranjinha”.
O objectivo é acertar com as bolas maiores na “laranjinha”, acumulando tentos. As equipas, “Caixas”, são em regra constituídas por três elementos, cada um com a bola maior respectiva e com posições relativas no acto de lançamento. O jogo obedece às seguintes regras:
1 – A “laranjinha” é colocada ao meio, num orifício que tem a pedra, na cabeceira junto à cortiça.
2 – Para dar início ao encontro e saber qual a “Caixa” que o começa, recorre-se a sorteio por moeda ao ar.
3 – As bolas serão sempre jogadas pela tabela mais larga (é considerada tabela mais larga a que está mais distante da “laranjinha”). Não será válida a bola que for jogada pela tabela contrária, sendo retirada a bola do recinto.
4 – Se, ao lançar a bola, o jogador pisar o traço de marcação do local destinado a fazer a jogada ou, depois de a efectuar, colocar a mão na tabela ou encostar o pé à cortiça, a jogada não tem validade, sendo a bola retirada do recinto. O jogador pode, sim, pisar o traço que divide ao meio o local de jogar.
5 – A “laranjinha”, ao ser lançada pelo jogador da mão, tem que bater em qualquer das tabelas dos lados e, na tabela da cabeceira (cortiça), não pode ser lançada mais do que três vezes e, caso isso aconteça, o jogador que a lançar, perderá o direito de jogar primeiro em favor do adversário.
6 – O jogador não poderá jogar enquanto qualquer bola ou a “laranjinha” esteja em andamento. Caso contrário, perde o resultado que faça nessa jogada e retira a bola do recinto.
7 – Qualquer bola que seja levantada antes de todos os jogadores jogarem, não pode voltar ao local em que estava.
8 – A bola que, ao ser jogada, bata na cantoneira ou na garrafinha (ou “polícia”) ou bata nas duas tabelas antes da garrafinha (ou “polícia”), perde o direito à jogada e a bola é retirada do recinto.
9 – Caso a “laranjinha”, ao ser lançada pelo jogador da mão, bata no “polícia”, o lance deverá ser repetido. Perderá o direito ao lançamento, em favor do adversário, se o repetir 3 vezes.
10 – Não marca tentos, qualquer bola que bata na Laranjinha depois de ter batido na cortiça (cabeceira).
11 – Quando a “laranjinha” sair do jogo ou bater na cantoneira, a mesma será colocada ao meio, junto à cortiça.
12 – Após o lançamento da “laranjinha” ser feito pelo parceiro da mão, não é permitido a qualquer outro jogador entrar dentro do recinto do jogo, enquanto não chegar a sua vez de jogar.
13 – Ganha cada jogo a caixa que primeiro faça 31 tentos. Cada bola que bata na “laranjinha” vale 5 tentos. No fim de cada jogada, à bola que ficar mais próxima da “laranjinha”, é-lhe atribuído um tento e o direito de ser o primeiro a jogar.
14 – Será considerada vencedora, a caixa que ganhar maior número de jogos, no período marcado para o encontro.
15 – Será atribuída a derrota à caixa que, por qualquer motivo, abandone o encontro antes da hora terminar.
Retirado de http://www.sociedademusical.com acedido em 25.10.2012.
As regras da malha e do chinquilho.
Jogo do Chinquilho
O jogo do chinquilho consiste no arremesso de uma malha de forma a derrubar um pino, que se encontra a cerca de dezoito metros de distância. Cada derrube do pino vale dois pontos, quem conseguir ter a malha mais próxima do pino obtém um ponto. O jogo termina aos vinte e quatro pontos. No entanto, durante o jogo, os participantes com menos pontuação podem impôr regras, designadamente a mudança de jogo chamado “à sinca”, em que o jogador pontua sem que a malha passe a linha de colocação do pino, bem como mandar a malha por baixo da perna.
Jogo da Malha
A Malha deve jogar-se à distância oficial de vinte e cinco metros, as equipas são sorteadas quinze minutos antes do início do jogo e começa o jogo a equipa que tiver sido seleccionada em primeiro lugar. As equipas mudam de campo sempre que se iniciar uma nova partida. As, segunda e terceira, partidas são começadas pela equipa que perdeu a anterior. Cada jogo termina quando são completadas três partidas. A pontuação distribui-se da seguinte forma: são contados seis pontos para cada derrube de pinoco; após quatro lançamentos, contam-se três pontos para a equipa que tiver a malha mais próxima do pinoco; de cada vez que se vencer uma partida contam-se três pontos.
Retirado de http://aldeiadeeiras.blogspot.pt/, acedido em 07.11.2012.
Ericeira, Dezembro de 2021, Francisco Esteves
António Inácio

Fig. 1 António Inácio, na Ericeira, em 2012
António Inácio [alcunha “Rodeia”] nasceu a 20 de Fevereiro de 1932, na Ericeira. É filho de Filipe António Inácio [alcunha “Galdera”] (06.03.1909-06.09.1977), pescador, e de Emília Franco Alberto [alcunha Emília “Galdera”] (19.12.1909-1995), doméstica, ambos naturais da Ericeira.
Os pais tiveram onze filhos, tendo chegado nove à idade adulta – Maria Cristina Franco Alberto (21.02.1929-13.03.2014), Manuela Alberto António [alcunha “Manã”] (13.04.34), Maria Susete Franco Alberto (15.03.1938), Francisco Eurico Franco Alberto [alcunha “Xico Porras”] (18.05.1942), Aida Franco Alberto (18.02.1949. Foi registada a 20.02.1949, data que consta no Cartão do Cidadão!), Antónia Franco Alberto, Maria Laurinda Franco Alberto e Ana Franco Alberto.
António Inácio, aos onze anos, frequentou a quarta classe na Ericeira com os professores Bagulho e Carvalhão. «Fui fazer o exame a Mafra e apanhei uma raposa!» Após a instrução primária, foi trabalhar com o pai, para a Praia da Ribeira, nas chatas e nas traineiras.
As artes de pesca utilizadas ao tempo eram – covos, aparelhos de fundo e redes de emalhar para capturar sardinhas. O aparelho era iscado com sardinha e carapau, «daquele pequenino. Apanhava-se tudo – raias, safios, pregados, ruivos, etc.».
Em 1949/50, frequentou a Escola Profissional de Pesca, em Pedrouços, durante cerca de dois, três meses. Em Maio de 1949, quando foi fazer a inscrição na escola, havia muitos candidatos. Na altura estava só um médico a inspeccionar e, como não via de uma vista, fez uma aldrabice, «para falar a verdade é assim, fiz uma malandrice.» Abriu uma greta entre os dedos da mão que tapava o olho que via bem, pôde assim ver o alvo e passar no teste, como se visse bem dos dois olhos. «Como havia muito pessoal fiquei em lista de espera para Setembro».
Em Setembro, foi chamado, voltou à inspecção na escola e como era feita por um médico e um enfermeiro, que lhe tapou a vista, já não pôde fazer a aldrabice e disse que não via do olho [direito]. Após a inspecção disseram-lhe que tinha de usar óculos.
Na escola de pesca «aprendeu tudo, conhecimentos de pesca, a trabalhar com a rede de arrasto, a navegar com agulha e a conhecer todos os apetrechos do barco».
De volta, já na Ericeira, solicitou a cédula marítima ao delegado marítimo, comandante Santa Rosa, que lhe disse que para poder obtê-la teria de ir a Mafra pedir uma certidão de nascimento. Com a certidão na mão, em 12 de Setembro de 1949, Santa Rosa passou-lhe a cédula marítima, tendo-lhe feito a inscrição a 12 do mês anterior com o nº 1.360.
Em 27 de Março de 1950, embarcou para a pesca do bacalhau na Terra Nova no “Capitão Ferreira” [1], como moço de câmara.
Aquando do embarque, a mãe recebeu 5.500$00 escudos. Com parte do dinheiro comprou o enxoval na Marinha, em Alcântara. Durante a semana em que o navio esteve a meter água no cais do Ginjal, antes de partir para a Terra Nova, recebeu 300$00.
A equipagem era constituída por setenta e seis pescadores, oito ou nove moços, comandante, imediato, pilotos (primeiro e segundo), um cozinheiro e dois ajudantes.
Na primeira vez que o “Capitão Ferreira” aportou a St. John’s estiveram atracados ao cais dezassete dias. Durante a estadia, a tripulação retirou gelo do convés com picaretas e no tempo livre frequentava os bares à procura de miúdas. Via televisão, ouvia música e jogava à bola. O dinheiro era pouco, cada dólar valia 27$50.
A bordo, as tarefas dos moços incluíam praticamente tudo – baldear sal de um hino [2] para outro, arrear e baixar os botes, em caso de necessidade, ajudar a descarregar o bacalhau dos botes, ajudar na escala. Ao moço camareiro competia ainda levar a alimentação aos oficiais, que comiam numa mesa à parte, comida igual à da tripulação.
Quando havia bom tempo, António chegou a pedir ao imediato para ir pescar num dos botes suplentes.
A companha levantava-se às quatro horas ao som dos louvados – «Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo» –, cantados pelo vigia. Logo depois, iam comer pão, manteiga em lata, peixe frito (bacalhau, alabote) e bebiam chá ou café. Os alimentos estavam sempre à disposição em cima de uma mesa. «Nunca faltou comer a bordo daquele navio.» Em seguida, o imediato ou o piloto ia ao frigorífico contar as sardinhas que iriam ser distribuídas como isco a cada pescador. Cada um recebia cerca de uma dúzia de sardinhas. «O isco tinha que render!» Depois, os pescadores iscavam o ‘trole’. A sardinha congelada para isco era adquirida em St. John’s. O isco distribuído a cada pescador era insuficiente, pelo que os pescadores utilizavam isco retirado das barrigas dos bacalhaus capturados (sendilho ou capelim e mexilhão), isto no Mar de Rocks, na Terra Nova.
A linha ou ‘trole’ utilizada na pesca do bacalhau tinha cinquenta anzóis distanciados de uma braça e um bocadinho, para os anzóis não baterem um no outro. Os estralhos tinham meia braça de comprimento. «Os pescadores mais batidos usavam doze, treze linhas, os mais fraquitos sete, oito.» As linhas eram acondicionadas em ceiras de vime. Durante a pesca, as linhas eram lançadas em sequência, umas atadas às outras. Pescavam com avental, casaco e chapéu de oleado. Usavam luvas de lã e nepas [3].
Os pescadores levavam para a pesca o foquim [4] com café ou chá, comida, tabaco, o que se quisesse.
Para dentro do navio só entravam bacalhaus. Eventualmente, os pescadores podiam trazer uma raia ou um alabote para ser confeccionado pelo cozinheiro.
Se estivesse bom tempo, o navio içava a bandeira cerca das dezassete horas para indicar o fim da pescaria e o consequente regresso dos botes. Os pescadores iam almoçar depois de descarregarem os bacalhaus para os quêtes [5] com garfos e içarem os botes. Quando havia temporal, o navio chamava os botes mais cedo. Se estivesse nevoeiro dava umas apitadelas. O navio colocava-se sempre por Sotavento para socorrer os botes durante a descarga.
Ao almoço era servido peixe frito, bacalhau cozido com batatas ou carne salgada em barrica, da Argentina. Algumas vezes, juntavam-se dois ou três camaradas e pediam ao cozinheiro para fazer um arroz dos corações de bacalhau, que tinham sido aproveitados da escala. Após o almoço, a tripulação procedia à escala e salga do peixe.
Na escala, o troteiro batia com a cabeça do bacalhau na banca, caindo esta para o chão. O moço aproveitava as cabeças ou as línguas conforme as ordens que tivesse, se os bacalhaus fossem grandes, aproveitava a cara, se fossem pequenos aproveitava só as línguas. Sabia que os fígados eram aproveitados para fazer óleo, contudo no navio onde andou não se aproveitavam os fígados. Durante a escala, a companhia «dava um copinho de aguardente a cada camarada».
Depois da escala, os pescadores iam lavar-se, com o que havia, pois, a água salgada era muito gelada. «À noite, após o fim da escala era servida a chora, uma espécie de canja branca feita com as caras dos bacalhaus cozidas e com uns baguinhos de massa ou de arroz, para ficar leve.» A sopa tinha apenas a gordura do peixe. Bebiam chá ou café e quem quisesse podia comer dos alimentos que estavam à disposição da tripulação na mesa e sempre à descrição. A companhia não dava vinho. Cada qual levava o vinho que queria em barris que se encontravam depositados e amarrados à proa do navio. O vinho era retirado de dentro dos barris para dentro de um garrafão, através de uma mangueira.
Nesse ano, o “Capitão Ferreira” regressou a Lisboa a 9 de Outubro.
Em 6 de Abril de 1951, António Inácio voltou a sair para a sua segunda e última viagem ao bacalhau no “Capitão Ferreira”, como moço camareiro. Regressou a Lisboa a 26 de Setembro de 1951. O salário recebido foi rigorosamente igual ao que obtivera no ano anterior. «No Natal e durante três anos, a companhia mandou para minha casa dois bacalhaus».
Em 1951, António decidiu deixar a pesca do bacalhau porque passava muito frio naquela vida. Resolveu ir para «o arrasto em Cabo Branco».
A inscrição para embarcar para a pesca do arrasto em Cabo Branco era feita, em Lisboa, na Rua das Trinas, a S. Bento. Enquanto estavam à espera de arranjar trabalho iam à Rua das Trinas, todos os dias, ver se havia ou não vaga para embarcar. Diariamente, às dez horas da manhã, o representante dos armadores, que se chamava Cabral, anunciava e distribuía as vagas disponíveis pelos candidatos. Alguns dos homens inscritos não aceitavam as vagas atribuídas porque o navio não prestava. Depois de obter trabalho e antes de embarcar, António Inácio ficava em Lisboa com a mulher na Rua de S. Paulo nos nºs 13 e 152, às vezes, em casa do “Xico Russo”, na Bica. A grande maioria do pessoal do arrasto era natural da Ericeira, «praticamente, o pessoal era da Ericeira, havia de todo o lado, nazarenos, poveiros, algarvios, gente da Figueira da Foz, diziam todos que eram da Figueira, mas não eram, eram de todo o lado. O único penicheiro com que andei foi o mestre de redes chamado Armindo».
Em relação ao salário, «a companhia é que sabia o que deveriam receber, só recebia o dinheiro», nunca soube como lhe era atribuído o salário. Nos primeiros três anos, ia receber o salário à escola de pesca, pois embarcara como aluno da referida escola, tendo-lhe sido descontado dez por cento do salário para pagar a instrução que aí recebera.
A campanha de pesca durava cerca de duas semanas, de Lisboa a Lisboa. «Eram cinco, seis dias de viagem, três dias sempre a pescar e cinco, seis dias na volta». Mais tarde, a campanha passou a durar 21, 22 dias.
A companha não podia trazer peixe para casa. Ao tempo, a lagosta capturada nas redes não era aproveitada, pois não tinha valor comercial. Algumas vezes, a tripulação trazia lagostas à socapa. Fazia conservas das côas de lagosta em vinagre, com cebola, cenoura, pimento, «tudo o que quisesse misturar.» As côas levavam um escaldão para tirar a casca, escalavam-se e metiam-se dentro do frasco. As conservas eram «comidas em petisco nas tabernas da Ericeira, por aqui e por ali, em companhia».
Quando começou «o peixe em Cabo Branco estava como a areia ali na praia. Ui! Ui! Ui!» Os arrastões pescavam tudo, pescadas, lagostas, etc. Os navios não davam vazão a tanta quantidade de peixe.
António Inácio andou no arrasto com vários mestres. Da Ericeira, andou com Narciso Neto Espada, pai do “Papum” [António Florêncio Baptista Neto], várias vezes, e também «com um algarvio, que morava aqui, o “Manel das Redes” [Manuel Alberto Júnior]. Andei lá sempre com bastante peixe, muito, muito, não havia aqui, havia ali. Chegámos a ir ao “Mar da Palmeira”. O “Mar da Palmeira” é dezassete de latitude e trinta de longitude. Íamos arrastar até ao pé de Dakar, que está a ponto treze, a Norte. Íamos até ao Cabo Juby [fronteira Sul de Marrocos], vinte e cinco de latitude, para Sul, até ao Rio de Ouro, Villa Cisneros [Saara Ocidental], La Guera. Port Étienne, que agora é Nouadhibou, Nouakchott, ao Sul de Cabo Branco. O farol está a dezoito de latitude e dez de longitude. As populações de Villa Cisneros para baixo eram todas negras.
«O arrasto é todo igual, a mercadoria é que é diferente. Há redes para um certo fim e há redes para outro fim. No início, as redes eram todas inglesas, não havia redes bacalhoeiras.» A rede tinha onze peças de rede.
«A rede inglesa trabalha com arraçal em arame de aço forrado com umas borrachas para evitar o desgaste do mesmo e fazer de rolete. A rede bacalhoeira trabalha com roletes – há dois sentidos [dois tipos], com roletes de madeira, forrados a chapa de ferro, para não estragar a madeira, ou com esferas de ferro.» As redes bacalhoeiras foram introduzidas mais tarde, primeiro, com roletes e depois, com esferas.
Solicitei a António Inácio que descrevesse a rede de arrasto. Eis a resposta pronta – «Uma rede tem a asa de baixo; ora para fazer uma asa de baixo têm que ser duas. Tem a asa de cima, têm que ser duas, no total são quatro. Tem a barriga, que tem duas faces; são seis. Tem o quadrado. Tem o saco. Tem a boca e tem a língua. Quando são feitas de início, qualquer rede de arrasto, todos os tipos de rede, têm onze panos. Como agora os navios não param de arrastar para pôr a rede dentro, estão sempre a andar, a rede vem sempre fechada, a língua já não faz falta, porque o navio está sempre a fazer força, a língua só faz falta quando a rede pára, que é para o peixe não poder sair dali.»
A rede era armada durante a viagem. Durante a manobra das redes, os pescadores usavam botas altas de borracha, avental e casaco de oleado se fizesse mau tempo.
«Quando havia muitos navios a trabalhar, a maior percentagem descarregava o peixe em Santos. Os navios chegavam a descarregar, diariamente, no mínimo 150T de peixe.
No dia seguinte, chegava o veterinário, a quantidade era muita, dizia – Está estragado, é para a tulha. O peixe estragado ia numa fragata para o Barreiro, para o outro lado, para fazer farinha.
Em algumas viagens, não em todas, iam para a tulha 20, 30, 40T de peixe, dependia da qualidade do peixe e da fartura.» A companha não recebia qualquer percentagem referente ao peixe estragado.
António Inácio andou na pesca do arrasto em Cabo Branco entre 4 de Dezembro de 1951 e 26 de Novembro de 1971. Primeiro embarcou, no “Almancil” como moço (04.12.1951-03.11.1953).
Em 1953, deu conta que «trabalhava como um homem, mas ganhava só a metade» pelo que resolveu tirar a carta de marinheiro. Em Novembro desse ano, regressou à escola de pesca «durante um mês e tal. Pouco tempo.» Em 31 de Dezembro, passou no exame para marinheiro pescador.
No mesmo ano (1953), aos 21 anos, casou com Maria Filomena Alberto Franco (16.01.1935-01.06.2018) de quem teve oito filhos – Filipe Arvelo Franco Inácio (03.03.1954-07.06.2020), Emília da Conceição Arvelo Franco, António Inácio Arvelo Franco, António Vicente Franco Inácio («Está na América»), Beatriz Franco Inácio (falecida), José Albino Franco Inácio (falecido), Lídia Franco Inácio e Elvino Franco.
António Inácio andou no “Alcôa”, propriedade da “Companhia Portuguesa de Pesca”, como marinheiro pescador (05.02.1954-09.05.1956). «Andei no “Alcôa” um bocado de tempo, não sei quanto tempo, não me recorda. Depois comecei a pensar na vida, a pensar que podia melhorar a vida. O contramestre levou-me para ajudante no porão, para tratar do peixe.
No porão do navio punha-se uma camada de gelo sobre o peixe de acordo com a qualidade do peixe. Às pescadas grandes, de dez, doze quilos, abria-se a barriga – o peixe grande era todo aberto, para a água não ficar lá dentro» e tiravam-lhes as tripas. Aproveitavam as ovas à parte. «As pescadas pequenas eram arrumadas direitinhas e depois metia-se gelo para cima com a pá, até tapá-las». O gelo era carregado na fábrica, em Lisboa, entrando já triturado. Era batido e picado a bordo com uma picareta e espalhado com uma pá.
A arrumação do peixe do porão processava-se do seguinte modo: Começavam por colocar «uma camada de tábuas, e depois, gelo para cima, uma camada grossa (duas pás de gelo), para aguentar» a viagem. As tábuas no fundo permitiam escoar a água à medida que o gelo se derretia, «depois peixe e depois gelo e depois peixe e depois peixe», assim sucessivamente. Se o peixe fosse muito, entrava mais rapidamente para bordo, enchia-se o porão mais depressa, a viagem tornava-se mais curta, nesse caso, em lugar de levar duas pás de gelo levava só uma. O paiol tinha umas «travessas para assentar a madeira e fechar a gaveta. Cada gaveta levava umas quinze a vinte canastas de peixe, não levava mais. Cada paiol tinha cinco gavetas até ao tecto». Depois, seguia-se o mesmo processo. O tabuado «ficava assente em cima de ripas, não ficava assente sobre o peixe. O peixe couro, peixe rijo, raias, canêjas, miotos, todo o peixe mais rijo, era mais a uso». Era armazenado nos poços, «chama a gente os poços. Era um corredor no fundo navio. Só quando não havia mais nada é que se punha cachucho ou marmota, para encher a escotilha, mas era muito raro, para isolar, algumas vezes, metia-se só gelo, para não meter pescadas, porque não havia outro peixe. As pescadas estragavam-se ali, não mereceria a pena».
Embarcou no “Alcácer” como marinheiro pescador (16.06.1956-18.03.1957); no “Albatroz” ainda como marinheiro pescador (30.04.1957-12.06.1957); no “Alverca” (18.08.1957-30.06.1959), como marinheiro pescador, tendo sido promovido a contramestre, a partir de 1 de Novembro de 1958; no “Albufeira” como mestre de redes (16.12.1959-05.07.1961). Ao contrário dos anteriores, este navio tinha capacidade para congelar o pescado a bordo. «Andei apenas num barco próprio para a lagosta, o “Albufeira”. Andei no “Albufeira”, só próprio, à lagosta.»
No princípio da campanha de arrasto capturavam as lagostas, para aproveitar apenas as côas que eram congeladas a bordo. As lagostas capturadas, no final da viagem, eram transportadas vivas para Lisboa em tanques de água, dentro de redes. Tinham de mudar a água todos os dias e retirar as lagostas mortas.
«Uma vez, fizemos três paióis cheios de lagosta, só aproveitámos os rabos, com sal, serradura e gelo. Quando chegámos a Lisboa estava tudo negro. Foi tudo para a tulha. Só se aproveitaram as nossas, que vinham salgadas para vender e as que vinham em conserva de vinagre, em frascos de vidro».
Andou no “Mestre Manuel Mónica”, de Setúbal, como mestre de redes (15.07.1961-26.10.1961); no “Alvor”, como marinheiro (06.02.1962-07.03.1962) e como mestre de redes (07.03.1962-26.03.1963).
«Andei lá muito tempo de contramestre. Andei em vários navios. A certa altura comecei a pensar que o trabalho era o mesmo, o ordenado era o mesmo de mestre de redes e eu como sabia qualquer coisa de redes, pensei em ir para mestre de redes».
O mestre de redes tratava de todo o material pertencente às redes, «ele é que é o actor, embora o contramestre também ajude». O contramestre era responsável pelo armamento do navio, «ele é que é o professor, é o segundo oficial do navio. Quando andei de mestre de redes, fazia de contramestre e de mestre de redes, fazia os dois lugares. A tarefa do mestre de redes era arranjar, reparar e armar as redes, aí é que estava a sabedoria».
Em 12 de Maio de 1964, fez com sucesso o exame para arrais da pesca costeira na Capitania do Porto de Cascais.
António Inácio embarcou novamente, no “Alverca” como mestre de redes (06.10.1965-31.01.1966); no “Pólo Norte” (22.02.1966-27.12.1967) como mestre de redes; no “Madragoa” (04.01.1968-14-02-1968) como marinheiro; de novo no “Pólo Norte” (20.02.1968-03.04.1968) como mestre de redes; no “Marisco” (27.11.1968-11.02.1969) como contramestre; no “Praia do Restelo” (10.01.1970-09.04.1970) como mestre de redes. «Quando andei no “Praia do Restelo”, o navio tinha umas sete ou oito redes».
Andou no “Pargo” (30.10.1970-31.01.1971) como mestre de redes; no “Comandante Carvalho” (05.02.1971-26.03.1971) como mestre de redes, e finalmente, uma vez mais, no “Madragoa” como contramestre (22.04.1971-26.11.1971).
Perguntei a António o que comia a tripulação a bordo dos arrastões? A resposta surgiu pronta – «Isso era de sofrer. Comer havia bastante. Carne (bifes, cozido à portuguesa), bacalhau. Peixe estava lá com fartura! Às vezes, não havia era vagar para comer. Era sempre a trabalhar, a arrastar de dia e de noite. Era cabeçadas no peixe que até se “cachimbava” tudo! Três dias sem dormir para carregar o navio».
Em 1972, António Inácio decidiu não se candidatar a mestre de pesca, pondo assim fim à sua actividade na pesca do arrasto. «Vim-me embora para aqui. Foi o maior espalhafato que eu fiz! Foi esse! Vim para aqui e comprei a lancha “José Alberto”. Uma lancha antiga que pertencia ao meu cunhado José Álvaro de Matos Arvelo» (alcunha “Tuta”).
António Inácio comprou a lancha “José Alberto” [6] em 17 de Outubro de 1972.
Na “José Alberto”, António Inácio pescava com redes de emalhar – «para apanhar raias, pregados, lagostas, tudo», tresmalhos – «eram mais para o linguado, apanhava outros peixes, praticamente era para linguados» e aparelho. «Naquele tempo não havia rastos. No princípio, «o aparelho tinha setenta, oitenta, anzóis, ultimamente, já havia aparelhos com duzentos anzóis. Os estralhos distanciavam um do outro uma braça e pouco e tinham meia braça de comprimento.»
Utilizava o «aparelho para o robalo e para o que aparecesse e aparelho para o fundo. O aparelho para o robalo era disposto aos “ss”» em relação à altura de água.
Em 1987-1988, «Por aí. Por aí», começou a perder a única vista que tinha, e «houve essa coisa de entregar os barcos ao Governo. Foi o próprio Governo que o fez.» Entregou o barco, pois «estava na altura de ir para a reforma e reformei-me».
António Inácio aprendeu os pesqueiros costeiros «com os outros pescadores e mais praticamente comigo».
Quando lhe indaguei se conhecia muitos pesqueiros? Respondeu de imediato – «Eu conheço tantos».
Eis alguns – «Conheço os cascos “S. Teresinha” (Os torreões de Mafra ali quase ao “Ribote” e um beco que está aqui na serra de Montejunto, aqui à fonte de S. Sebastião), a “Pedra Palavra” (Mafra ali à Ermida de S. Sebastião, os dois torreões do meio à Ermida de S. Sebastião e Majapão ao Verde (Ribas a Norte de S. Lourenço), o “Figo” (Mafra ao Cabo David e uma jeira que faz ali por terra de Cabo Magoito a aparecer com o pinhal, estes são os sinais que eu faço), o “Bargal” (Peninha à lombada de fora do triângulo, há dois triângulos lá, um virado com o bico para cima, o outro virado com o bico para baixo, e Majapão à casa (A casa da francesa mais ou menos na abadia), a “Maçã” (Nossa Senhora à lombada de fora do rio, rio por Sul de Magoito, e Majapão à casa do Carido), o “da Roca” (Um moinho, que lá está por Sul da Roca, num terreno que é murado, a peninha mesmo à quina, à ponta do muro, a quarenta e sete braças), o “Casquinho”, mais ao Norte (os bicos por Norte da serra, está lá uma palmeira...), quando começou utilizar a sonda fazia apenas um sinal e com a altura de água chegava ao pesqueiro, já só utilizava um sinal.
No arrasto costeiro, pescou no “Mar do Avô”, no Bragal, no “Mar da Areia”, na Canaleta, no “Mar de Sintra”, «onde não se vê terra».
Na pesca artesanal jagoz, quando ia pescar ao safio, «saía para o mar de manhã ou de tarde, dependia. Uma vez fui daqui eram oito horas da manhã cheguei lá às cinco horas da tarde. O motor andava poucachinho, era um “Peter” de dezasseis cavalos. Pescava de noite. Nesse dia corri o dia todo, de um mar para outro, e ainda fui parar à barra de Lisboa. Naquele tempo o peixe estava a montes.» Para comer, levavam qualquer coisa, «fazíamos o comer a bordo num tacho, caldeirada, peixe cozido, cortava-se um bocado de safio, uma arraia, um pregado, o que houvesse, o lume era feito numa caixa com areia.» Levavam batatas, cebolas, azeite e vinho. A companha era constituída por três ou quatro camaradas. Andou no mar com o Carmindo Dias Pedro, o “Grão”, o Vicente, «andaram muitos comigo».
A remuneração da companha era feita «a partes». Do dinheiro que recebia da venda na lota, descontava a taberna (a conta do vinho, aviado para levar para o mar, e do mata-bicho), dos mantimentos e do gasóleo. A quantia para a Mútua era descontada na lota. Do dinheiro que restava, «duas partes e meia eram para o barco, para o patronato», depois distribuía uma parte igual por cada um dos camaradas da companha, incluindo o arrais. «Se a companha tivesse três camaradas passava a ser 5,5 partes, se a companha tivesse quatro camaradas era 6,5. Dependia do número de camaradas da companha». A parte, de cada um dos camaradas, era igual. Este sistema de remuneração era a norma na pesca artesanal da Ericeira.
Nesse tempo, «a malta da Ericeira, não ia para a “Sarrada”[7]. Ia mais para o limpo, para Sul. Capturava lagostas, lavagantes, santolas, sapateiras. A malta não fazia caso dos grilos, agora é que ligam, pois deram cabo de tudo».
António Inácio costumava ir aos polvos, «à malhada como o “Xico Porras” vai. Fui tanta vez! Agora, já há muitos anos que não vou».
Por fim, perguntei ao António se sabia preparar a canêja de infundice e se conhecia a canêja pintada. «A canêja pintada com pintas brancas, ele há, mas aqui não, em Cabo Branco é que há. Aqui, é só a cinzenta. Cheguei a preparar a canêja de infundice para outros comerem, não para mim, eu não sou apreciador. Cortava a canêja às postas, toda cortada às postas, punha uns salpiquinhos de sal entre uma posta e outra, enrolava num pano branco e depois fechava-a numa serapilheira e deixava estar seis ou sete dias».
Foi sinaleiro na Ericeira.
António Inácio faleceu na Ericeira em 3 de Setembro de 2022.
[1] O navio-motor “Capitão Ferreira” pertenceu à Atlântica Companhia Portuguesa de Pesca, Lda., sedeada na Figueira da Foz. Foi encomendado ao mestre construtor Benjamim Mónica, dos Estaleiros Navais do Mondego, na Figueira da Foz, e lançado à água no dia 20 de Dezembro de 1945, cerca das 15h, na presença do comandante Henrique Tenreiro, do armador Gomes de Carvalho e de mestre Benjamin Mónica, assistido pelo irmão mestre Manuel Maria Mónica, de Aveiro, para além de outras personalidades do regime ligadas à actividade das pescas. A madrinha foi Maria Regina Núncio de Carvalho. Na cerimónia do lançamento Gomes de Carvalho saudou-o, segundo o melhor dos cânones salazarentos estado-novenses: «Capitão Ferreira vai em nome de Deus, da Pátria e da Família». O navio de madeira tinha a arqueação de 631,65T brutas e 381,40T líquidas e 75 tripulantes na campanha bacalhoeira de 1950, em Jornal do Pescador nº 85, de Janeiro de 1946, e nº 155, de Março de 1950.
[2] Compartimento do porão.
[3] Nepas eram pedaços enrolados de tecido, cabedal ou borracha por onde passava a linha para proteger as mãos.
[4] Caixa cilíndrica de madeira que servia para guardar a merenda, o tabaco e a aguardente.
[5] Caixas em madeira.
[6] Em 3 de Setembro de 1949, Afonso Lucas, empresário marítimo e taberneiro, comprou, a Policarpo Vicente Isaac, carpinteiro construtor naval, residente na Nazaré, a embarcação que denominou “D. Conceição Lucas”. Ficou registada com o nº E154L. Foi equipada com um motor sueco “Albin” de 9 H.P, 1.500 r.p.m., com 180kg de peso e consumo horário de quatro litros. Destinava-se à «pesca local com anzol». Em 26 de Março de 1956, Afonso Lucas vendeu-a a Agostinho da Silva que a denominou “Nato”. Em 3 de Abril de 1956, foi autorizada a substituição do motor “Alvin” por um “Sanofi” de 10/15 H.P. Em 25 de Maio de 1959, Agostinho Silva vendeu a lancha a Alberto de Matos Franco que a denominou “José Alberto”. Em 12 de Setembro de 1959, Alberto de Matos Franco vendeu-a a Procópio Fernandes Mano, proprietário da “Taberna Procópio”. Em Abril de 1960, o motor “Alvin” foi substituído por um “Petter” de 15 H.P. Em 30 de Outubro de 1967, Procópio Mano vendeu-a a José Álvaro de Matos Arvelo.
[7] Na Ericeira, “sarrada” significa área marítima com fundo de pedra.
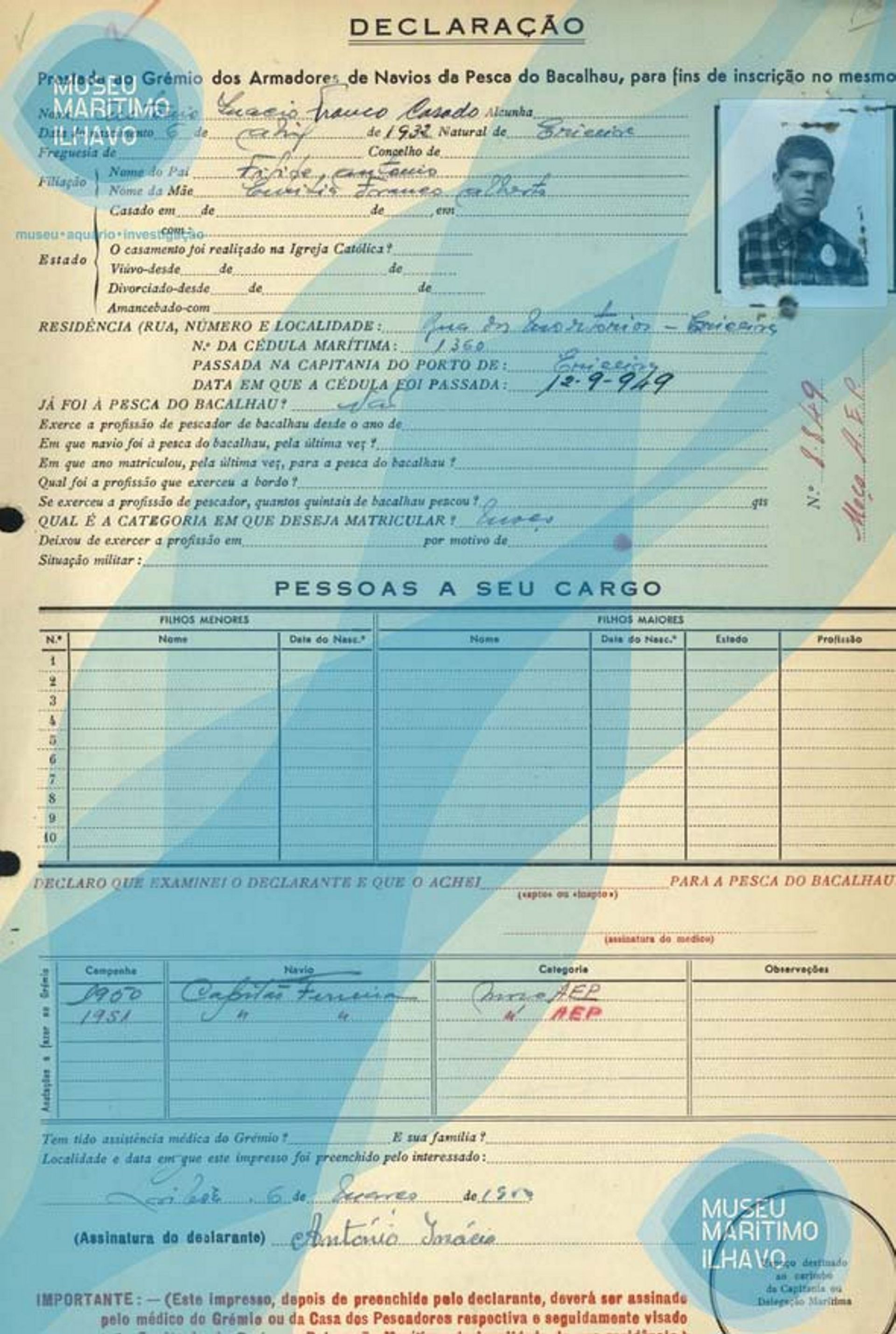
Fig. 2 Ficha de Inscrição do Grémio dos Armadores Bacalhoeiros
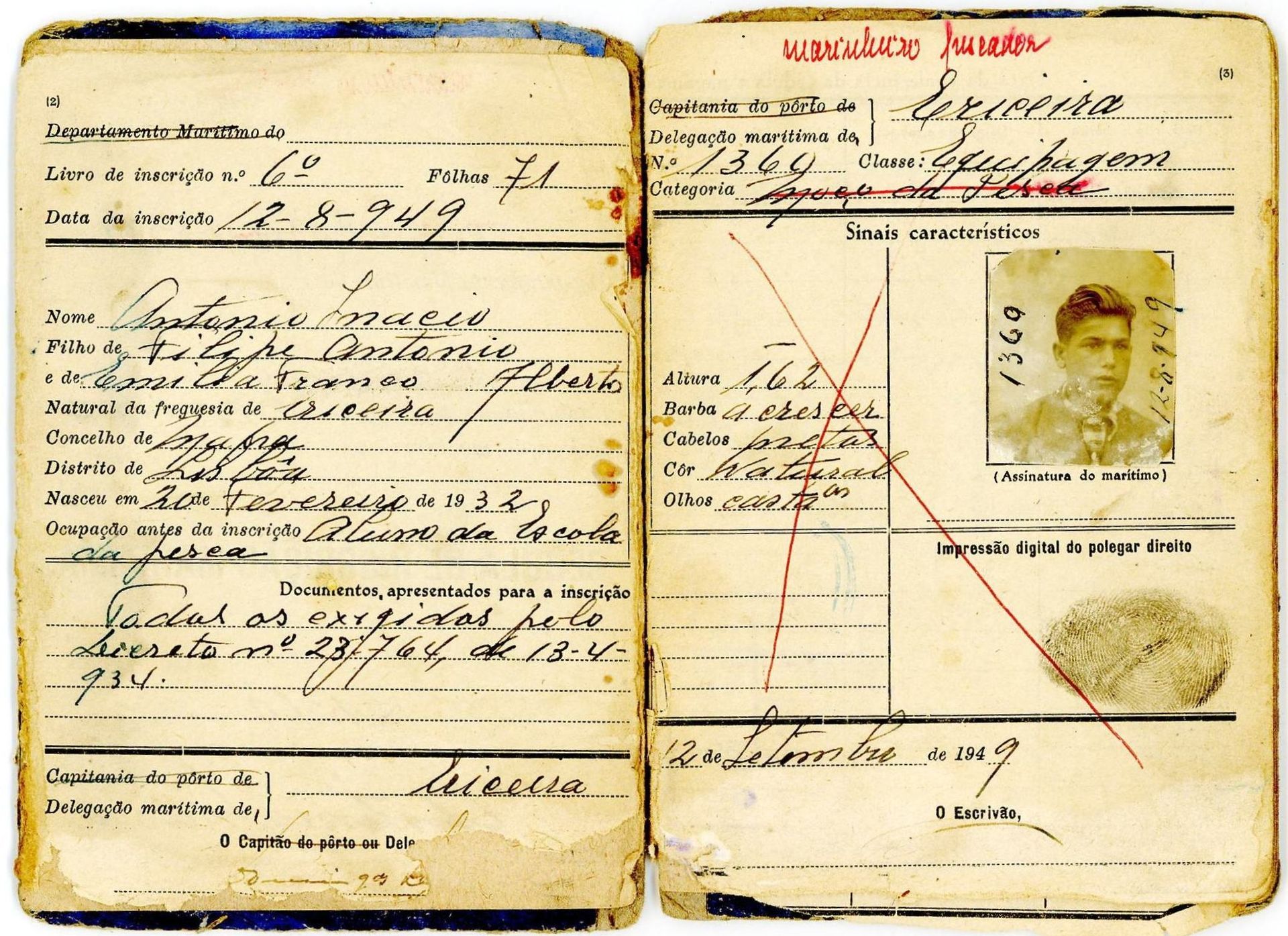
Fig. 3 Cédula de Inscrição Marítima datada de 12.09.1949
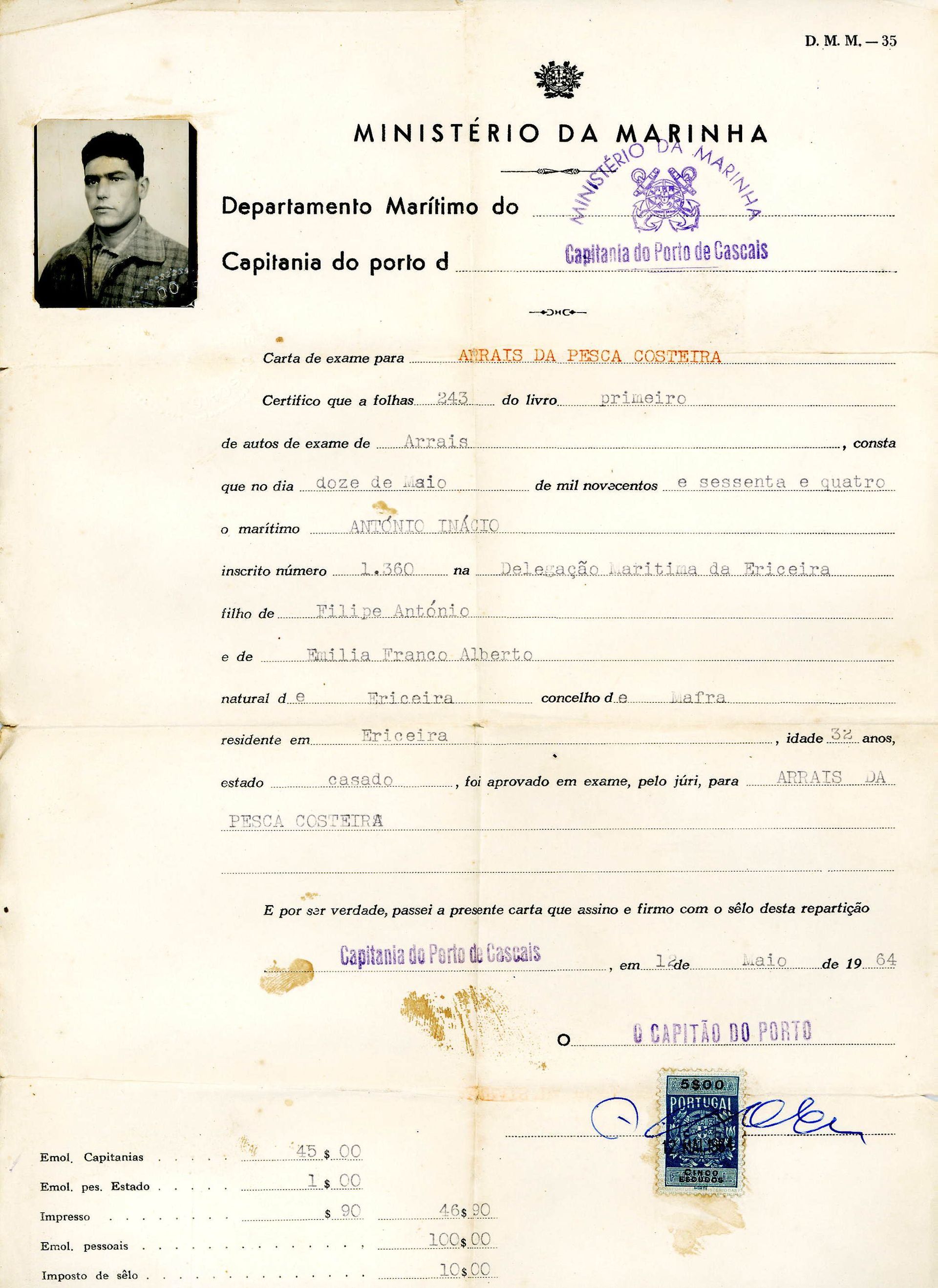
Fig. 4 Carta de Exame para Arrais da Pesca Costeira
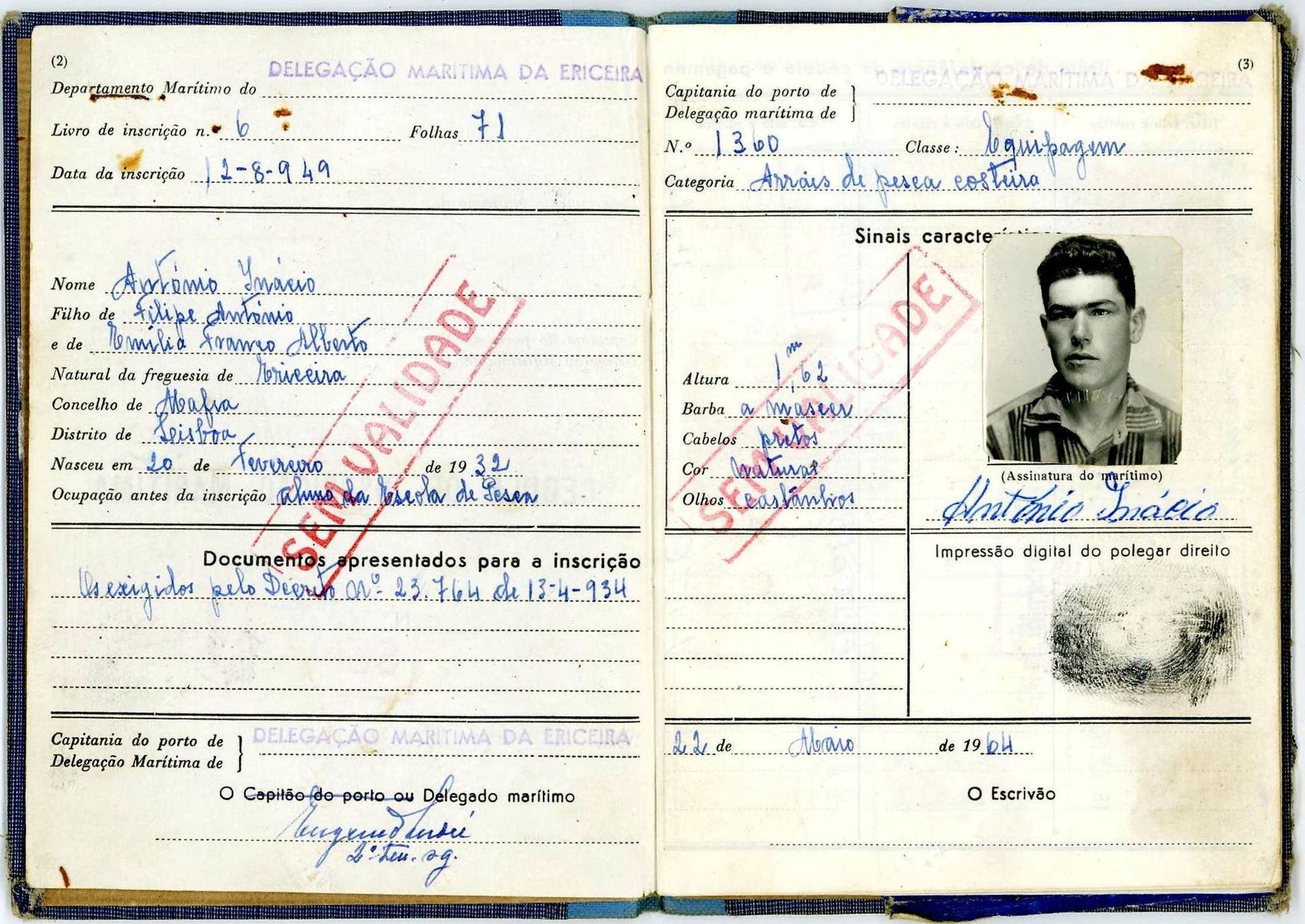
Fig. 5 Cédula de Inscrição Marítima datada de 22.05.1964
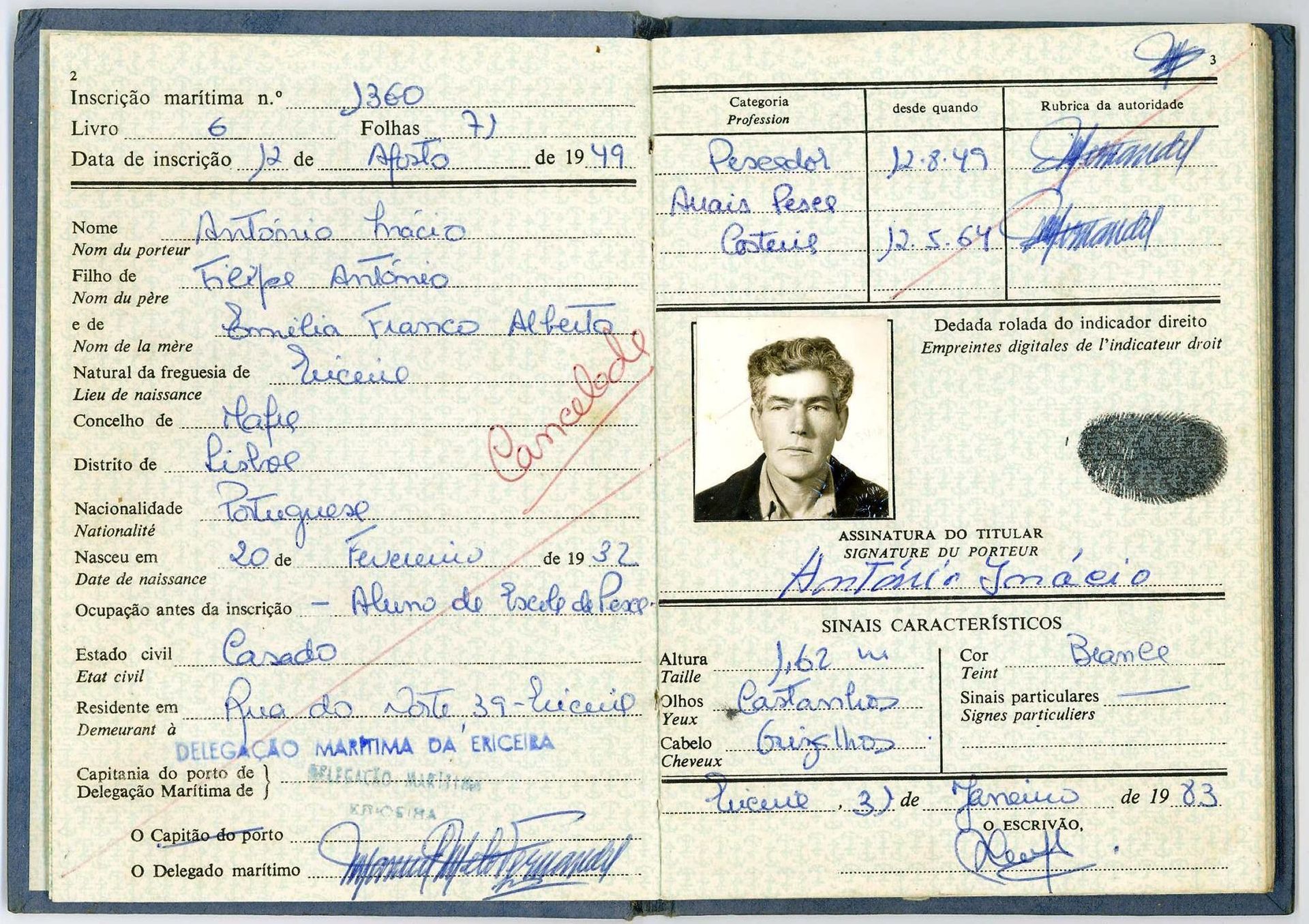
Fig. 6 Cédula de Inscrição Marítima datada de 31.01.1983
Entrevistas feitas na esplanada Sul, do Forte de Nossa Senhora da Natividade, na Ericeira, em 28 de Setembro e 12 de Outubro de 2012.
Francisco Esteves
ANTÓNIO HENRIQUE MONTOITO DE OLIVEIRA

Fig. 1 António Montoito, na Ericeira em 2012
António Henrique Montoito de Oliveira [alcunha “Mas”] nasceu, na Ericeira, a 17 de Abril de 1942. É filho de Isaac Roberto Montoito de Oliveira, pescador e peixeiro, «Fazia as duas coisas», e de Maria de Jesus da Silva Montoito, doméstica e peixeira. Tem dois irmãos – Maria Natália Montoito de Oliveira e José Dário Montoito de Oliveira. Aos dez anos, fez com sucesso o exame da quarta classe com os Professores Carvalhão e “Miss Macaca” [Maria da Conceição Figueiredo]. Saiu da escola e até aos dezasseis anos andava a jogar à bola, engraxava sapatos, vendia jornais e ia levar a bagagem aos passageiros das camionetes de carreira. «Depois fui ao Belenenses onde estavam o Matateu, o Vicente, o Didi, o Rabi, o Depasse, etc. Estive lá vários dias porque eu mexia bem na bola. Eu fumava, o treinador topou e veio pôr-me a casa. Depois andei a jogar à bola por fora. Davam-me trinta paus, quarenta escudos por semana, nessa altura já tinha dezoito anos e eu aproveitava. Depois fui trabalhar com o electricista Ferreira, que já morreu, eu, o Victor Rui. Trabalhava nos elevadores do hotel. Estive aí até aos dezoito anos. Depois fui trabalhar de estucador para o Manuel Quintas. Ele tinha grandes estucadores. Tinha um muito bom, o Mota que era um artista, era um espectáculo, mas ele também bebia. E também eu! [Risos] Aguentei aí um “tempozito”, depois saí e fui dar o nome à tropa a Mafra.
Em 1963, montei os primeiros paus de electricidade ao pé do Hotel da Ericeira. Dali sai para ingressar na tropa nas Caldas da Rainha», como praça, no RI-5, em 4 de Maio do mesmo ano.
Em 7 de Julho de 1963, foi transferido para o RAL1, na Encarnação, em Lisboa. «Em seguida, fui para S. Margarida. Eu estava de reforço. Saí e fui-me deitar. No dia seguinte tinha provas para cabo, os gajos estavam a tocar concertina, acordeão, com grandes bebedeiras e eu disse-lhes – Vocês, hoje, é até às tantas! Não me deixam descansar um bocadinho! Responderam-me – Vai-te embora, que quem manda aqui somos nós. Mandei-os para o caralho! Foi aí que eu fiz mal».
Segundo a caderneta militar este episódio desenrolou-se assim – Em 25 de Outubro de 1963, foi imposta a António Montoito a pena de dez dias de prisão disciplinar nos termos do artigo 192 do RDM porque «no dia 24 pelas 21h e 30m se ter permitido dirigir-se aos primeiros-cabos milicianos no intuito de os provocar tratando-os por tu, e ao ser advertido pelo sargento de dia a este Batalhão o ter ameaçado do que resultou necessária a intervenção do senhor Oficial de Dia perante que se mostrou incorrecto e insolente mantendo uma atitude insubordinada e repetindo ameaças contra os ditos graduados da sua conduta não apresentar atenuantes manifestando com ela propósito deliberado de provocações a seus legítimos superiores, agravada ainda por ter agido perante demais praças que com o seu mau exemplo incita à insubordinação infringiu os deveres 2º, 3º, 4º, 25º, 26º do artigo 4º do RDM.» «Foi o meu melhor tempo de tropa, uma maravilha!» Em 25 de Maio de 1966, o registo do castigo foi anulado e cancelado. (Levou 3 porradas – 04.05.1963 e 26.05.1966)
Em 23 de Novembro de 1963, partiu de Lisboa no N/M “Niassa”, como voluntário, com destino à guarnição normal de Moçambique fazendo parte da Companhia CCS do Batalhão de Artilharia 562. Desembarcou em Lourenço Marques em 12 de Dezembro.
«Depois fui para Moçambique, para a Vila de António Enes. Era comer, beber e “traca na chicha”.
Em 1964, fizeram de mim um saltimbanco. Estive em Mocimboa da Praia, Fronteira, Quitarejo, Tete, fronteira da Zâmbia, Macuba, Chai, Macomia e na Ilha do Ivo, na Fortaleza de S. João Baptista. Eu era o carcereiro. Estive três meses a guardar prisioneiros. Punha e dispunha. Tínhamos lá a PIDE. Entretanto a PIDE estava a “amaranhar” muito. Eu revoltei aquilo tudo. Disse ao meu alferes – PIDE para um lado e tropa para o outro, se não isto vai tudo ao ar, já sabe como é que o pelotão é, olhe que não perdoa.
O alferes foi ter com o chefe da PIDE e disse-lhe – Os senhores só vêm interrogar e depois vão para a vila. Só entram aqui dentro para interrogar e mais nada, se não eles limpam-nos. O chefe da PIDE fez uma participação. Mal ele sabia que o General Carrasco, que estava nessa altura em Moçambique, lhe ia dizer – Esse soldado é que é dos bons! Eh, pá, a força que o homem me foi dar. Assim que eles entravam por ali dentro apresentavam – Está aqui o papel com as ordens. Porta fechada. Nós éramos os responsáveis. Não eram eles. Pusemos a PIDE na ordem. Foi um remédio santo.
O pelotão da nossa companhia foi para a Ilha do Ivo e nós fomos para António Enes. Tínhamos espólio a mais e fomos entregá-lo. O alferes disse-me – Você sabe que vai para o meu pelotão? O que é que o senhor quer dizer com isso? O gajo era “bicheta”. Respondeu-me – Ponha-se a pau? Retorqui-lhe – A pau põe-te tu! E se me tocas, tenho a certeza que não voltas a ver mais a tua família. O gajo calou-se logo. Mais tarde, tentou castigar-me porque já sabia que eu seria expulso da companhia para a XEFINA de Lourenço Marques. Mais tarde, veio provocar-me e eu dei-lhe logo. Foi logo. Depois arranjou isso à maneira dele. Quero dizer, eu tinha razão e fiquei mal. Fui preso.
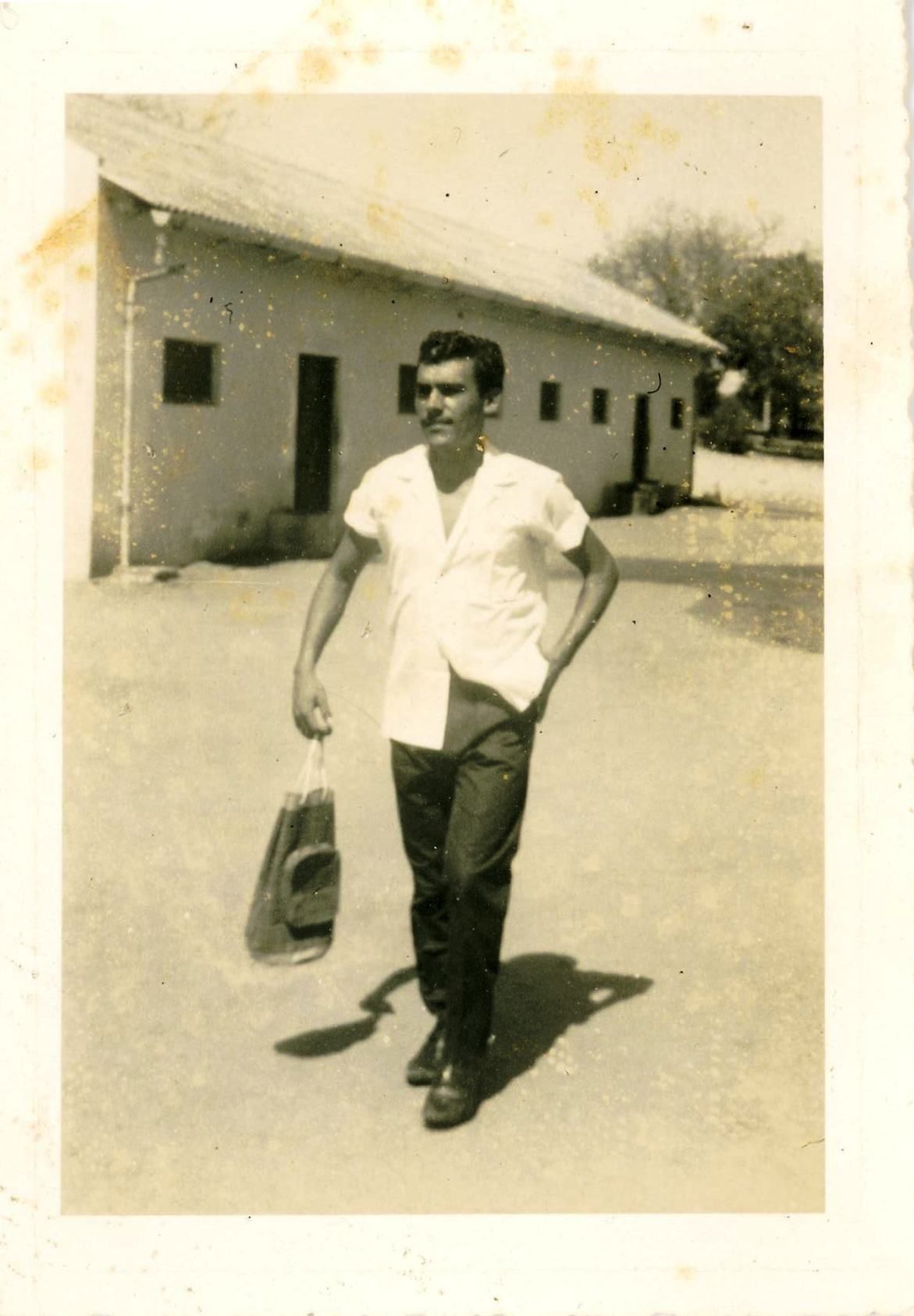
Fig. 2 O meu melhor tempo de tropa – XEFINA em Lourenço Marques
Depois houve um acidente em que morreram dez elementos da minha companhia. Eu tive sorte! Foi por excesso de confiança. Já vínhamos quase a entrar para dentro do quartel, os gajos lançam duas morteiradas. Eu estava mais adiantado e safei-me. O sargento Alves, que já morreu, tinha a barriga toda carregada com munições (balas) e disse-nos – Tu, tu e tu vamos embora. Pegou na secção dele e fomos apanhá-los. Eram dezassete. Fomos sempre aos ss. Apalpávamos o sítio no chão, isto está morno, sempre aos ss no rasto deles. A mim dava-me logo o cheiro deles. Fechámos. Estava tudo a dormir, que maravilha. Ordenámos que se pusessem em fila indiana, se não ia tudo de alto a baixo. Respondiam – Sim “sinhore”, sim “sinhore”. E eu dizia-lhes – Já vais levar o “sinhore”. Amarrámos uma corda ao pescoço e os braços atrás de cada um, e seguimos para o quartel. Os gajos tinham armas que eu nunca vi dentro do nosso exército. Armas do “Al Capone” de noventa e cinco balas. Armas de disco. Tinham costureiras. Depois começámos a utilizar essas armas. Aquilo era sempre a disparar. Metemos os gajos amarrados atrás do “Unimog” e força! Viemos por ali a fora. Morreram, pronto!
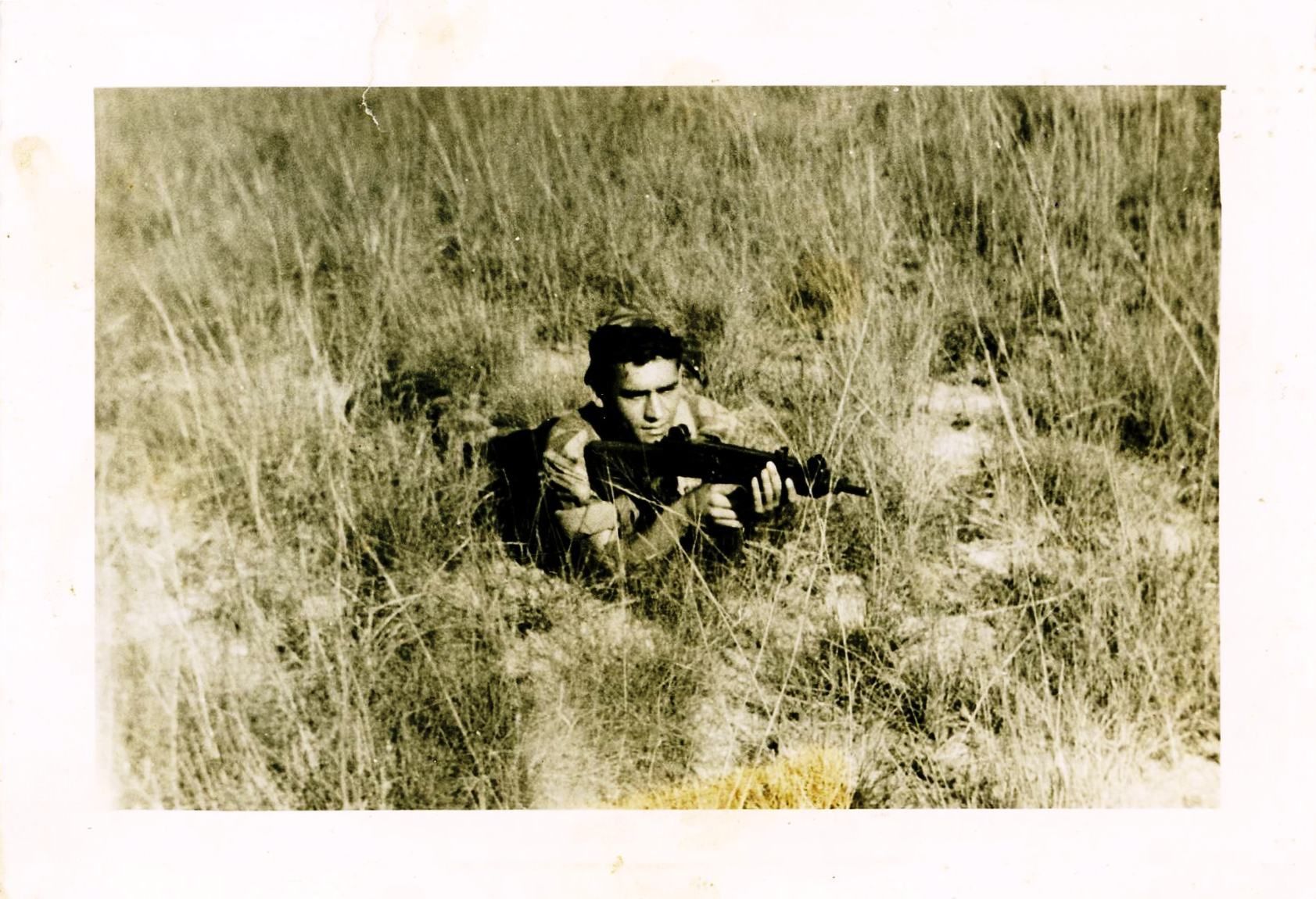
Fig. 3 Sobre os terroristas em Quitarejo
Uma vez foram dezassete miúdos com dezasseis, dezassete anos para Nampula. Atirámos para as pernas para faze-los prisioneiros. Custou-me muito, até me vieram as lágrimas aos olhos, quando vi que eram miúdos. Entretanto levaram os miúdos de helicóptero para Lourenço Marques, mas nós ficámos. As casas estavam situadas da parte de baixo e os miúdos disseram-nos que eles estavam da parte de baixo. Nós vimos logo. Fizemos de conta que vínhamos embora. Entrámos para dentro dos carros, regamos umas mexas com gasolina, atirámos para cima das palhotas. Aquilo ardeu tudo. Mandámos umas granadas bem aviadas lá para o meio e ouvia-se – Ai! Ai! Ai! Nós gritávamos – Andem cá para cima! E pumba, pumba. Não escapou nenhum. Limpámos tudo. Era a nossa zona. Nós queríamos a zona limpa. Os miúdos safaram-se. Trataram deles, aquelas coisas. Estive em Moçambique vinte e nove meses com o transporte incluído. Tinha vinte e oito meses de tropa e ainda estava no mato. O barco esteve à nossa espera na Beira. O meu pelotão não tinha sítio certo. Nós éramos saltimbancos. O sargento Alves era batido. Nunca saíamos de dia, era sempre de noite e apanhávamo-los com uma limpeza do “carago”. Éramos para ir tirar o curso de comandos a Angola. Tirei o curso de comandos em três dias na Beira, o Major, que não me lembro agora do nome, disse-nos – Podem ir-se embora que estão aptos. Depois, passei para Cabo Delgado. Tive sorte, não apanhei força de guerra, e ali era quase todos os dias, pumba, pumba, pumba. Correu bem».
Em 9 de Março de 1966, embarcou em Lourenço Marques de regresso à Metrópole. Desembarcou em Lisboa em 4 de Maio de 1966. «Quando regressei fui tratar dos papéis para a marinha mercante».
No mesmo ano, «casei aos 24 anos com Maria Raquel Machado Leandro Montoito de Oliveira, falecida. Tem uma filha, Ana Paula Leandro Montoito de Oliveira.

Fig. 4 No dia do casamento
Em 7 de Novembro de 1967, inscreveu-se na capitania do Porto de Lisboa sendo-lhe atribuída a cédula marítima nº 231.1578. Em 12 de Dezembro foi admitido com a categoria de chegador.
«Só embarquei ao fim de um ano, em finais de 1967. Durante esse ano andei aqui ao mar na pesca artesanal na “Faneca”, no “Mar Lindo” e no “Toni Fernando” com o “Xico Porras” [Francisco Eurico Franco Alberto]. Andei também na pesca com o Rui Camarão, depois embarquei.
Falando o português correcto. Fui limpar merda para a casa da máquina. Fui de chegador. Eu era pano para toda a jorna dentro da casa da máquina. Fazia 8h, às vezes 14h, 16h com as avarias».
Ainda em Novembro de 1967, António Montoito embarcou, de chegador, no “Sofala” (~ oito meses), no “Índia” (~ seis meses), no “Moçambique” («Andei cerca de um ano, na altura do arrombo, com o “Xico Zé” Valverde [Francisco José Valverde]. Era terceiro [piloto maquinista]. Esse homem era do melhor.») Os navios eram propriedade da “CNN”.
«O petroleiro estrangeiro vinha a sair a barra de Lisboa. Estava muita névoa. Nós vínhamos a entrar a barra no “Moçambique”. A culpa foi do navio português que não respondeu ao sinal do estrangeiro. Ele apanhou-nos pelo meio, atravessado. O “Moçambique” ficou aberto a meio, mas deu para chegar a Lisboa. Nós conseguimos estancar a entrada de água.
Andei no “Sofala”, foi o meu primeiro barco. As caldeiras eram de carvão, depois foram renovadas para nafta. As serpentinas aqueciam muito e, às vezes, duas e três vezes por quarto, tinha que limpar aquilo tudo a vapor. Ficava todo mascarado e tinha logo que ir tomar banho. Andei nesse barco oito meses. Na máquina andava de “calçãozinho” e tronco nu, pois fazia muito calor.
Depois fui para a “Soponata” [1] [Sociedade Portuguesa de Navios Tanques, S.A.]. Andei no “Fogo” (~ dez meses). Passados dois ou três anos tirei a carta de fogueiro na Capitania do Porto de Lisboa. Correu bem. Eu fiquei bem».
Em 1 de Março de 1973, António Montoito fez exame para fogueiro na Capitania do Porto de Lisboa tendo ficado aprovado. A oito do mesmo mês, foi promovido a fogueiro. «Estive de férias e depois embarquei, queriam que eu voltasse ao “Fogo”, mas fui, de fogueiro, no “Gerês (~ seis meses, «fiz três viagens»).
«Tenho uma história gira sobre isso. Eu estava a tirar a carta para fogueiro. Já estava muito batido. Manuseava as válvulas todas e sabia as manobras e um rapaz cá da Ericeira, o “Tarzan”, que morreu a bordo do “Angoche”, pediu-me ajuda por que tinha o convés do barco da parte de dentro com a água quase a chegar ao motor e dizia que não era capaz de controlar a situação. Eu disse-lhe – Aguenta aí que eu vou ajudar-te. Só tenho que estar aqui de volta às duas horas [da tarde]. O “Austrália” estava ali perto. Cheguei lá, comecei a ver! Eu já vi! Este motor só arranca quando o óleo aquece com a electricidade. Eu vi logo! Olá! Dei ao manípulo e disse-lhe – Agora arranca lá com o motor. O gajo arrancou. Comecei a pôr as mãos, a apalpar as válvulas, tinha duas válvulas, a válvula do fundo, que dá para afundar e dá para sair pela borda fora, e foi isso que eu fiz. Disse-lhe – Vamos lá a ver se é! Eu ia abrindo devagarinho. Ele disse-me – É essa é! Está a sair água. Pensei – Então pronto! Abri a válvula. Passado um quarto de hora o barco estava esgotado. Disse-lhe – Já viste como é que é? Respondeu-me – Já sei.
Uma vez, fiquei cá de férias e fui andar com ele quinze dias no “Austrália” (embarcação de pesca artesanal), aquilo era um “barcalhão”! Andava eu, a mulher dele, o Isaías e era outro que não me lembro. E foi assim a minha vida.
Andei para Angola, Moçambique e Holanda. As viagens duravam dois meses, sem pôr os pés em terra. Íamos pelas Áfricas, para o Golfo da Pérsia, carregar petróleo. Andei oito anos na “Soponata”, era uma maravilha. Trabalhávamos bem, mas recebíamos bem.
Em 1969, fazia uma viagem e “arrecebia” oito contos limpos. Tínhamos muitas horas. Quando eles tinham malta competente para trabalhar com ferramenta, eu era bom nisso, vinha o chefe da “Lisnave”, Luís Filipe, fazer assistência dois meses a bordo. Era aí que a gente ganhava bastante dinheirinho.
Uma vez, vínhamos a navegar para Lisboa a bordo do [navio tanque] “Fogo”. O navio estava carregado de petróleo. Saímos de Cape Town, onde nos abastecíamos de mantimentos. O abastecimento era feito com o navio sempre a navegar, não parava, era sempre a andar. Depois disso, eram umas oito horas da noite, o navio começou a perder pressão nas caldeiras. Tinha acabado de comer. Fui por ali abaixo. Dizia o pessoal – Estamos fod…! Perguntei – Mas o que é que se passa? O barro do isolamento interior das caldeiras tinha caído. Eu disse – A gente isola uma. Vamos andando ao pé-coxinho. Em dezasseis, dezassete horas a caldeira ficou pronta a trabalhar. Montámos as fornalhas, os queimadores e ficou a trabalhar. Ao fim de três horas fomos atacar a outra caldeira. Foi assim que eu consegui receber umas “coroas” boas pela parte de fora. Quando o navio chegou a Lisboa, quando chegámos a terra apareceu o chefe Luís Filipe, da Lisnave, que já tinha trabalhado comigo e perguntou – Quem é que arranjou isto? A malta respondeu – Foi o fogueiro. Foi ver o trabalho. O Luís Filipe observou – Isto está impecável. Ele é um profissional, não é amador nenhum. O navio chegou só com duas horas de atraso. Daí comecei a criar fama, coisa e tal. Mais tarde, saí da companhia por que não me sentia bem.
Eu era o menino bonito a bordo do “Inago”. Um dia, o navio estava a meter “bancas”. Meter “bancas” é meter nafta, abastecimento de combustível. Nesse dia, tinha recebido uma carta da minha mulher e estava a lê-la. Eram oito horas, e eu saía de quarto às oito. Apareceu o paioleiro e perguntou-me – Então o que se passa? Respondi-lhe – Oh, Chefe, está tudo bem. São oito horas, agora vou descansar. Disse-me – Estavas deitado. Disse-lhe – Estava a ler a carta da minha mulher. A partir daí nunca mais me entendi com ele. Era “rabeta”. Quem andava a comê-lo era o primeiro. Eu nunca quis.
Certo dia, houve um incêndio no paiol. Eu disse para os meus dois colegas – Isto cheira-me a m…. Acusaram-me de ser o autor. Quando soou o alarme estava eu a jogar às cartas. Fomos todos por aí abaixo. Quando chegámos o paioleiro disse-nos – Já não é preciso. E disse-me – É proibido ir à máquina do leme. Eu perguntei-lhe – Mas o que é que se passa? Ele respondeu-me – Tantos fósforos! Pensei – Já estou lixado. Eu nessa altura fumava. Estes gajos vão acusar-me. Pareceu-me que aquilo tinha sido feito com as mexas de acender os queimadores, que davam fogo à nafta ou ao gasóleo. Não ardeu nada, era só fumo. Passou-se o tempo. Cheguei a Lisboa à noite e o navio ficou fundeado em Cabo Ruivo. No outro dia, quando vi a minha mulher de luto, pensei - O meu pai já morreu! Vou já para casa. Fui comunicar ao chefe que ia para casa porque o meu pai tinha morrido. E, assim foi.
Na segunda-feira, quando cheguei a bordo tinha a minha mala mexida. Desconfiei que havia marosca. Passado horas, apareceu o chefe Parreirrão da polícia marítima, que conhecia bem a Ericeira. Estive preso horas. Eu perguntei ao chefe da polícia marítima – Quero saber quem é que me mandou prender. Foi o comandante? Respondeu-me – Sim, foi o comandante. Então, agora você vai prender-me, porque eu já sei porque é que vou ser preso. Ele deu a ordem. Você vai prender-me e eu quero uma indemnização por este falso testemunho. O chefe dizia – É melhor ficar assim, porque depois isto vai dar muitas complicações. É preciso advogado e mais não sei o quê, e assim foi. Disse ao chefe – Tenho a minha mulher no meu camarote e quero ir almoçar com ela a um restaurante. Eu não fiz mal a ninguém. Aquilo era uma cambada de malandros. Disse-me – Então vá, mas esteja aqui às duas horas. Às duas da tarde tinha que estar na capitania. Às duas horas foi tudo resolvido. Disse ao polícia marítimo – Você veja bem. Ninguém pode aproveitar os meus fósforos porque eu deito-os dentro do balde que tem sempre água. As beatas vão para dentro do balde com água. Depois despejava o balde no lixo. Você foi ao meu camarote e viu que estava tudo dentro do balde com água. Respondeu-me – Vi sim senhor, mas dizem que foi você. Então vocês estão a acusar-me. Eu disse-lhe que não tinha sido eu. Como eu tinha os olhos muito abertos, o paioleiro estava com medo que eu lhe roubasse o lugar. Assim que vi o paioleiro da máquina, pensei – Foi este filho da p... Assim que o paioleiro entrou, agarrei-me ao gajo. Eu estava inocente. Nesse dia, não me atrapalhei. Disse-lhe – O primeiro tem umas contas a ajustar consigo, que só Deus sabe. Você está a querer lixar-me. O polícia disse – Isso, são contas deles. Por fim, o Parreirão disse – Você provou bem a sua inocência. Eu fui lá ver aquilo e parece que foi feito como você diz com as mexas dos queimadores. O paioleiro e os meus dois colegas queriam lixar-me. E, ficou assim.
Arranquei para a viagem. Um dia, até parece que foi Deus que me estava a guiar, eu vou à meia-nau e encontro o comandante sozinho e disse-lhe – Oiça, a sua mãe não tem culpa, mas você é um grande filho da p... Então, você manda-me prender, seu ordinário do “carago”. O gajo pirou-se. A boca dele não se abriu. Não se abriu! Assim que me via, fugia. É que se ele abrisse a boca estava logo arrumado. Era limpinho. Já estava prometido. Cheguei a Lisboa e desembarquei de livre vontade. Os oficiais da casa da máquina não queriam que eu me viesse embora, mas eu vim! Passado uma temporada, a companhia chamou-me, já eu tinha a carta de ajudante, mas à primeira vez fiquei mal. Chamaram-me para ir para bordo. Fui ver a tripulação, encontrei o chefe de máquinas e perguntei-lhe – O senhor é que vai de chefe? Disse-me que sim. Fiz mais quatro meses, depois a gente rendia-se aos três meses, de três em três meses. Vi a tripulação a entrar para dentro do navio e disse ao chefe – Vou-me embora. Disse-me – Não vais, não. Eu disse-lhe – Com aquele oficial, o tal primeiro, o “Ericeira” não alinha. Depois contei a história. Disse-me – Mas, você fica. Respondi – Não fico! Não! Disse-lhe – Gosto muito do chefe e do resto da tripulação, mas o “Ericeira” não vai. Ala! Cheguei à companhia e disse - Não alinho com toda a gente! Apanhei raiva à “Soponata”! Estragaram-me a vida. E, resolvi sair, foi o melhor que fiz. Se não tivesse saído da “Soponata”, agora estava com trezentos contos de reforma.
Antes de 25 de Abril, ainda andei, de fogueiro, no “Erati” e voltei ao “Fogo”».
Após o 25 de Abril embarcou, no “Jeci” (03.05.1975-28.07.1975), no “Ortins Bettencourt” (13.11.1975-16.11.1975) e no “Inago” (11.12.1975-23.12.1975). Andou, como bombeiro, no “Sacor” (02.04.1976-04.08.1976), como fogueiro, no “Marão” (09.02.1977-10.02.1977) e novamente como bombeiro, no “Angol” (21.09.1978-02.01.1979) e no “Bandim”. Navios tanques (petroleiros) utilizados no transporte de ramas de petróleo propriedade da “Soponata” e da “Sacor Marítima” (“Sacor, Angol” e “Bandim”).
«Depois fui para a “Cotandre” [2] [Sociedade Comercial Cotandre, Lda.]. Andei num paquete de passageiros para o México (Acapulco), América (S. Francisco, Los Angeles) e Canadá (Vancouver)».
Em 27 de Novembro de 1980, fez exame na capitania do Porto de Lisboa para ajudante de motorista tendo sido considerado apto.
Embarcou como ajudante de motorista, no “Ponta Delgada” (12.04.1981-31.08.1981), no “Carvalho Araújo” (02.06.1982-30.06.1982) e no “Rio Cuanza” (21.01.1983-03,06,1983). Embarcou em Monróvia, como fogueiro, no “Slong” (25.02.1986-05.08.1986), de bandeira da Arábia Saudita, por intermédio da “Cotandre”. Andou, como ajudante de motorista, no “Miguel Corte Real” (30.01.1990-28.03.1990), no “Câmara Pestana” (31.03.1990-13.08.1990; 21.02.1992-27.06.1992; 15.02.1993-09.06.1993; 21.02.1994-28.05.1994; 09.12.1994-10.03.1995; e 16.09.1995-19.10.1995), no “Terceirense” (15.11.1990-20.03.1991; 09.10.1991-05.02.1992; 18.09.1992-18.01.1993; 14.09.1973-17.01.1994; 21.07.1994-27.10.1994; 21.04.1995-04.05.1995; 06.02.1996-10.04.1996; e 04.10.1996-24.01.1997), no “Atlantis” (22.05-1996-20.08.1996; 17.02.1997-16.05.1997; 07.11.1997-10.02.1998; e 12.02.1999-11.05.1999), no “Ponta S. Lourenço” (09.06.1997-10.08.1997; e 14.03.1998-23.06.1998) e no “Insular” (02.07.1998-16.10.1998).
«Uma vez, corri com um terceiro [piloto maquinista] da casa da máquina. Nós estávamos para sair, parece-me que às duas ou três da tarde. Íamos sair no nosso quarto. Eu tinha entrado ao meio-dia, e o segundo [piloto maquinista] disse-me – Oh, “Ericeira”, a gente está a fazer vácuo. Era para o vapor entrar mais rápido para as turbinas. O navio tinha turbinas a vapor com duas caldeiras. Eu respondi-lhe – Está bem. Fui ver o termóstato. Estava “porreiro”. Fui lá passado meia hora. Eh! Cara…! O que é que está para aqui!? Começou-me a dar o cheiro, por que dá o cheiro. Eh! Cara…! Disse ao terceiro – Olhe, chegue aqui abaixo se faz favor. Está a ver esta m.... Fui atrás dele e disse-lhe – Você não mexe aqui. Não mexe não. Disse-me – Vou já fazer queixa. Respondi-lhe – Vá já para o cara…! E foi! O chefe veio perguntar-me o que é que se tinha passado. Eu disse-lhe – Passou-se isto, assim, assim. Disse-me – Sim senhor. Depois disse ao terceiro – Eu já lhe tinha dito que o homem dava uns toques nisto. Não faça nada sem lhe dizer. Você está a abrir os olhos, ainda é novo. Como era terceiro não se queria rebaixar. É esse o mal! Eu limpei tanta m...! Ele que se fod….
Eu era um homem difícil de lidar, nunca dava o braço a torcer. Quando não tinha razão dava-me por vencido, mas quando tinha razão ninguém punha a mão encima, nem os chefes.
Andei a trabalhar com máquinas “MAN”, que eram boas máquinas. As manobras eram feitas a nafta, para não “comer” muito. A navegar a máquina trabalhava a gasóleo. As turbinas trabalhavam a vapor, produzido nas caldeiras.
Saiu a ordem para a gente se reformar aos 55 anos, mas eu reformei-me só aos 57. A companhia dava a oportunidade, a quem quisesse, de fazer férias. Fiz férias duas vezes e nunca mais fui. Depois de sair da marinha mercante andei aqui à “pesca dos trezentos” no meu barco denominado “Rodrigo e Mas”. Rodrigo é o nome do meu neto. O barco era de cá. Era do “Fantoche” [Victor…]. Comprei-o por quinhentos contos. Tinha três equipas de turistas todas as semanas. Cada turista pagava cinco contos [5.000$00]. Iam cinco ou seis de cada vez. Eu conhecia os pesqueiros. Tinha aprendido com o “Xico Porras” e com a malta. Agora não custa nada. O GPS marca as coordenadas e leva-nos lá.
Em 2002, vendi o barco por oitocentos contos. Tive duas ameaças de trombose, na primeira não dei por nada, na segunda já notei. Estava a trabalhar com o “Casa Pia” na pintura. Depois de reformado andei a pintar alguns três ou quatro anos».
Actualmente, António Montoito convive com um enfisema pulmonar. Vive e respira assistido constantemente por uma bomba respiratória. Durante a entrevista suspende a fala várias vezes para poder respirar ao ritmo imposto pelo ventilador. Gosta de ler livros de história e romances.
Em dias de bom tempo, António Montoito, equipado com a máscara, passeia o ventilador com um carrinho pelas ruas da Ericeira, algumas vezes, vigiado de perto pela sua extremosa mãe sempre preocupada com o seu menino.
António Montoito de Oliveira faleceu em 17 de Fevereiro de 2014, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.
Entrevistas feitas em sua casa, na Ericeira, em 02.11.2012 e 09.03.2013.
Francisco Esteves, Março 2013.
[1] Foi fundada em 13 de Junho de 1947 pelas seguintes empresas: “Companhia Colonial de Navegação”, “Companhia Nacional de Navegação”, “Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes”, “Shell Company of Portugal, Ltd.”, “Socony, Vacuum Oil Company”, “Companhia Portuguesa dos Petróleos, Atlantic”, “Sociedade Nacional de Petróleos” (“Sonap”) e “Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos” (“Sacor”). Após 1974, a “Soponata” foi nacionalizada. Em 1993, a privatização fê-la regressar à mão dos seus antigos accionistas, o “Grupo José de Mello”, através das suas participações na “CNN” (“Companhia Nacional de Navegação”) e “Sociedade Geral de Indústria Comércio e Transportes, Lda.” Em 26 de Março de 2004, a “Soponata” foi vendida à empresa norte-americana “General Maritime”.
[2] A empresa foi fundada em 1949, exercendo a actividade como agentes de navegação, de tripulações, de co mércio internacional e de agentes transitários. Representa a “Radisson Seven Seas”, “V. Ships Leisure SAM”, “Princess Cruise Lines”, “Global River Cruises” e “Star Clipper’s”.
MARIA EMÍLIA CARDOSO
Fig. 1 Maria Emília, na Ericeira, em 2008
Maria Emília Cardoso (alcunha “Emília do Fiscal”) nasceu a 9 de Setembro de 1929, em Sarzedinha, Proença-a-Nova, Distrito de Castelo Branco. É filha de João Cardoso e de Adelina Inácio, trabalhadores agrícolas. Com oito anos veio, de camioneta, servir para Lisboa, tendo sido chamada por uma conterrânea que trabalhava na capital. Mais tarde, foi trabalhar para casa de João de Deus Pinheiro Farinha [1], na Rua Cidade de Cardiff. Com a transferência do casal Pinheiro Farinha para Cantanhede, Maria Emília foi para casa da tia materna, que morava em Lisboa, pois não quis ir para Cantanhede.
Em 1947, casou, em Lisboa, na Igreja da Graça, com Marcelino Lopes Gonçalves, nascido em Poiares da Régua, Distrito de Vila Real, ajudante de camionagem. Depois de casados, viveram algum tempo em Lisboa, num quarto.
Pouco tempo depois de casada, Maria Emília e o marido vieram para caseiros da Quinta dos Mogos, em Santo Isidoro. Ao tempo, a Quinta dos Mogos era propriedade de Óscar Cardoso [2]. Os filhos, Maria José Cardoso Gonçalves e Óscar Cardoso Gonçalves, nasceram, respectivamente, em 1950 e 1952, tendo sido ambos baptizados em Santo Isidoro.
Uns anos depois, Marcelino Gonçalves, querendo melhorar a sua situação, saiu da Quinta dos Mogos e foi trabalhar para a antiga adega do “Zé do Casal” [José Pereira], na Ericeira, por solicitação de António Lobo. Pouco tempo depois, Eugénio Caré, concessionário do mercado, contratou-o para fiscal da praça. Daí a alcunha de Maria Emília.
Maria Emília entrou no negócio da venda de peixe, começando por vender sardinhas, carapaus, chicharro e miôto em posta, na Pucariça e em Monte Godel, a pessoas conhecidas.
No fim da primeira metade da década de 1950, arrendou uma banca para vender peixe no mercado ericeirense, que entretanto ficara vaga. Desde o início, Maria Emília teve a colaboração de Maria Argentina Bernardes da Luz Franco Alberto. Maria Argentina trabalhou desde miúda e durante toda a vida com a “Ti” Emília.
Pouco depois, começou a comprar peixe na lota da Ericeira, que ao tempo tinha lugar na Praia da Ribeira. Ficou sempre muito agradecida ao “Bestial” [João Pitas Pereira, 23.10.1920-17.01.1999] pela colaboração que lhe prestou no negócio, incluindo os despiques para compra de peixe na lota, onde era importante disputar o lugar fazendo rápidas correrias pela rampa abaixo. O peixe era transportado da lota da Ericeira para as bancas do mercado pelo “Xico Coxo” [Francisco de Almeida Piloto] e, mais tarde, pelo “Gaivota” [António Magalhães Duarte].
Em 1961, fez a quarta classe na Ericeira com os professores Maria Antonieta e Botelho [António Félix Botelho], aos 32 anos.
“Ti” Emília arrendou o espaço, da actual peixaria, propriedade do seu filho Óscar, quando “Ermelinda do Elisiário” [Ermelinda Galrão Lopes Bernardino], que ao tempo aí tinha um negócio de venda de gelo, para conservar o peixe fresco, deixou de trabalhar. No início, o local servia apenas para armazenar e conservar o peixe adquirido nas várias lotas e vendido na banca da praça.
Maria Emília começou por auxiliar Ermelinda Bernardino na venda de gelo. Depois, vendeu peixe (sardinhas, linguados, etc.), adquirido na lota da Ericeira, em Lisboa, a determinados armazenistas que eram clientes de Ermelinda Bernardino (“Companhia Portuguesa de Congelação”, Luís Roque, Hilário Clima (“Climater”), “Frescal, Sociedade Comercial de Abastecimento de Peixe, Lda.”, Eurotejo, etc.).
O peixe era transportado em carrinhas pelo “Pinta” [Fernando Pereira Bispo] ou pelo “Afonso da Rosa do Adro” [Afonso da Silva Lucas]. O frete era contratado e pago aos referidos motoristas.
Mais tarde, adquiriu uma carrinha e passou a comprar peixe na lota de Peniche, juntamente com outras vendedeiras do mercado da Ericeira. Chegavam a ir sete ou oito (Palmira “Galroa”, Palmira “Rancolha” [Palmira do Carmo], Fernanda da “Repolha”, “Ti” Henriqueta [Henriqueta Mina Dias], Sara Paulita [Sara Paulita Soares], Lucinda do “Ferreiro” [Lucinda da Conceição Luís Jorge], “Ti Maria Neves” [Maria Beatriz Dias], Nazaré do “Mil Homens” [Maria da Nazaré Castelo Pereira], “Ti” Maria Rosa [Maria Rosa Cassapo], Maria dos “Caracóis” [Maria da Silva Cassapo]) na carrinha conduzida pelo “Pinta”. Também iam à lota de Cascais comprar peixe. Vendia linguados, pregados, robalos, pescadas, salmonetes, safios, polvos, raias, etc. Nunca foi «muito de vender caldeiradas». Vendia muito tamboril, sem as cabeças, ao Manuel do restaurante “A Gruta”, que trabalhou na pensão da Maria Berta. Os pratos mais vendidos no restaurante eram a massada e o arroz de tamboril.
Até à década de 1980, o filho andou embarcado na marinha mercante. Com o colapso da marinha mercante nacional em meados da década, Óscar deixou de ter emprego e abriu a peixaria com a mãe e a irmã. A peixaria era propriedade da sociedade Maria Emília Cardoso Gonçalves & Filhos. Mais tarde, “Ti” Emília e a filha Maria José cederam as suas quotas a Óscar Gonçalves, que é o actual proprietário da “Peixaria da Ti Mila”.
Em 2006, após a morte de Maria Argentina, deixou a banca de peixe na praça, pois os seus clientes iam comprar o peixe à peixaria. “Ti” Emília teve banca para venda de peixe na praça da Ericeira durante mais de cinquenta anos. Até 2011, frequentou a peixaria do filho, altura em deixou de poder andar.
Quando lhe perguntei se conhecia canêjas com pintas, a “Ti” Emília respondeu prontamente – «Algumas canêjas têm umas pintinhas. Sim têm umas pintinhas.» Depois acrescentou – «Agora tudo aparece pouco, mas aparece. A pintada tem menos lixa na pele. Aparecia de vez em quando uma, mas a gente não ligava a isso. Era canêja, era canêja. Nenhuma das canêjas tem dentes na boca. Têm uma “serrilhazinha”. Aqui, costumávamos chamar à canêja, cação verdadeiro.
Os cações têm dentes. Com o nome de cação conheço a tintureira, que é azul. O cação pode ser grande ou pequeno. Os cações grandes eram vendidos à posta para caldeirada. Havia cações muito grandes e havia cações pequenos. De há uns anos para cá compram-se os peixes dessa família aos fornecedores sem pele, trazem-nos sem pele, já esfolados».
Em Peniche, chamam “dionísia” à pata-roxa. Ao rodovalho chamam azevia. Às linhaças chamam “linguado espanhol”. Nós aqui chamamos azevias às azevias. Aos gafos chamamos “macacas”.
Entrevista feita em sua casa na Ericeira, na presença da filha Maria José, em 23.09.2012.
[1] João de Deus Pinheiro Farinha nasceu no Redondo em 8 de Março de 1919. Faleceu em 26 de Setembro de 1994. Foi um funcionário importante durante o regime do Estado Novo. Exerceu cargos de direcção nos serviços prisionais. Depois de 1974, foi Procurador-Geral da República e Presidente do Tribunal de Contas (1977/1986). Foi ainda Ministro da Justiça do VI Governo Provisório.
[2] Óscar Aníbal Piçarra de Castro Cardoso foi um conhecido ex-GNR e Inspector da PIDE/DGS (1965-1974). Foi o mentor e organizador dos ‘Flechas’ durante a Guerra Colonial em África.
SERAFIM PEREIRA JÚNIOR

Fg. 1 Serafim Pereira Júnior, em casa, na Ericeira
Serafim Pereira Júnior nasceu na Ericeira a 29 de Novembro de 1930. É filho de Serafim Pereira (09.12.1905-04.03.1978), mestre de pesca do arrasto costeiro, e de Manuela de Jesus Esteves Pereira (14.12.1906-10.02.1973), doméstica.
«Somos nove irmãos – Rosa Esteves Pereira Bispo (“Rosa do Pinta”), Corália Esteves Pereira Arruda, Dario Lopes Esteves Pereira (11.02.1934-01.03.1999), Manuela Esteves Pereira Mano (10.12.1940-03.06.2009), Sofia Esteves Pereira Fontão, Francisco Esteves Pereira, José Alberto Esteves Pereira (falecido) e Joaquina Esteves Pereira».
O pai foi anos seguidos campeão da pesca do arrasto na costa. «O meu pai tinha bons barcos».
Serafim Jr. fez a quarta classe com doze anos, tendo realizado o exame em Mafra. Em pequeno, após sair da escola, ia trabalhar nas traineiras na Praia da Ribeira.
No dia em que fez o exame da quarta classe, regressou a casa todo contente. Por mera coincidência, no mesmo dia, o pai regressou a casa da pesca, vindo de Lisboa, na carreira do “Gaspar” [“Empresa de Viação Gaspar”]. Foi ter com ele e anunciou-lhe a boa nova. Era o único da família com a quarta classe, pois as duas irmãs mais velhas só tinham feito a terceira classe. Perguntou ao pai – «Que prenda é que me vai dar?» O pai respondeu-lhe – «Eu, amanhã, dou-te a prenda. O meu pai ficou nessa noite em casa.
No dia seguinte, de manhã, fui na camioneta com o meu pai para Lisboa. A prenda que ele me deu foi uma viagem de doze dias até ao Sul de Olhão, no Algarve.» A mãe preparara-lhe à pressa uma «roupazinha» para poder ir com o pai.
A viagem, de Lisboa ao pesqueiro, no arrastão “Cabo de Santa Maria”, [1] demorou dezoito horas. «Navegámos durante a noite. Chegámos lá por volta do meio-dia, ou coisa assim, e largámos a rede a 233 braças, com o farol de Olhão, a Norte. Arrastámos pela parte de fora da coroa entre as 233-235 braças, coisa assim, em direcção à Fuzeta. No través do morro, que fica na serra em cima da Fuzeta, dávamos a volta e vínhamos por terra novamente até ao farol de Olhão. Aquilo dava umas dez horas de arrasto. Quero dizer, era um lance de dia e um lance de noite, devido à profundidade».
Até aos catorze anos, Serafim andou a aprender a arte de arrasto com o pai no “Cabo de Santa Maria”, percorrendo toda a costa portuguesa – Arrifana, a Oeste do Cabo de S. Vicente, Sines, “Mar do Chapéu”, Sesimbra, “Risca” [2], em frente ao Cabo Raso, “Céu de Abraão” [3], por Norte da “Risca”, “Pombal” [4], em frente à Barra de Lisboa, “Cabo Feito” [5], também em frente à Barra de Lisboa, “Ericeira” [6], “Mar Novo da Ericeira” e “Mar da Areia”; a Norte, no “Arranha”, no fundão em frente da Nazaré, do Farrilhão para Norte, até S. Pedro e “Mar de S. Pedro”. Recebia do pai uma caldeirada maior de peixe, no valor aproximado de 250$00-300$00 escudos, pois não podia ser moço. Não tinha cédula marítima, nem podia ser remunerado pela companha. Pescavam com uma rede de arrasto inglesa de 180 pés, no arraçal, feita na Fábrica do Santiago, na Rua Pinto Ferreira, à Junqueira, que era ao tempo patrão e armador.
«A rede inglesa é composta por asas (de cima e de baixo), quadrado, barrigas e saco. A asa de baixo vai pegar às barrigas, da parte de baixo, que é o que faz o redondo da rede. O quadrado vai pegar às barrigas da parte de cima. O centro das barrigas, por exemplo, dependendo da rede, pode ter 150 malhas. A malha tem 8cm. A dimensão da malha é definida por lei.
Na costa, a polícia andava com uma bitola, para controlar a dimensão da malha. As asas tinham malha de 8cm. As barrigas, malha de 6cm. Na malha do saco não cabia o dedo. Forrávamos o interior do saco com rede traineira. Fazíamos umas alcinhas no saco. Aquilo era porfiado. Quando vinha o barco de guerra cortávamos as alcinhas e a rede caía junto com o peixe. Quando os fiscais perguntavam:
– Mas você usa essa rede?
Nós respondíamos:
– A rede veio junto com o peixe.
Quando o saco estava à borda, a gente cortava logo as alcinhas. A rede caía juntamente com o peixe e eles não podiam pegar».
Até aos dezasseis anos, Mestre Serafim andou também ao mar nas lanchas da Praia da Ribeira com “João Camelão” [João Pitas Pereira], “Inhoco” [António da Costa Arruda] e “João Pestana” [José dos Reis Marques], casado com uma irmã da mulher do Elisiário [Elisiário Bernardino]. Pescavam linguados com redes de emalhar e tresmalhos («redes com “albitana”») e armavam aparelhos.
«Antes dos pios [7] não havia redes. Os pios foram os primeiros a trazer redes cá para a Ericeira.
O barco do “Tó Quim” [Joaquim Rodrigues], pai do José Miguel [José Miguel Conceição Rodrigues], andava ao aparelho. Era ao tempo a maior lancha da Ericeira. Mais tarde, a lancha foi vendida ao Silva, cuja mulher era empregada no Correio, tendo sido modificada por Mestre Policarpo e equipada com um motor usado. Foi uma das primeiras embarcações a ser motorizadas na Ericeira. O arrais passou a ser o “Galdera” [Filipe António Inácio], pai do “Xico Porras”. O “Galdera” [Filipe António Inácio (06.03.1909-06.09.1977)] e o “João Pestana” andavam também ao aparelho».
Serafim Pereira ainda se recorda bem deste episódio – «O barco onde andava o “Galdera” raramente encalhava na praia, só o fazia quando estava mau tempo, mas não vinha cá para cima, abicava só na areia. Muitas vezes, o “Galdera” vinha para terra às costas do “Mau Olho” José [Elisiário Castela Mira, (Ericeira 15.09.1924-06.12.1986)], de “chinelinhas”.
Uma vez, a malta cá de cima começou a gritar “Vai ao mar!”, “Vai ao mar!” E, o “Mau Olho” que já estava farto de “alombar” com ele às costas lançou-o à água», para gáudio e satisfação da malta.
Foi aluno da Escola Elementar de Pesca da Ericeira, criada no âmbito da “Casa dos Pescadores”, situada no Forte, onde aprendeu com o delegado marítimo Santa Rosa, «tudo sobre marinharia, cartear a agulha, nós, redes, coisas de anzol, etc.».
Em 23 de Janeiro de 1945 inscreveu-se na Delegação Marítima da Ericeira com o número de matrícula nº 1.260. Tinha apenas catorze anos.
Em 1945, um aluno da escola de pesca, inscrito na pesca do bacalhau, adoeceu e o “Comandante” Santa Rosa veio buscá-lo à Ericeira, para frequentar, durante dois meses, a Escola Profissional de Pesca, em Pedrouços e poder depois embarcar para o bacalhau como aluno da referida escola, em substituição do que ficara enfermo.
«O Capitão, Forte Homem, do lugre “Brites” [8] era muito amigo do meu pai. O meu pai quando passava por Belém dava caldeiradas à tripulação». Com catorze para quinze anos, embarcou «de charola» no lugre motor “Brites”, navio com quatro mastros, para a pesca do bacalhau, de ajudante de cozinha, rumo à Terra Nova. A mãe teve de fazer a roupa à pressa para poder seguir para o bacalhau. O irmão Dario também foi ao bacalhau, dois anos depois, no mesmo navio. «Não fui para o peixe. Estava sempre no quentinho».
A sua função a bordo era «fazer o comer para o pessoal», descascar batatas, fazer arroz de bacalhau, sopa de feijão com massa ou arroz, que nos primeiros dias levava hortaliça, depois não, chora – sopa de restos de bacalhau –, feita de pedaços, que caiam durante a escala, e arroz. A chora ou xerém não levava caras, por que as caras eram aproveitadas. Era feita a partir de um refogado de azeite, pouca cebola e água. «A cebola era a ver ao longe». Era servida logo de manhã.
As refeições eram à base de peixe cozido, frito, «aproveitavam-se as piores partes do bacalhau para a gente comer», e de carne salgada da Argentina, em barrica. Às refeições eram servidas borras de café e água. Não havia vinho. Só havia nos primeiros dias. «A viagem demorou seis meses, três dias e quatro horas».
Em 1946, ainda com quinze anos, depois de regressar da pesca do bacalhau, voltou a embarcar no arrastão costeiro “Cabo de Santa Maria” com o pai, de mestre de pesca (entre 13.01.1946 e 13.11.1948 e entre 10.10.1949 e 12.11.1949). Andou de moço, de marinheiro e de contramestre com o pai.
Em 1947 (?), aos dezasseis anos, casou com Júlia Ferreira Freire, filha de Júlio “Catanicha” [Júlio Gervásio Freire] de quem teve duas filhas – Manuela Freire Pereira e Maria da Conceição Freire Pereira.
«Depois de sair do bacalhau andei na pesca do arrasto (costeiro), de moço, nuns barquitos pequenos, chamados “pirolitos”. Eram uns barquitos do Seixal. Pescávamos em frente à Barra de Lisboa, por aqui e por ali. O mais longe que íamos era à Ericeira».
Serafim embarcou, de moço pescador, no “Capitão Bella” [9] pertencente a Júlio Augusto Bagão Bella (04.02.1950-06.04.1951). «O “Capitão Bella” era um dos melhores barcos da Ribeira, naquela altura».
Em 24 de Junho de1952, obteve a carta de exame para marinheiro pescador.
Em 28 de Março de 1954 fez a recruta. «Até que fui para a tropa em Cavalaria, Regimento de Lanceiros 2, na Calçada da Ajuda em Lisboa. Estive lá dezoito meses. Fui praça».
«Quando saí da tropa, andei na pesca em Cabo Branco, no “Altair” [10]. As redes inglesas de arrasto em Cabo Branco eram maiores, do que as utilizadas na pesca costeira».
Serafim Pereira embarcou, como paioleiro, no “Altair”, da Companhia Portuguesa de Pesca, entre 17.09.1952 e 06.12.1952 e entre 02.02.1953 e 06.06.1954. Voltou ao arrasto costeiro, como marinheiro, no “Atlante” (26.10.1954-19.11.1954) e no “Seixalense”, de João Lopes, do Seixal (28.02.1955-19.04.1955).
«Até há idade de 25 anos. Depois de ter feito a tropa, embarquei com o meu pai, outra vez. Andei um tempo com o meu pai. Não me dava bem com o meu pai. O meu pai era muito duro para mim.» Tinha que dar o exemplo. A determinada altura não aguentou mais. «Desembarquei e fui para os barcos da Ribeira Nova. Eram barcos com 30m e motores de 400, 500 cavalos, “Deutz”, “Mack”, “Lister”. Eram motores possantes».
«Um dia, o contramestre do barco do meu pai caiu no porão. Era o Joaquim “Ratinho”, pai do “Zé Ratinho”. Morava nas escadinhas ao lado do “Xico Porras”. O porão era armado com panas para se congelar o peixe. Partiu-se uma pana e o homem caiu por ali abaixo e partiu as costelas. E, aqui, vai começar o meu calvário. Andava num barco bom (“Seixalense”). O meu pai mandou-me chamar para ir de contramestre com ele. Desembarquei para ir de contramestre com o meu pai. Mas, o caso é este:
– Quando eu estou no frigorífico de Santos, à espera que o capitão chegasse para lhe dar os documentos, entretanto chega o meu pai e mais o engraxador dele.
O meu pai chegou de táxi, mais o gajo, que era o bufo dele, que era de Cascais também, e era padrinho duma filha que ele tinha fora do casamento. Mal chegou, disse-me:
– Então? Já falaste com o capitão?
Respondi-lhe:
– Sim. Já falei com o capitão. O capitão já leva os documentos e vai para a capitania.
E, depois virou-se para mim e perguntou-me:
– Ouve lá. Sabes em que condições é que vais?
Respondi:
– Sei. Vou de contramestre.
Disse-me:
– Tu vais de contramestre, mas quem faz o lugar é este, o “Cana Doce”, e ele é que ganha o dinheiro de contramestre. Tu ganhas de marinheiro.
Observei-lhe:
– O quê? Então, eu estava num barco, você chama-me para vir de contramestre consigo e agora você diz-me isso.
Desatei a correr. Fui a correr atrás do capitão e ainda o fui apanhar à cancela do comboio de Cascais. Disse-lhe:
– Meu capitão. Dê cá os documentos.
O capitão deu-me os documentos e voltou para trás. Já não foi para a capitania. Eu vim para o pé do largo. Nas descargas, havia uns estrados grandes e altos, em madeira, para os homens da descarga não arrefecerem tanto, não terem os pés dentro de água, durante as descargas. Eu estava ali, em cima daquilo e tal, e as lágrimas caiam-me pela cara abaixo.
O meu pai foi para dentro do escritório da polícia, que estava dividido em dois. Havia o escritório do Comandante da polícia e o escritório onde estava o gado velho da polícia, o gado menor da polícia. Entretanto, o Santiago chegou e perguntou ao meu pai:
– Então, Serafim o rapaz vai ou não vai?
O meu pai respondeu:
– Não, ele não vai, não quer ir.
O Santiago disse para o encarregado:
– Chama-o lá.
E, mandou o encarregado da descarga chamar-me. O encarregado chegou ao pé de mim e disse-me:
– Oh, Serafim, anda lá falar com o Sr. Santiago.
E, eu fui falar com o Santiago. Estava o Santiago, o encarregado da descarga, o gerente, o meu pai e o Santiago perguntou-me:
– Tu não queres ir com o teu pai?
Eu respondi:
– Não, Sr. Santiago».
Por pressão e insistência do Sr. Santiago embarcou de contramestre com o pai.
Certo dia, o barco saiu de Santos, parou em Cascais ao pé dos Pilotos da Barra para o pai sair, pois ia começar os tratamentos no dentista. «O meu pai disse-me:
– Vou ficar em terra. Tu, agora vais com o capitão e tu é que vais pescar. O capitão leva-te ao pesqueiro e tu orientas-te.
Quando o capitão chegou ao pesqueiro, eu já sabia. Estava sempre a marcar. Fiz o arrasto e quando cheguei à noite a Cascais disse-lhe que tinha apanhado dezassete toneladas de peixe, chicharros, marmotas, gorazes».
No dia seguinte, o pai entrou para o navio e foram descarregar o peixe a Santos. Enquanto duraram os tratamentos do pai, o processo repetiu-se. O pai partia de Santos no barco e desembarcava em Cascais e ele ia pescar. Quando regressavam a Cascais, o pai embarcava para ir descarregar o peixe a Santos.
Arrastavam em Sines, no “Mar do Avião”, que «fica por fora de Sines, na fundura, a 326 braças (apanhava-se camarão encarnado e caranguejo), no “Mar do Chapéu”, situado no focinho do Cabo Espichel, no “Cabo Feito”, no “Pombal”, por fora do “Cabo Feito”, a treze milhas de Cascais («largava a rede a noventa e três braças, e ia pelas cento e cinco, pela bordada do fundão, até o fundo dar para Nordeste; dava a volta e regressava às noventa e três braças», local em que virava a rede), no “Mar da Ericeira”, no “Mar de Sintra” [11], por “Sudoeste da Berlenga” [12]. O peixe era descarregado na lota, em Santos.
«A pescarmos no Algarve, na beirinha, a Sul de Olhão, apanhávamos camarão encarnado, que deitávamos fora. Nessa época, ia até nós uma lanchinha de Olhão e dávamos-lhe os carabineiros. Eles traziam-nos coelhos e galinhas. Eu era contramestre do meu pai. Fazia a malandrice de meter por baixo do camarão pescadas e outros peixes. Depois não me faltava em casa bolos, galinhas de figo, doces de amêndoa do Algarve, coelhos grandes, “murgeronas” [13], para apanhar safios. Eu dava o arame e havia gajos na Ilha da Culatra que as faziam e eles traziam-nas para mim.
Uma ocasião, o Sr. Santiago disse para o pai:
– Então, Oh, Serafim, afinal o rapaz safa-se.
E, o pai respondeu-lhe:
– Safa-se o quê! Sr. Santiago.
O Sr. Santiago observou-lhe:
– Olha que eu sei tudo. Eu sei que tu ficas em terra e quem pesca é ele. Eu sei tudo o que se passa. Estou informado de tudo».
Uma vez, o pai foi visitar o armador António João, que era proprietário de armazéns de sal, perto da Estação do Cais do Sodré. Este perguntou-lhe o que achava da ideia de empregar o filho Serafim, pois precisava de um rapaz novo para o barco “Comandante David de Carvalho”, que tinha adquirido recentemente, visto que o mestre que lá andava não fazia nada. O pai respondeu-lhe que o filho era maluco e aconselhou-o que empregasse antes o João Manita, de Setúbal. E assim foi, Serafim foi mais uma vez preterido. Continuou, contudo, a andar com o pai.
«Passei uma vida de sacrifício na pesca com o meu pai. Nunca me ensinou nada. Eu, é que me metia atrás da ponte, a tirar os apontamentos.
O que sei dizer, é que de quatro filhos, que andaram todos ao mar, o meu pai não ajudou nenhum. Só atirava com eles abaixo.» As relações laborais e pessoais entre ambos foram-se deteriorando ao longo do tempo. A partir de certa altura perdeu-lhe o respeito. Andou a pescar com o pai, durante mais três anos, dos 25 aos 28 anos.
«O meu irmão “Xico” foi para a Alemanha por causa do meu pai. Foi marinheiro com o meu pai. O meu pai era mestre de pesca, não tinha carta para governar o barco. O António Pinheiro andava de mestre de leme. Era compadre do meu pai. Era algarvio, mas morava em Cascais. Chegou a dizer ao meu pai:
– O seu filho “Chico” tem carta de mestre, porque é que ele não fica aqui de mestre consigo. Eu tenho facilidade em ir para outro barco.
O meu pai disse-lhe:
– Não! Não! Não!
Esse homem, hoje, está em Cascais numa barraca a vender búzios à beira-mar.
Um dia, o homem já estava tão farto de o aturar, chamou o meu irmão e disse-lhe:
– Oh, Xico, anda comigo.
Foram os dois ao escritório do armador, e o mestre disse ao patrão António Ferreira:
– Sr. António Ferreira vou me embora. Dê-me o desembarque. Aqui, o filho do mestre Serafim fica de mestre.
Quando o meu pai chegou a bordo e perguntou pelo mestre António, o meu irmão respondeu-lhe:
– O mestre António não está cá.
O pai perguntou-lhe:
– Então? Quem é o mestre?
O meu irmão respondeu-lhe:
– O mestre, sou eu.
E, o meu pai teve de o “gramar”.
O meu irmão “Zé Alberto” foi motorista comigo. O meu irmão andava de motorista nos cacilheiros em Lisboa. Eu, é que o chamei para a pesca. Trabalhou cinco anos comigo».
Serafim Pereira andou, de contramestre, no “Cabo de Santa Maria 1º”, da “Casa dos Cabos” [14], com escritórios na Junqueira, em Lisboa, entre 29.04.1955 e 16.06.1955 e entre 11.10.1956 e 26.09.1958, e no “Eduardo Lopes”, de Eduardo Ascentão, proprietário de uma oficina na Doca do Pinho, actual Doca de Santo Amaro, entre 11.12.1958 e 03.04.1959.
Certo dia, quando estava atracado em Santos, Luciano, um rapaz algarvio, que andava no “Almada” disse-lhe que Inácio Ferreira, armador com escritório na Avenida 24 de Julho, proprietário do barco “Belo Horizonte” não estava satisfeito com o Mestre Pescarreta. Andava à procura de um rapaz novo para encarregado de pesca da referida embarcação. Resolveu ir falar com ele.
Quando entrou no escritório de Inácio Ferreira este perguntou-lhe quem era e se tinha conhecimentos de pesca. Respondeu-lhe que era contramestre e que quando o pai ficava em terra quem pescava era ele. De seguida perguntou-lhe:
– “E, então quem é o seu pai?”
Respondeu:
– É o Mestre Serafim do “Cabo de Santa Maria.
Inácio Ferreira disse-lhe:
– O lugar é seu! O lugar é seu!
Era dia 27 de Março de 1959, Inácio Ferreira disse-lhe para desembarcar para poder pegar no início do mês seguinte.
Embarcou, como encarregado de pesca, no “Belo Horizonte”, de Inácio Ferreira, “ship chandler”, com escritório na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, entre 03.04.1959 e 03.06.1959 e entre 03.07.1959 e 09.05.1960, no “Socorena” [15], do Capitão Bella, do Exército [Júlio Augusto Bagão Bella] (14.05.1969-04.06.1960), novamente, no “Belo Horizonte” (14.06.1960-18.08.1960), como contramestre, no “Luís Henrique” (31.10.1960-23.12.1960) e, como encarregado de pesca, novamente, no “Belo Horizonte” (03.02.1961-26.07.1961).
«No Espichel, eu andava a pescar no “Regueirão”. A ponta do Espichel [vista do mar] tem uma retela (um intervalo), uma igreja e depois por fora, antes do farol, um cruzeiro.
Por exemplo, estou na Fonte da Telha em trinta braças de água. Por cima da Fonte da Telha aquilo é tudo mato. Existiam três caminhos. Quando os caminhos estavam abertos, podia-se andar a pescar, para fora, para a terra, com os caminhos abertos. Ia por trinta braças e, quando o cruzeiro estava quase encostado à igreja metia proa nele. Quero dizer, media ali uma braça, desviado e metia proa nele. O fundo afundava, baixava, afundava, baixava. Passávamos por dois cabeços, quando chegava à parte Sul começava a baixar, a baixar e a quarenta e cinco braças era pedra.
Uma ocasião, no “Belo Horizonte”, eu vou a fazer esse trabalho e quando cheguei às quarenta e cinco braças chamei o pessoal para ir apanhar a rede. No momento em que o rapaz que estava à ré, ia largar os cabos da patesca, eu puxei para fora para atravessar o barco, que era para ir à rede, o fundo começou a afundar, começou a afundar, começou a afundar. Ele chamava-se José João e eu disse-lhe:
– Oh, Zé João não largue! Não largue!
Começou a afundar. Comecei a apanhar 52, 54, 52, 54, 52, 54 braças, e o barco ia a caminho de Sudoeste. A caminho da ponta do Espichel e foi a 52, 54, 52, 54 braças, durante uma hora e tal. Até que, dou com uma serra de pedra, uma pedra alta, de umas vinte e cinco braças de pedra e disse:
– Vamos à rede!
Quando as portas de arrasto vieram à borda, ainda faltava 100m de cabo, isto é, as malhetas de 100m. O saco apareceu logo ao de cima de água. Quando vi aquela lama, antes do saco aparecer, até me assustei. O saco parecia uma estrada por cima da água. Eram barrigas, era tudo cheio de peixe. Quando o saco chegou à borda, levámos algumas sete vezes para meter o peixe todo dentro. Aquilo era aí onze horas da manhã. Naveguei para Cascais. Depois de descarregarmos o peixe para as chatas em Cascais, a lota ficou cheia de peixe e mais ninguém descarregou.
No outro dia, voltei a repetir o mesmo. Depois, ensinei este pesqueiro ao meu pai. O meu pai depois ensinou a outros.
De vez em quando, era preso por andar a arrastar dentro da zona proibida. Mas, o Serafim era muito aventureiro.
Um dia, quando fui para mestre do “Belo Horizonte”, pescava pelas 52, 56 braças, de Sines para o Norte, pensei – Isto é capaz de passar por fora. Fazíamos duas horas para Norte pelas cinquenta e tal braças, mas nunca pensámos em passar para as quarenta e tal. Eu ia a arrastar para Sul. Fiz duas horas e meia, porque o barco arrastava menos que o “Cabo de Santa Maria”. Passei para fora e estava peixe a montes».
Em 30 de Outubro de 1959, na qualidade de encarregado de pesca, Serafim Pereira foi punido com sessenta dias de multa correspondentes às soldadas, por ter desobedecido ao seu mestre e ter lançado a rede na zona proibida dando origem a que o mesmo fosse autuado por esse facto pelo Comando do draga-minas.
Vejamos a sua versão dos factos – «Estava a pescar por fora da Caparica, ao Sul da Barra, a escapar o enfiamento da Barra, quase às escuras. Andávamos a apanhar línguas e robalos, peixes que vinham do rio. Os barcos que saíam de Lisboa para Sines, para ir apanhar chicharro, passavam por ali.
O homem, de um desses barcos, que vinha ao leme era cego de uma vista. O mestre de leme tinha ido tomar café à cozinha. O barco vinha direito a mim. Ainda o vi a correr no convés para a ponte, mas já não chegou a tempo. O barco veio direito a mim. Deu-me uma castanhada. Abriu a proa e foi para o fundo. O meu barco, o “Douro” [16] ficou cortado. O meu mestre de leme, o Marcelino, safou-se dizendo que eu tinha largado ali a rede sem autorização dele».
«Andei cerca de três anos no “Belo Horizonte”, até ser vendido para o Norte. O navio tinha uma máquina fraca. Era uma “Modag” [17] de 440 cavalos. Não se conseguia apanhar chicharro, só se o chicharro estivesse cego, mas às vezes apanhava-se».
«Hoje, fala-se muito em corrupção. Quando andava no “Belo Horizonte”, eu fui, na pesca, talvez o gajo que mais corrompeu. Eu gostava muito de pescar no Cabo Espichel.
Ao fim de semana, a vedeta “Espadilha [18]” estava atracada no Arsenal. Só saía para o mar à Segunda-feira por volta do meio-dia. Quando fui trabalhar para a Doca Pesca, eu engodava o gajo que estava encima na torre da Doca Pesca com peixe e ele passava-me o sinal. Através do rádio informava-me – Serafim, olha que a água vai abaixo. Era a “Espadilha” que vinha a sair do Arsenal. Ele lá de cima via a “Espadilha” a sair e dava-me o sinal e eu tinha tempo de fugir para fora da zona proibida.
Uma vez, eu tinha uma teca de peixe valente. Já andava a pescar há três dias e meti-me fora do Cabo Espichel, às sete milhas. Eu sabia que a “Espadilha” ia passar ali. Veio da Barra direito a mim. Quando chegou ao pé de mim, o Comandante através do aparelho disse-me
– Oh, Mestre, olhe que você está quase a queimar.
E, eu disse-lhe:
– Oh, Senhor Comandante, olhe que eu tenho radar e sei que estou a sete milhas.
Estava numa espécie de coroa que faz ali. Era pequena e está a sete milhas. Eu disse-lhe:
– Oh, Senhor Comandante, olhe que eu não estou a queimar estou a sete milhas.
Respondeu-me:
– Está bem. Eu vou para Sesimbra, mas olhe que estou de olho em si.
O gajo, já ia a andar, para ir para Sesimbra e eu disse-lhe:
– Oh, Comandante quer uma caldeirada?
O gajo parou logo a máquina. Arrearam uma baleeira. E, eu dei o peixe todo que tinha a bordo, lagostas, gorazes, tudo, tudo. Eu dei tudo ao Comandante. A popa do barco de guerra parecia uma lota.
Quando vieram devolver as canastas trouxeram um barril de vinte litros de vinho e uma garrafa de brandy. O sargento veio ter comigo à ponte e disse-me:
– Oh, Mestre, está aqui esta garrafinha que mandou o Comandante e está lá um barril de vinte litros para o pessoal. Depois, vocês têm que nos devolver o barril. E, o Comandante manda dizer que vamos para Setúbal e só saímos passados dois dias, ao meio-dia e meia hora. O mestre pode andar à vontade.
E, era! Eu só era preso se aparecesse um draga-minas, ou um barco que não fosse o dele. Isto durou seis anos. Eu depois passei para outros barcos. Eles eram rendidos de dois em dois anos, mas antes de aquele que estava, sair, andava um mês com o novo Comandante. Estás a perceber a jogada?».
Serafim Pereira andou, de encarregado de pesca, no “Mestre Manuel Mónica”, pertencente aos Mónicas, proprietários dos estaleiros da Gafanha da Nazaré, entre 09.12.1961 e 10.01.1962 e, como mestre de pesca, no “Lusito”, propriedade da “Casa dos Lusos” [19], entre 25.05.1962 e 06.07.1962.
Em 11 de Outubro de 1962, Serafim fez exame, na Capitania do Porto de Faro, para mestre de cercos, galeões, traineiras e demais embarcações de pesca costeira, ficando aprovado. A partir daqui, passou a poder governar os barcos pesqueiros. O cargo de encarregado de redes dizia respeito apenas ao aparelho, não permitia governar o barco. «Quando comecei de mestre, eu ganhava 6% e tinha um ordenado pequeno, não me lembro do valor. O mestre de leme tinha 2%, o contramestre e mestre de redes 1,5% e os marinheiros 0,7%».
Embarcou, de mestre de pesca, no “Madragoa”, propriedade de Meloas, construtor naval do Seixal e sócio do “Henrique Penicheiro (pai)”, da Ericeira, entre 10.12.1962 e 16.04.1963 e no “Luta pela Vida”, arrastão lateral, do Sr. Bandeira, com escritório no Cais do Sodré, entre 1963 (?) e Dezembro de 1964 (?).
Uma vez, «eu estava a arrastar por fora da Roca [20] no “Luta pela Vida” e andava também o Mário Lopes no “Helena Vilarinho” que tinha descoberto um “bocado de mar”. Chegava a Cascais com cada “pescadona”; pescadas grandes. Pensei – É aqui que este sacana anda a apanhar as pescadas. Meti-me por fora dele, de Norte para Sul, no “Mar do Céu de Abraão” a observá-lo.
Ele ia para fora e vinha para terra e fui marcando a zona pelo farol e pela Azóia. Quando ele menos esperava, eu, zás, metia proa a terra, e o gajo ficava todo fodi... comigo. Mas eu não liguei, era de noite e estava lua. Ele foi para Cascais vender e eu fiquei a pescar com a lua. De noite, com a lua, ainda dava mais peixe. No outro dia, quando cheguei a Cascais o gajo ficou bera. Eu fazia aventuras destas».
Em 26 de Maio de 1964, Serafim Pereira, na qualidade de mestre da embarcação “Luta pela Vida” por ter sido encontrado a arrastar a menos de três milhas da costa, foi condenado a quarenta dias de prisão e a apreensão da carta e Cédula de Inscrição Marítima por noventa dias.
Segundo Serafim Pereira passou-se o seguinte – «Estava a pescar em frente à Barra de Lisboa. Era onde dava mais peixe. Foi ali quase encostado a Cascais. Havia um barco a arrastar ao pé de mim. Veio o barco de guerra do Norte, de Norte para o Sul. Nós estávamos sempre à espera que o barco de guerra viesse da Barra como era costume, do Espichel ou coisa assim. O gajo vem direito aos dois. O que é que faço? Corto os cabos. Dou a volta e vou direito a Cascais. Deixei a rede no fundo. O Comandante prendeu o outro, não me prendeu a mim, por que o outro tinha o saco cheio de peixe. E, o gajo disse para o Comandante:
– Então você prendeu-me a mim e não prendeu aquele?
O Comandante respondeu-lhe:
– O barco vai a navegar!».
Serafim ficou debaixo de olho do Comandante do draga-minas. «Passados dias, estava a pescar com Nortada de esgalhar, o escatel da roda do guincho estava arrasado. O mar estava cheio de vento. Queríamos virar o aparelho para dentro e não conseguíamos. Quando o draga-minas da fiscalização chegou, eu não conseguia meter a rede dentro. O Comandante dizia para eu meter a rede dentro. Eu dizia que não podia. Ele repetia. Até, que me mandou seguir para Setúbal. E deu-me essa porrada».
Serafim voltou a embarcar, de mestre de pesca, nos arrastões “S. Gonçalo”, de Bagão, Nunes & Machado, Lda., sediada na Avenida 24 de Julho (01.03.1965-31.03.1965), no “Lavanco” (01.04.1965-28.07.1965) [21], da “Empresa de Pesca Jamar, Lda.”, sediada em Matosinhos, no “Luso”, da “Casa dos Lusos” (01.10.1965-22.10.1965), no “Bussaco” [22], de “Bagão, Nunes & Machado, Lda.”, (23.10.1965-06.06.1966), novamente, no “Luso” (25.04.1967-29.04.1967), no “Alfredo José”, da “Casa dos Lusos” (01.05.1967-04.12.1967), no “Marisco”, antigo “Luta pela Vida”, que foi modificado para arrastão pela popa, depois de ter sofrido uma avaria na máquina (27.12.1967-12.11.1968), como encarregado de pesca, no “Comandante David Carvalho”, de Meloas, (13.11.1968-03.05.1969) e no “Cigala” (03.05.1969-21.05.1969), de António Feu, proprietário da “Fábrica de Conservas Feu Hermanos, Lda.”, de Portimão, e novamente, como mestre de pesca, no “Marisco” (24.08.1969 (?) [23]-27.08.1970).
Mestre Serafim pescou sempre em arrastões laterais até embarcar no “Marisco”, altura a partir da qual passou a pescar em navios de arrasto pela popa.
«O “Zé do Norte”, natural da Costa de Lavos, na Figueira da Foz, sabia que eu conhecia o comandante da “Espadilha” e desafiou-me para ir de mestre com ele no “Luso”. Fui de mestre. A gente estava a pescar e apareceu a “Espadilha”. O Comandante disse para o mestre:
– Oh, Mestre, meta a rede dentro!
Repetiu:
– Oh, Mestre, meta a rede dentro!
O “Zé do Norte” estava lá em cima e disse-me:
– Oh, Serafim, ele está a mandar pôr a rede dentro.
Estávamos a escolher o peixe. Arreei as botas para baixo, e disse ao mestre:
– Meta-se lá dentro do camarote.
Ele meteu-se dentro do camarote. Eu cheguei à aba da ponte e acenei-lhe com a mão. Ele reconheceu-me e disse-me:
– Então, Oh, Serafim, você agora anda aí?
Respondi-lhe:
– Ando sim, Sr. Comandante.
O Comandante perguntou-me:
– E, então a pesca?
Respondi-lhe:
– A pesca é fraca, Sr. Comandante! A pesca é fraca, Sr. Comandante!
O Comandante disse-me:
– Então está bem. Adeus.
E, seguiu».
«Entretanto, dá-se uma barafunda. Souberam que o barco de guerra tinha estado ao pé da gente, e tal. Os patrões diziam-me:
– Você, ainda vai preso!
O encarregado da descarga em Cascais, chamado Silvino, é que fazia a barafunda. Os patrões mandaram chamar todos os mestres. Entrei para dentro do escritório. Um deles, o Almirante Uva, virou-se para mim e perguntou:
– Oh, Serafim, você tem carta de mestre?
Respondi-lhe:
– Tenho sim, Sr. Almirante.
O Almirante disse-me:
– Está bem.
Depois chamou os outros mestres e disse:
– O “Zé dos Reis” fica no “Luso Arrasto”, o “Zé Casado” fica no “Lusito”, o “Zé Rato” fica no “Luso” e o Serafim vai governar o “Alfredo José”.
Houve ali uma revolução, porque o “Zé do Norte” [José dos Santos Soares Arsénio], natural da Ericeira, andava de mestre no “Alfredo José” e ficou sem o lugar, porque havia ali uma ciganagem. Estava feito com o gerente, que era um rapazito chamado António pertencente à família dos patrões. Ele ganhava 5%, mas só recebia 3%, porque os outros 2% iam para a mão do gerente. Ele não se importava que o barco fizesse pouco dinheiro, queria era o dele. Descobriu-se a “marosca”.
A partir desse dia, o “Zé do Norte” deixou de me falar, nunca mais me falou. Mas, eu não tive culpa. O patrão é que mandava. Andei nesse barco, uma teca de tempo. O “Luso” andou muito tempo na Figueira. O mestre andou lá um tempo. Não se deu bem com o barco e veio para o Sul. Eu passei para o “Luso” e o “Alfredo José” foi para o Norte. E, qual era o problema lá no Norte?
A Barra da Figueira da Foz era muito baixa e os barcos quando entravam batiam com no fundo. Por isso, é que os barcos da Figueira da Foz têm a quilha forrada com ferro por baixo como têm os barcos da Ericeira. Quando havia um bocadito de mar, o mar galgava em cima dos barcos. Se entrassem com meia maré, era um caso sério. Ao Norte, pesquei até S. Pedro».
«Em Sines, chegavam a estar quinze, vinte barcos a pescar ao chicharro, ao lado uns dos outros. A sonda mostrava o fundo e por cima fazia uns tracinhos; era o chicharro. Por exemplo, na “Malha Grande”, que dava pargo, a sonda dava umas bolhas.
Eu cheguei a andar a arrastar em Sines a noventa braças com um barco do Mestre Mónica. Ninguém arrastava aí; era eu só. Porque a noventa e duas braças está-se na parte Sul do fundão. A noventa e duas braças existe um peguilho, uma pedra, onde os pescadores de Sesimbra iam apanhar pescada, à linha, à mão, não era aparelho, era à mão. Eu sabia que a pedra estava ali, por que eu via-os lá a pescar e vinham ter com a gente, a pedir peixe-rato. O peixe-rato deita um líquido na barriga, que depois era esfregado na isca e fazia candil. Eles vinham pedir-nos o peixe-rato, que deitávamos ao mar, para fazer isso.
A linha tinha o anzol em baixo com sardinha. Uma braça acima tinha um bocado de pata-roxa esfolada, cortada a meio. Os pescadores esfregavam esse candil na pata-roxa para dar luz. O peixe está ao longe, vê a luz, vai e depois vai à isca, que era sardinha. Eu descobri isto por eles.
Uma ocasião, fui largar lá a rede, no barco “Mestre Manuel Mónica” e o fundo marcava aquilo. Ao fim de duas horas, que grande teca de chicharro e pescada! Fui logo descarregar a Setúbal.
No “Mar da Areia”, que deu o nome ao restaurante daqui, o meu pai andava a arrastar em Setúbal no “Gamba”. Andei num barco igual e vim-me, embora por causa dele, logo ao fim do primeiro dia. Andava ele e um barco, dos mais modernos, o “Joaquim Fernandes”. Iam a arrastar, na minha frente. Eu andava no “Alfredo José”. Pensei – O que é que eu vou a fazer atrás deles? Não vou fazer nada. Vou fazer uma habilidade. A serra de Sintra [avistada do mar] tem o Castelo e a Pena, no meio da serra. Ao Palácio da Pena chamamos Nossa Senhora. Cá fora da serra existe um convento que a gente chama a Peninha. Por terra da Roca existe um triângulo, que é amarelo. Um triângulo nas ribas, junto ao mar, que a gente chama o “Triângulo”. O arrasto faz-se com a Peninha ao “Triângulo”. O que é que eu faço? Meti a Peninha ao “Combro do farol”. Quero dizer, tem o farol da Roca. Depois tem a ponta do farol e um bocadinho por dentro para o Norte, por dentro do farol, visto de longe, faz uma cova escura. Faz por dentro uma sombra escura, chama a gente o “Combro do farol”.
Eu meti a Peninha ao “Combro do farol” e larguei a rede. Fui por aí fora. O meu pai dizia [via rádio] – “Oh, pá, vais para aí! Ficas sem rede!” Cheguei lá fora às noventa braças e dei a volta para terra. Regressei para terra pelo mesmo sítio. Quando eu fui à rede, ai mãe! Tinha o saco cheio pela boca de chicharro. Deu trinta e duas lagostas. Mas lagostas da pedra. A rede vinha espicaçada por baixo do coral, descasquei-a logo. O meu pai nunca ia para aquele sítio».
«No arrasto lateral, quando a rede ficava presa, tínhamos a paciência de dar a volta, largar os cabos. Como o barco arrastava pelo lado, tinha uma patesca à popa. Depois de largar os cabos, ficava um homem à popa e outro à proa a virar a rede. Dávamos a volta devagarinho, devagarinho e metíamos o aparelho a pique. Às vezes, a pique, partia e vinha. Quando não partia deixava estar os cabos esticados e o navio com o balanço, pum, pum, até que o cabo partia e vinha. Era preciso, era paciência. Eu trabalhava assim.
No “Luso” cheguei a estar um dia inteiro fixe na Barra de Lisboa, na fundura. Mandei a malta deitar-se, quem estava de quarto tomava conta. Renderam-se uns aos outros. A dada altura, em que estava deitado, o vigia veio chamar-me a dizer – Oh, Mestre, parece que isto cedeu. O cabo tinha-se partido. Vira, vira. Tinha-se partido um tirante. Um cabo da pana, um cabo misto de sisal e arame. A rede veio para cima. Veio tudo para cima.
O meu pai andava no “Gamba” e eu fui chamado para o “Cigala”. Os dois barcos pertenciam ao armador Feu, que tinha escritórios em Setúbal. Os dois barcos eram iguais. Saímos para o mar e fomos pescar para o “Cabo Feito”. Ao meio-dia, fomos à rede e o meu pai perguntou-me [via rádio] – Então que tal a pesca?
Eu respondi-lhe:
– Olhe, apanhei cerca de 150 canastas.
Observou-me:
– Eh, pá, isso é bom! Eu apanhei metade. Se eu fosse a ti ia já para terra antes que chegue outro.
Fui na conversa dele. Fui para terra. Passado, aí três horas apareceu o meu pai em Cascais. Isto estava tudo preparado. Eu estava em cima da ponte. O contramestre do meu pai ia a passar por cima da muralha e eu perguntei-lhe:
– Oh, “Zé Rita”, então que tal a pesca?
Respondeu-me:
– A pesca foi boa. Apanhámos trezentas canastas em dois lances.
Então, o meu pai disse-me que tinha apanhado umas setenta canastas no primeiro lance. E ele disse-me
– Então, você ainda se fia no seu pai?
Cheguei ao pé do Sr. Manuel Machado [patrão] e disse-lhe:
– Dê-me o bilhete de desembarque, que eu vou me embora.
O meu pai fez-me muitas!».
Em 1 de Junho de 1970, Serafim Pereira foi punido, pelo Capitão do Porto de Lisboa, com vinte dias de prisão em estabelecimento prisional local e apreensão da carta e Cédula de Inscrição Marítima por sessenta dias.
Vejamos o que nos disse Mestre Serafim sobre este castigo – «Isso foi no “Helena Vilarinho”. Eu estava à espera que o draga-minas se fosse embora. Estava parado fora da hora. Eu tinha apanhado um dia antes, ali na Caparica, uma teca de robalos. Estava a ver se o gajo se ia embora, quando o comandante mandou um guarda-marinha, que andava a praticar, a bordo. Ele chegou e perguntou-me:
– Oh, Mestre, o que é que está aqui a fazer?
Eu respondi-lhe:
– É qualquer coisa com a máquina.
Eu estava combinado com o primeiro. De vez em quando ele arrancava a máquina, depois parava, arrancava, parava. O guarda-marinha voltou ao draga-minas e disse ao Comandante:
– O barco está com avaria. Está parado.
E o comandante retorquiu:
– E, então a rede?
– A rede está molhada, meu Comandante:
Respondeu o guarda-marinha.
Mas, eu antes tinha-lhe dito, quando ele me observou que tinha a rede molhada, isso foi porque trabalhei ontem, a rede de noite não enxuga. Não tinha peixe no porão, não tinha nada. Mas, o gajo lixou-me. Mandou-me para Lisboa. Fui para a Capitania. Aconteceu aí uma coisa engraçada. O Capitão do Porto de Lisboa é que me deu a sentença. Quando eu estou na Capitania para o gajo me dar a sentença, veio um velhote que devia ter a idade que eu tenho hoje, com certeza. Chegou-se ao pé de mim e perguntou-me:
– Você, é que é o mestre do barco?
Respondi-lhe:
– Sim, sou.
E, disse-me:
– Olhe, eu sou seu advogado.
Perguntei-lhe:
– Você é meu advogado?
Respondeu-me:
– Sim, sou seu advogado.
Era o advogado de contencioso. Perguntei-lhe:
– Você sabe alguma coisa do que se passou?
Respondeu-me:
– Não, não sei de nada.
Disse-lhe:
– Então, vá-se embora, não é preciso. Receba o dinheiro e vá-se embora.
Perguntou-me ainda:
– Você não quer que eu o defenda?
Respondi-lhe:
– Não. Para quê? Já sei que o barco vai apanhar vinte dias de suspensão. Já sei que o patrão tem outro mestre para o meu lugar.
Depois, disse para o Comandante:
– Pode dar-me já a sentença Senhor Comandante. Já sei que o Senhor me vai dar sessenta dias de suspensão da cédula. O patrão já tem outro mestre para o meu lugar. O “Helena Vilarinho” vai para Aveiro, o patrão vai aproveitar para fazer uma reparação. O prejudicado sou eu, mas quando as coisas correm bem, o patrão é que fica a ganhar. Foi assim, o que se passou no “Helena Vilarinho”».
Serafim Pereira voltou a embarcar, de encarregado de pesca, no “Luso” (29.01.1971-29.06.1971), no “Dolores”, antigo “Capitão Bella”, que depois de modificado, levou uma máquina nova mais potente, um motor “Mack” de 600 H.P. (12.09.1971-26.11.1971), de um radiologista com consultório nos Restauradores, que era médico na Doca Pesca, no “Praia da Barra”, antigo navio “Socorena”, dos “Vilarinhos de Ílhavo” [24] (22.12.1971-29.03.1973) e no “Helena Vilarinho”, igualmente da “Empresa de Pesca João Maria Vilarinho” (29.03.1973-12.11.1973).
«Aqui, por cima de Mafra, existe uma carreira de tiro. Há uma serra por cima da carreira de tiro que vem a direito e depois cai. A serra cai para o lado Norte. É aí a carreira de tiro. O sinal é – a carreira de tiro à Igreja de S. Julião. Situa-se na parte Sul do “Mar do Avô”. Larga-se a rede a sessenta e duas braças, com a popa no sinal e vai-se até às setenta e tal braças. Quando se chega às setenta e tal, anda-se para Norte. Faz-se uma hora de arrasto para Norte e depois dá-se a volta. Regressa-se outra vez ao mesmo sítio.
Dentro do “Mar do Avô”, que é o mais ladrão, metia “Névoas” a meio da Foz do Lizandro e vinha para terra. Vinha para a roubalheira. Apanhava linguados, robalos, pregados, tudo.
Metia-me no Cabo David, estava às escuras, a bordo do “Dolores”. Quando vinha o dia, olhava para o Cabo da Roca e alinhava resvés a “Bitureira” [“Aventureira”], a pedra grande que está lá, com o “Triangulozinho”. Metia este sinal e passava pela borda de água. Passava pelos prédios da Praia das Maçãs e ia até lá fora ao Cabo da Roca».
Uma vez, «eu ia a arrastar para terra a caminho da Samarra, o Carmindo [Carmindo Dias Pedro] (já falecido), filho do “Xico da Duda” (Francisco Pedro), e o “Zé Caboz” (José Manuel Martinho Batista da Silva), estavam debruçados no guincho a conversar. O Carmindo disse para o “Zé”:
– Oh, “Zé”, isto é capaz de ter passagem, lá por terra, para Sul.
Eles foram-se deitar, não se preocupavam com o rumo do barco. Quando cheguei a terra, meti para Sul e lá vai o Serafim a 12, 13, 12, 13 braças, quando os chamei para irem à rede, disse o Carmindo para o “Zé”:
– Oh, “Zé”! Olha, ele passou!
Estas eram as aventuras que eu fazia.»
Em 12 de Novembro de 1973, Serafim Pereira foi punido com a pena de quarenta dias de prisão e apreensão da carta e Cédula de Inscrição Marítima por quarenta dias por ter sido encontrado a pescar ao arrasto à distância de 1,1 milhas de terra. «Foi na Caparica, no “Helena Vilarinho”».
Embarcou, como mestre de pesca, no “Ilha do Faial”, da Empresa Portuguesa de Pesca (14.03.1974-30.10.1974), novamente, no “Dolores” (04.11.1974-29.01.1975), como mestre de leme, no “Comandante David Carvalho” (01.07.1976-25.11.1976) e no “Cabo Branco”, da “Casa dos Cabos” (21.03.1977-19.04.1977).
Em 6 de Junho de 1974, ascendeu, nos termos da lei então publicada, a mestre costeiro pescador.
«Em frente a Lisboa, a fronteira da zona interdita ao arrasto era definida pelas seis milhas, agora é pelas doze. Depois das seis milhas, a fronteira passa a ser definida pela linha entre cabos. Por exemplo, pela linha que fica seis milhas para fora, da linha entre o Cabo Espichel e o Cabo Raso. Onde não existem cabos a fronteira é definida pelas doze milhas. Se existirem cabos, por exemplo, entre o Espichel e Sines, há uma grande enseada, entre o Espichel e Sesimbra, há uma pedra denominada “Arcazil”, e há a “Malha da Caracola”, na costa de Setúbal, para o lado de Sines, lá para baixo, é uma linha traçada entre a “Malha da Caracola” e o “Arcazil”, e depois seis milhas para fora, quero dizer, em Sines, a zona onde não se podia pescar ia até às dezassete milhas. Já não se podia pescar naquele sítio. Muitos já não podiam pescar em Sines, tinham que ir arrastar para o “Mar do Avião”, para as 200 braças, ou coisa assim. Para mim, a costa mais rica em peixe era a da “Malha Grande”, situada nessa enseada, e a de Sesimbra.
«Um dia, andava a arrastar, o mestre de leme era o “Zé Fernandes”, de Ferragudo, Portimão. Foi um grande amigo meu. Eu largava a rede. Trabalhava ao guincho com o contramestre. Quando apareceu o barco de guerra eu disse-lhe
– “Zé”, eu tenho carta de mestre. Se eu for preso, tu ainda não estás prático para pescar. Vem para cá outro mestre e estás “empaxado”. Fazemos uma coisa. Dizes ao Comandante do barco de guerra, que eu não estou a bordo. Tu, é que estás a pescar. Tu, é que vais preso.
Combinámos assim. Ele apanhou o castigo. Eu, como tinha a carta de mestre de leme, fazia o lugar de capitão. Fazia os dois lugares. Continuei a pescar no barco. Ele é que sofreu o castigo, mas o patrão continuava a pagar-lhe na mesma».
Quando comecei a governar, não seguia os conselhos do meu pai. Era mais aventureiro. Eu aventurava-me muito. Quando comecei e governar, era como o polvo, andava por um lado e pelo outro.
O “Mar do Chapéu” era todo ele proibido, mas dava cada lagostim e pescada, que era uma maravilha. A zona em terra, no “Mar do Chapéu”, foi descoberta por mim.
Quando íamos de Lisboa largar a rede em Sesimbra, passávamos o Espichel, o pesqueiro ficava a quatro milhas. Quando íamos para Sul não víamos o Castelo de Sesimbra. Assim que víamos o castelo, por exemplo, a cerca de duzentas braças, largávamos a rede, a caminho de Sueste. Estávamos dentro da zona. Apanhávamos pescadas e lagostins. É como no “Mar do Chapéu”, que fica mesmo no focinho do Cabo Espichel. O “Chapéu” é uma lombada em terra por cima de Sesimbra. A lombada servia para nunca nos deixar avançar para Norte. Se passássemos a arrastar muito a Norte, a rede partia-se. Às vezes, largava a rede mesmo debaixo do Cabo Espichel.
Eu tinha outra marca para pescar no focinho do Cabo Espichel, rente ao mar, no “Mar do Chapéu”.
O focinho do cabo rente ao mar, por baixo do farol, tem dois buracos que parecem dois olhos, que ali estão. Metia o farol a meio dos dois buracos e largava a rede a trinta e cinco braças, mar fora, mesmo encostado ao farol, depois ia afundando, afundando, até que apanhava 150 braças, depois abaixava, abaixava, ia até às 100 braças, e depois tornava a afundar e ia até às 500 braças.
Às vezes, largava a rede com este sinal a cento e cinquenta braças. Íamos sempre a arrastar, por aí fora. Sempre com este sinal do “Mar do Chapéu” pela popa. Sempre mar fora. Quando o aparelho chegava fora de fundo, às quinhentas braças, o aparelho estava aí às trezentas braças, dali, para fora já não interessava arrastar, dava a volta pelo Norte, e vínhamos até às cento e cinquenta braças, outra vez.
Um dia, eu vinha com este sinal e pensei – Deixa-me experimentar, se isto vai mais a terra. E veio. Veio. Veio, até que cheguei até às trinta e cinco braças. Estava mesmo por debaixo do Cabo. Estava ao pé das pedras. Começámos a virar a rede. Vira. Vira. Quando a rede chegou à borda, vinha cheia de palha, mas estava pesada. Foi preciso passar um estropo à talha para virar o saco. Eh, pá! Quando despejámos o saco, ai tanta lagosta! Tanta lagosta! Lagosta branca. Eh! Tanta lagosta! Tanta lagosta! Disse eu assim – Eh, pá! Já estamos safos. Vamos embora para Cascais.
Aí, quando largava das trinta e cinco até às cento e cinquenta braças, às vezes, apanhava cada teca de lagostas. Lagostas brancas. Chama a gente lagostas brancas. Assim, que vinha a palha na rede, já sabia que apanhava lagostas. A lagosta branca é parecida com a de Cabo Branco. É branca e maior do que a nossa [da Ericeira]. O meu pai não fazia isso. Largava por fora.
Nessa época, eu vendia o peixe na lota de Cascais. Enchemos uma quantidade de canastas de lagostas sem medida para a malta comer com fartura. E, no outro dia, lá estava o Serafim caído outra vez a arrastar no mesmo local. Fazia só aquele bocado de arrasto. Das 150 braças para fora começava a afundar pouco a pouco, para terra afundava também, vinha até às 170 braças e depois começava a baixar, a baixar, até chegar mesmo ao focinho do Cabo. Conhecia essa zona melhor do que o meu pai».
Serafim Pereira tinha um roteiro pequeno próprio «para andar debaixo da camisa para o meu pai não ver. Depois fiz este [mostra o actual] e esse desapareceu. Eu dei a mão a todos os meus irmãos. O meu pai era bom, só para os de fora. Eu era aventureiro. Andava por um lado e pelo outro, por isso, é que o meu pai não me gramava, para além dos problemas familiares.
No “Cabo Feito”, pescava a 80, 85, 90 braças, para apanhar chicharro ou peixe. O “Rebenta Casacos” situa-se por fora do “Cabo Feito”, em frente à Barra de Lisboa. O “Rebenta Casacos” é o mesmo mar, mas como é mais fundo tem, por isso, outro nome. É bom para apanhar marisco. Situa-se das noventa braças para fora».
«A “Malha Grande” era o pesqueiro mais rico em peixe. Para mim é o melhor pesqueiro do país. A “Malha Grande” é uma malha branca de areia por cima de umas ribas encarnadas que têm cerca de quinze metros de altura. Tem muita qualidade de peixe. Tem carapau, meio chicharro, linguado, azevia, pargo, pregado, rodovalho, salmonete, corvina. Tem tudo. Não tinha gorazes. Não tinha pescada. Na costa de Setúbal há muitas vieiras. Lá, dava muito, vieiras. Tinha muitas vieiras, mas a gente atirava-as ao mar. Deitávamos fora canastas e canastas de vieiras.
A gente chegava lá, aquilo, na parte Norte do pesqueiro, tem um fundão que vem comunicar com Sesimbra. Na parte Norte é Sesimbra. Apanham-se lagostins. Vai até às quatro milhas do Cabo Espichel. A parte Sul do fundão é Sines. É o “Mar de Sines”, das noventa e duas braças para a terra, não se pode pescar. É pedra. A partir das 130, 150 braças também tem pedra. Depois, mais ao Sul, quando o fundo começa já a fazer uma curva, é que já se pode andar para fora. Vai comunicar com o “Mar do Avião”.
Larga-se na bordada do fundão, que separa Sines de Sesimbra. Largava na parte Sul, ali por fora da Comporta. Regulávamo-nos pela bordada do fundão. Chegávamos um bocadinho ao Sul da bordada do fundão. Navegávamos para Norte até apanhar o fundão a 45, 50 braças, depois é que largávamos a rede. Podia-se ir duas horas para o Sul pelas 40, 42, 44 braças, e depois dava-se a volta. Este era o trabalho do meu pai. Ou então pelas 30, 32 até levar Santiago do Cacém à “Malha da Caracola”.
Quando andava com o meu pai e ele ia dormir, chamava-me e dizia – “Anda cá para cima um bocado, que eu vou descansar. E, eu ia lá para cima. Andávamos, em terra, nas 30, 32 ou nas 40, 42 braças”.
Nas quarenta, quarenta e duas braças, ele fazia duas horas para o Sul, depois dávamos a volta e vínhamos para Norte. Quando chegava ao fundão íamos à rede.
Pelas trinta e duas braças, largávamos a Norte também pela rodada do fundão. Íamos para o Sul até levar a “Malha da Caracola” a Santiago do Cacém. Era a marca que a gente fazia. Íamos a quatro nós, três e meio. Às vezes, não convinha dar muita força à máquina, que era para apanhar linguados e isso. O barco demorava quatro, cinco horas a fazer aquilo, por aí abaixo. O barco dava dez nós.
Uma ocasião, o Serafim ia a governar por aí abaixo pelas quarenta e duas, quarenta e quatro braças, com duas horas de arrasto. Pensei – Eu vou puxar para fora, pelas cinquenta, cinquenta e duas braças até meter Santiago pela “Malha da Caracola”. Depois dei a volta. Vim pelas cinquenta e oito braças, duas horas para o Norte. Quando começou a marcar pedra, fui à rede. Eh pá! Tanto pregado! Tanto pregado e linguados. Alguns elementos da companha eram da Ericeira. Está aí um, ainda vivo, que é o João Cassapo, o Carmindo Dias Pedro, o Miguel, que morava aqui ao Norte, o “Quinita”, o pai do João Cassapo, o “Zé Partilheira” [José da Silva Cassapo], o Canina [José Roberto Timóteo], pai destes Caninas. Andou tanta gente comigo. Eu sei lá!
Houve uma altura em que estávamos a pescar em trinta e duas braças. Nesse pesqueiro existe a “Malha Grande” que está pelo Sul da Comporta. Existem umas casinhas e um regueirão. A “Malha Grande” fica ao Norte do regueirão e ao Sul da Comporta. Ao Norte da “Malha Grande” existem uns regos. Parece que foram lavrados. Tem três ou quatro carreiros. Na parte Sul do pesqueiro, apanha-se pedra. Por cima da praia tem uma malha de areia que parece um caracol. Vista do mar parece que está ali um caracol, por isso, chama-se “Malha da Caracola”. Quando se chegava a Sul com a “Malha da Caracola” alinhada com Santiago íamos à rede ou dávamos a volta.
Cheguei ali. Ia pelas trinta e duas braças. Comecei a andar para terra, pois em frente ao regueirão, de vinte e oito braças para terra, existem dois cabeços grandes. Duas pedras valentes, grandes. Uma em vinte e duas braças e outra em vinte e cinco, vinte e sete braças. Depois de passar essas pedras, pelo Norte, meti a proa a terra. Apanhei as 17 braças de água e vai o Serafim pelas, 17, 17, 17 braças. Fui pelo Norte dentro até fazer fixe. Fez fixe. Dei a volta e fui buscar o aparelho. Eh pá! Ai tanto pargo! Tanto pargo! Tanto besugo! Tanta raia, e vinha aquela rama vivinha do fundo, os “tranquinhos” do fundo. Eh, pá!
O meu pai estava a arrastar por fora. Na rede não se partiu nada. Larguei outra vez. Ao chegar em frente à “Malha Grande” comecei a puxar para terra, 12, 13, 12, 13 braças, de vez em quando, sentia um esticão. Era a pedra. Deixa ir. Deixa ir. Assim que passei o regueirão para Sul, pensei – Já estou safo. Deixa ir. Deixa ir. Vim outra vez pelas dezoito braças e tentei meter outra vez a marca, a “Caracola” a Santiago, e fui à rede. Eh pá! Hei! Grande sacada de peixe! Grande sacada de peixe! Calei-me muito bem caladinho. Não disse nada ao meu pai e naveguei para Cascais.
Quando ia a sair diz o meu pai para mim [via rádio] – “Então, vais-te embora?” Disse assim – “Tenho que ir para terra. Tenho aqui uma avaria no motor. Um tubo está roto. Já meteram uma braçadeira. Tenho de me ir embora”. Desandei, para Norte, para Cascais. O barco já não era do Inácio Ferreira, era de outros patrões que tinham navios bacalhoeiros. Vendi. Enchi a lota de Cascais duas vezes. Depois, só descarregavam os barcos do marisco. Da malta que levava peixe, ninguém descarregou. Eram duas horas da noite. Navega outra vez para Sul. Tinha as costas quentes do Comandante da “Espadilha”.
Eu cheguei a arrastar em Tróia, pela borda de água, em doze braças, e estarem a nadar ao pé do barco, a tomar banho. Eu cheguei a arrastar com as banhistas ao pé de mim. As gajas a nadar e eu a arrastar. Para mim, a costa de Setúbal é a costa mais rica em peixe. Naquela costa, apanha-se sempre, em todos os lances, três, quatro, canastas de salmonetes. Uma canastra levava 40kg de peixe.
Um dia, passou por mim a traineira “Emília”. Eu por acaso quando estive a residir em Setúbal, morei em casa do mestre dessa traineira. Quando passou ao pé de mim, o mestre perguntou-me
– Oh, Mestre, quem é o pedreiro, que você tem aí a bordo.
O pedreiro era o gajo que mirava as pedras. Digo eu assim:
– Olhe, o pedreiro está ali.
Apontei para as redes, que eu tinha em cima do tombadilho e disse-lhe:
– As redes estão ali.
Respondeu-me:
– Eh, pá, eu não sabia que se podia pescar aqui!
Seguiu e foi fazer a sua pesca.
Quando tinha a pesca “empachada” era da “Malha Grande” para Sul que eu me ia safar. Largava a rede pelas dezoito braças para o Sul. Quando chegava à “Malha Grande” cortava a força da máquina e mandava um homem para os cabos, meter a mão nos cabos para sentir a rede, como fazemos na pesca com linha. Quando o barco pegava ou as portas batiam na pedra o homem avisava:
– Olha que vem a arranhar!
Uma ocasião, fiz isso. O meu mestre de redes era o António “Mil Homens”. Já morreu. O António ia nos cabos. Eu estava nas 12, 13 braças, mesmo em frente à “Malha Grande”. Nunca tinha feito aquele trabalho e o António disse-me:
– Vem a arranhar! Vem a arranhar!
Como não fiz caso, o homem largou os cabos da mão. Fui, fui, fui até que passei a zona de pedra. Depois faz um regueirão que vai ter a Alcácer do Sal. Assim que cheguei ao fim do regueirão sabendo que dali para baixo não havia nada, fui por aí abaixo até à “Malha da Caracola”, a 18, 12, 16, braças. Quando fui à rede veio uma sacada de peixe, robalos e tudo.
Eu estava a pescar no “Cabo Branco” e estava o “Cabo Esby” a pescar em Sines ao chicharro. Quando fui à rede apanhei umas 150 canastas de peixe. Os outros apanharam umas trezentas. Tinham uma rede maior e o auxiliar do “Cabo Esby” começou a gozar comigo por ter apanhado só 150 e eles terem apanhado trezentas. Ora, eu é que lhes andava a explicar os pesqueiros. Eles conheciam bem a Mauritânia. Aqui não sabiam.
O “Zé Fernandes”, de Ferragudo, tinha andado de mestre de leme comigo. Eu ensinei-lhe muita coisa. Ele até era mestre. Entrei em conversa com o meu amigo “Zé Fernandes” e ele informou-me que ao Sul do Sardão [25], por fora da Arrifana, estava sinal de peixe-espada pelas 200, 205 braças. Ele passou-me o sinal e eu naveguei para Sul e disse para o capitão:
– Capitão meta uma rede bacalhoeira à borda e navegue para Sul até vinte e cinco milhas do Cabo de S. Vicente, a duzentas braças.
Estava ao pé do capitão, o mestre auxiliar da Mauritânia que observou:
– Você vai pescar com uma rede bacalhoeira a duzentas braças? Com a rede bacalhoeira a gente só pesca a 20, 25, 30 braças. A rede bacalhoeira nesse fundo não pesca.
Eu disse-lhe:
– Os bacalhoeiros, os arrastões bacalhoeiros, trabalham com redes bacalhoeiras em 200 braças e mais e você está a dizer-me que a rede não pesca.
O capitão confirmou:
– É verdade os bacalhoeiros pescam a 200 braças com a rede bacalhoeira.
Eu afirmei:
– Por isso tem o nome de rede bacalhoeira.
A rede bacalhoeira é mais alta. É mais fechada e o arraçal tem roletes por baixo, esferas de vinte polegadas ou mais de acordo com o tamanho do barco.
Nós tínhamos redes com esferas de vinte polegadas, mas as do “Cabo Esby” tinham vinte e cinco polegadas. O resto da rede vem no ar. Eu estava danado de me estarem a gozar e do outro estar a desfazer no meu trabalho. Virei-me para o capitão e disse:
– “Se quiser mudar a rede, mande mudar a rede. Se quiser levar o barco para onde eu estou a dizer, leve. Se não quiser, leve-o para Lisboa.
Eu já estava farto que gozassem comigo. O capitão pôs o barco a navegar e mandou mudar de rede. Mais tarde, chamou e disse-me:
– Oh, Serafim, já cá estamos.
O auxiliar, o mestre “Zé do Norte”, do Algarve, estava de roda da sonda. Perguntei-lhe:
– Oh, Mestre “Zé”, o que é que você está aqui a fazer? Vá se embora lá para baixo! Rua daqui para fora!
Respondeu-me:
– Eu sou o auxiliar. Disse para o capitão:
– Capitão vá buscar o rol de embarque [documento onde estão registadas as matrículas da tripulação].
O capitão foi buscar o rol ao camarote. Eu perguntei ao auxiliar:
– Sabe ler? Então veja aqui:
– Serafim Pereira, encarregado de pesca. Você aqui não é nada. Chegando a terra ou vai você ou vou eu.
Está claro, foi ele. Larguei a rede. A parte Sul do pesqueiro a umas vinte milhas do S. Vicente faz uma serra. Uma serra no sentido Leste Oeste. Os barcos iam normalmente pelas 200, 205 braças, chegavam ali, davam a volta e vinham outra vez para Norte, quero dizer, nunca ninguém pensou em subir a serra. Levava roletes e sabia que o peixe estava na lombada da serra. Levava 500 braças de cabo. Virei cabo, virei cabo. Fiquei só com 400 braças de cabo. Comecei a subir a serra. Quando cheguei às cem braças, comecei a andar para oeste, a andar, a andar. Fui a caminho de Oeste, Sudoeste, por aí fora até que comecei a ver boias de um barco que estava fora, um dos barcos da pescada de Sines. Dei a volta e meti proa no S. Vicente, sempre por cima da serra. Quando começou a mostrar pedra alta fui à rede e enchi o barco de peixe. Era pescada, peixe-espada, cachucho. Eu nunca me lembro de apanhar cachucho na costa. Cachucho grande e lindo. Lindo cachucho! Os cabo-verdianos, que andavam a bordo diziam:
– Eh, pá! Isto é melhor do que na Mauritânia! É melhor do que em Cabo Branco!
O barco estava cheio de peixe-espada. Ainda não estava contente. O pescador é sempre ganancioso. Depois de ter o barco cheio de peixe, larguei a rede outra vez. Vínhamos a arrastar. Quando passo ao pé dos outros, o “Manel”, que nos viu pelos binóculos, virou-se para o “Zé Fernandes” e disse:
– Oh, “Zé”, olha, alugaste-lhe um quarto e ele apanhou-te a casa toda.
Quando cheguei à parte Norte do pesqueiro, a vinte e cinco milhas, fui à rede e naveguei para Lisboa. Cheguei a Lisboa eram duas horas da noite, mas ainda fiz uma descarga. O navio ficou para descarregar o resto e meter gelo.
Metia gasóleo na Cova do Vapor. Apanhavam-se ali muitas corvinas.
Andava também no “Cabo Branco”, aqui fora da Ericeira, a arrastar no “Sudoeste da Berlenga”, que fica a catorze milhas da Berlenga e vinte e oito milhas do Cabo Raso. Dali para Norte é fundo, para terra é pedra, desde que passe das cento e duas braças para terra é pedra. Largava-se para Sul. Havia ali muito chicharro e estavam muitos barcos a arrastar. Alguns eram barcos novos de arrastar pela popa. Tinham mais força para arrastar. Eu arrastava pelo lado e havia ali mais barcos de arrasto lateral. Passado meia hora de eu largar na proa deles já todos tinham passado por mim.
Um mestre que era meu amigo, da Costa de Lavos, já morreu, perguntou-me [via rádio]:
– Oh, Serafim, vais calçado?
Respondi-lhe:
– Vou. Vou calçado.
Calçado significava que levava roletes. Perguntou-me depois:
– Então vais fazer aquele trabalho?
Respondi-lhe
– Vou. Eu não te disse que ia fazer o trabalho.
A coroa, que divide o “Sudoeste da Berlenga” do “Mar de Sintra”, parece a serra de Sintra, por Sul da serra é o “Mar de Sintra”, onde o meu pai trabalhava muito, pelo lado Norte é o “Sudoeste da Berlenga”.
Quando cheguei à serra, por cento e tal braças, comecei a subir a serra. Virei cabo. Apanhei as noventas braças e vou pelas noventa braças, vou, vou, até que começou a dar para Sudoeste. Fui quase duas horas a caminho de Sudoeste. Já vinha a arrastar há uma hora e tal. Fiz mais duas horas. Quando cheguei lá fora estavam também barcos a arrastar o fundo ali pelas 143, 145 braças, mas eu não me cheguei ao pé deles. Dei a volta, meti proa de Leste e vim outra vez apanhar a coroa. Apanhei a coroa e depois comecei a apanhar a parte Sul da coroa, quero dizer, a gente vê, se afunda para Sul é porque estamos na parte Sul, se abaixa para Norte é porque estamos a Norte. É assim que nos regulamos. Eu estava na parte Sul da coroa. Comecei a andar pelas cento e dezassete braças, porque a vinte e duas milhas da Roca e cento e vinte e duas braças está um barco no fundo, o arrastão “Cabo de S. Vicente” que foi afundado no tempo da guerra por um avião.
O meu pai era o mestre. Não mataram o pessoal. O barco foi para o fundo. Está lá esse barco e então tem que se vir pescar pelas 117, 118 braças, da parte Norte, porque o casco está em 122 braças, mais ao Sul. Depois o fundo começa a dar para Sueste. O próprio fundo do mar, o feitio da serra, começa a dar para Sueste. Deixa-se ir a Sueste até apanhar 115 braças, quando se apanham as 115 braças ou se vai à rede, ou se mete proa a Sudoeste, e vão-se apanhar as 125 braças, para passar pelo Sul do casco. Mas, eu quando cheguei aí fui à rede. Quando cheguei às 120 braças fui à rede. Para virar o saco, o saco era de nylon, tiveram de passar o estropo todo ao saco. O saco vinha cheio pela boca. Para galgar o saco, para dentro do navio, tiveram que pôr uma funda, que era um aparelho que abraçava o saco por baixo, para apanhar o saco. A malta estava toda parva. Ainda me lembro bem. Deu 34 canastas de goraz, só goraz, cada canasta levava 40kg. Era besugo. Era chicharro. Era pescada. Tornei a largar a rede por fora. Atravessei a coroa para o lado Norte. Comecei a prolongar a coroa pelo lado Norte a 90 braças e como são cabeços grandes, fui à rede. Foi outra grande sacada. Era duas horas da tarde e já ia a navegar para a Doca Pesca, para ir descarregar. Naquela altura (final da década de 1980) esses dois lances valeram 404 contos (404.000$00).
Quero dizer, eu tinha muitas aventuras destas. Por exemplo, ao Norte de Santa Cruz, também com a rede bacalhoeira, eu atravessava aquilo tudo. Primeiro começava a oito milhas do Carvoeiro, a 32, 30, 32, 30 braças, às vezes, ia às 28 braças. Quando andei no “Cabo Branco” largava às oito milhas, com a rede de roletes [rede bacalhoeira]. Ia até às seis milhas. Depois dava a volta e vinha para o Sul, outra vez, até às oito milhas.
Uma ocasião, pensei – Deixa ver o que é que isto faz. Comecei a andar para baixo. Fui até às dez milhas. Depois das dez milhas do Carvoeiro é que começou a marcar pedra alta. Começou a marcar pedra alta e fomos à rede. A rede vinha cheia das árvores e ervas do fundo. O peixe – besugo e pargo – sabia a fénico. O peixe foi todo para a lota. Comecei a descobrir o mar assim.
Um dia, pensei – Posso ir mais a Sul. Estava um barco encalhado em Cambelas[26], um barco grande, que vinha carregado com um líquido qualquer.
Em Santa Cruz vi o navio pelo radar. Vim de Santa Cruz, por fora de Porto Novo. Das vinte e oito braças para a terra tem uns grandes cabeços. Às vezes, passávamos um bocado por fora dos cabeços. Passei por vinte e oito braças por fora dos cabeços e pelo radar meti proa ao barco. Vim por aí abaixo. De vez em quando, o aparelho dava uns saltos. Era quando apanhava pedra. Eu só parava se o barco ficasse parado. Vim até às dezasseis braças, a duas milhas de Cambelas, a duas milhas do barco. Vim de tão longe que disse – Vamos à rede. Fomos à rede e quando estou a virar o saco, qual é o meu espanto quando vejo um barco de guerra por fora de mim. Um barco de guerra parado, um draga-minas pensei – Eu vinha tão cego, que nem vi este gajo. Virou-se o saco. O saco vinha cheio de pargos, de besugos, de ruçadas, de choupas, de tudo. O saco vinha cheio. Arreei o saco. Meti-me a navegar e ele não me disse nada. O único problema era o meu pai. Com o meu pai não podia fazer coisas destas.
Quando os barcos foram proibidos de pescar na Mauritânia [1986], porque já não tinham licença, um patrão, que já tinha rendido o Santiago, porque já tinha morrido, um dos herdeiros, da Família Rato, o António Rato, foi a minha casa a Cascais. Disse-me:
– Oh, Mestre Serafim, eu preciso de si para bordo do barco.
Eu disse-lhe:
– Mas, eu estou reformado. Eu não posso ir.
Respondeu-me:
– Mas, eu trato disso.
António Rato foi à Capitania falou com o Comandante e disse-lhe:
– Eu tenho uma companha a bordo e o barco não pode pescar. Eu, até vir a licença novamente para o barco ir para a Mauritânia, preciso deste mestre.
O Comandante autorizou que eu fosse para o mar, mas disse-lhe:
– Ele vai para o mar, mas você não faz descontos.
Fui para o mar. Fui para o mar, ao apara-lápis para a farinha, para Setúbal. Descarregávamos em Setúbal. Pescávamos em frente a Lisboa, na “Malha Grande”, onde houvesse apara-lápis. A sonda marcava logo o peixe lá no fundo. Em vinte minutos apanhava cento e tal toneladas de peixe.
Numa ocasião, até me levou a rede e tudo! Não podia dar um bocadinho de folga, o apara-lápis metia a cabeça ao fundo, levava tudo. A rede tinha dois sacos.
Às vezes, vinham barrigas e tudo cheio. Enquanto os sacos não vinham à borda, tínhamos um cabo em nylon, da grossura do meu pulso, passado ao saco, enquanto andávamos com o barco à volta para o saco vir sempre por cima de água, para largar alguma lama que tinha. Quando estava tudo à feição parava-se o barco e virava-se o cabo. Assim que virava o primeiro saco estava safo. Chegava a estar ali duas horas ou mais a tirar peixe. O peixe não ia para o porão. Vinha sempre em cima do convés».
Em 18 de Setembro de 1988, Mestre Serafim Pereira enviuvou. Em 1990, juntou-se a Etelvina da Conceição Antunes, nascida a 22 de Janeiro de 1946, na Assenta, companheira que, hoje, cuida dele com extrema atenção e a quem carinhosamente trata por Etelvina. Não tem filhos.
No mesmo ano, veio viver para a Ericeira. Até aí, residiu sempre em Cascais. «Eu, aos 28 anos [1958], fui logo morar para Cascais. Deixei a casa em Cascais em Junho de 2010. Tive a casa arrendada quarenta anos. Reformei-me com 47 anos, por causa da coluna. Mas, continuei a andar ao mar».
Mestre Serafim foi proprietário da traineira denominada “Cínico do Mar” (Anos?). Adquiriu a traineira em Peniche com auxílio de um empréstimo bancário.
«Em frente à Ericeira está o “Mar do Avô” e por fora temos o “Mar da Ericeira”. No “Mar do Avô”, em cinquenta e seis braças, está um casco, há muitos anos. Chamam-lhe o casco do “Mar do Avô”. Está muito partido dos barcos prenderem. Para ir de terra, da borda de água, para lá, existe uma serra aqui por cima que se chama “Névoas”. Fica entre a Malveira e Mafra. A parte Norte é a carreira de tiro de Mafra. Também existe outra serra mais alta, mas direita, em cima. Com Névoas a meio da Foz do Lizandro, quero dizer, não estar a pegar naquela parte Sul da Foz do Lizandro, a meio, entre o “Descalça Sapato” e a parte Sul da Foz. Um gajo passa daqui, de terra, a 2.000 braças, no “Mar do Avô”.
No “Mar do Avô” vamos para Sul, ali pelas 52, 54, a 56 braças, encontra-se o casco. Pode-se ir também pelas 58 braças. Leva-se a carreira de tiro a S. Julião. Aquilo é um bocado afastado.
Uma vez, eu cheguei lá, tinha uma traineira de 20m e andava a arrastar. Estava lá o “Fadista” (Elisiário Lopes Pereira) a arrastar também com uma traineira dele. Quero dizer, ele ia à minha proa. Foi à rede e fez-me sinal que tinha apanhado muita faneca. Eu deixei-o ir e fiz o sinal – a Igreja de S. Pedro de Sintra a aparecer, meti proa nele, proa nele, e vai, e vai, e vai. São aquelas coisas de descobrir, e vai, e vai até que a sonda marcou pedra e fui à rede, mas já estava por Sul abaixo, lá para Magoito, por aí abaixo. Fui à rede – Eh, pá! Grande sacada de fanecas! Setenta caixas, daquelas caixas antigas. Fui logo para Cascais. Faneca vivinha com escama e tudo. Eh, pá! Desde aí, passei a designá-lo por “Mar da Faneca”.
Eu, a bem dizer, nunca saí do mar. Depois, fui ensinar o Hernâni Torcato, de Ribamar da Lourinhã, a pescar ao arrasto, a preparar o barco dele para o arrasto. Ensinei-lhe os fundos.
No tempo do meu pai havia só a sonda e a linha de barca, que era uma espécie de um relógio montado à popa do barco e que tinha uma linha que se largava com um hélice e aí, marcava as milhas [velocidade do barco]. Naquela altura, não havia radar. O radar apareceu muito mais tarde. Foi descoberto pelos ingleses. A sonda que tínhamos no tempo do meu pai fazia – tic, tic, tic, e depois tinha a tabela ao lado.
A primeira sonda que conheci foi a bordo do “Belo Horizonte”. Era uma “Atlas”, uma sonda grande. Marcava muito bem. Depois veio a “Furuno”. Também marcava bem. A sonda, que o Hernâni Torcato tem na ponte do barco, é uma coisa pequena. Tem um barco pequeno de 19m. Ele está no “Mar do Chapéu” e está a ver o fundo do “Rebenta Casacos”. Se passar por cima de um casco, vê logo. Eu fiquei parvo. Disse-lhe eu assim:
– Com uma sonda destas, no meu tempo. Ai Jesus!
Eu só deixei de todo, quando comecei a “trompeliar” das pernas. Talvez, há uns quinze anos [1995]. Ainda há coisa de um ano, o Hernâni Torcato veio aqui buscar-me, e embarquei no barco dele em Sesimbra, para irmos ao “Mar do Chapéu”. Só que estava Sudoeste fresco, com névoa, e não pudemos fazer nada. Largámos no “Rebenta Casacos” ao Norte. Apanhámos lagostins e tal. Mas, ele queria o “Chapéu”. Vamos lá a ver se um dia, estou melhor para ir com ele».
Até há poucos anos, nos tempos livres, Mestre Serafim Pereira construía barcos em modelo reduzido à escala, sendo um artesão de elevado mérito e qualidade. As suas embarcações respeitam as regras da boa construção naval, possuindo todas cavername.
Actualmente, passa os dias sentado em sua casa a ver televisão, ou a fazer algum trabalho artístico de marinharia em cordame. Quando faz bom tempo, dá uma volta pela praia da Ribeira na sua cadeira de rodas motorizada “charlando” com a malta e levando algum peixe para casa.
Mestre Serafim Pereira, velho lobo do mar e um dos maiores mestres de pesca que a Ericeira alguma vez viu, faleceu, na Ericeira, a 27 de Janeiro de 2018.
[1] O arrastão “Cabo de Santa Maria 1º” foi construído, em Glasgow, em 1903. Tinha um motor de 391 H.P., 254T de arqueação bruta e 39,59m de comprimento. A capacidade de pesca era de 60T. A companha era constituída por 18 homens.
[2] “Mar da Risca” – Este pesqueiro fica situado em média a umas dez milhas de distância do Farol da Guia. Confina ao Norte com o pesqueiro “Já te Matei” ou “Céu de Abraão” e ao Sul com o “Mar de Pombal”.
[3] O pesqueiro do “Céu de Abraão” situa-se a umas onze milhas da costa, marcando-se o Cabo da Roca por ENEv e o Farol da Guia por E1/2SEv.
[4] “Mar de Pombal” – Situa-se a umas doze milhas e meia por NE4Em do Farol da Guia. Pelo Noroeste confina com o “Mar da Risca”, do qual dista cerca de seis milhas.
[5] O “Mar do Cabo Feito” situa-se a umas dez milhas por E41/2Sem do Cabo Espichel e a SE do pesqueiro do “Mar de Pombal”.
[6] “Mar da Ericeira” – Este pesqueiro situa-se a Norte do “Céu de Abraão” e a Sueste do pesqueiro “Mar de Sintra” e desenvolve-se a umas 12 milhas por Em da Vila da Ericeira.
[7] Pios – É a designação que os pescadores jagozes davam aos varinos do Tejo que vinham pescar para a Ericeira nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Eram também conhecidos por malinos.
[8] O lugre “Brites” foi construído, em 1936, na Gafanha da Nazaré, pelo mestre Mónica, para a Empresa Brites Vaz & Irmãos Lda., de Aveiro, com as melhores madeiras brasileiras e de Riga (carvalho e pinho manso). Estava equipado com um motor de 300 H.P., radiotelefonia e luz eléctrica. Deslocava 522 toneladas e tinha 43,07m de comprimento, 10.20m de boca e 5,16m de pontal.
[9] O arrastão “Capitão Bella” foi construído, em 10 de Setembro de 1945, na Gafanha da Nazaré. Tinha uma máquina “Deutz” de 270/330 H.P., 129,47T de arqueação bruta e 24,92m de comprimento. A capacidade de pesca era de 30T. Os paióis possuíam 18T de capacidade. A tripulação era constituída por nove homens. A velocidade máxima de arrasto era de cinco milhas.
[10] O arrastão “Altair” foi construído, em 1920, em Groole, na Inglaterra. Tinha uma máquina de 600 H.P., 340,75T de arqueação bruta e 44m de comprimento. A capacidade do porão era de 239,374m3. Os paióis possuíam 163T de capacidade. A tripulação era constituída por vinte e dois homens. A velocidade máxima de arrasto era de nove milhas e meia.
[11] Este pesqueiro situa-se por Ev da Senhora do Socorro, junto à isóbata dos 200m (110 braças), e por Noroeste do “Mar da Ericeira” com o qual confina.
[12]“Mar do Sudoeste da Berlenga” – Este pesqueiro situa-se a umas 16 milhas a W4SWm da Ilha Berlenga, junto à isóbata dos 200m (110 braças) e desenvolve-se por Norte do “Mar do Noroeste da Roca” ou “Mar do Nordeste do Pesqueiro de Sintra”.
[13] Artes de pesca, armadilhas feitas em arame.
[14] “Casa dos Cabos” era o nome que os pescadores davam à empresa “Sociedade de Pesca Santa Fé, Lda.” sedeada em Lisboa e proprietária de vários arrastões que se denominavam “Cabo de …”.
[15] O arrastão “Socorena” foi construído, em 1936, nos Estaleiros da “CUF” (“Companhia União Fabril”). Tinha um motor de 220 H.P., 73,37T de arqueação bruta e 22,42m de comprimento. A capacidade de pesca era de 15T. Os paióis possuíam 10T de capacidade. A tripulação era constituída por nove homens. A velocidade máxima em serviço era de seis milhas. Foi propriedade da Empresa de Embarcações, Lda., sediada em Lisboa.
[16] O arrastão “Douro” foi construído, em 1907, na Escócia. Tinha uma máquina de 480 H.P., 357,56T de arqueação bruta e 44m de comprimento. A capacidade do porão era de 205,405m3. Os paióis possuíam 169T de capacidade. A tripulação era constituída por vinte e dois homens. A velocidade máxima em serviço era de nove milhas.
[17] Fabricante de motores marítimos “Motorenfabriek, Darmstadt, G.m.b.H. (Modag)”, Alemanha.
[18] A L.F.P. “Espadilha” foi construída nos estaleiros do Alfeite e lançada à água em 11 de Junho de 1945. Tinha casco em aço com 42,64m de comprimentos e deslocava 274 toneladas. Estava equipada com dois motores de 1.200 H.P. e podia atingir a velocidade de 17 nós.
[19] A “Casa dos Lusos” era o nome que os pescadores davam à empresa armadora pertencente à Família Sousa Uva. Tinha escritórios no Corpo Santo, em Lisboa. Os barcos tinham matrícula da Figueira da Foz.
[20] Cabo da Roca.
[21] O arrastão “Lavanco” foi reconstruído em 1941. Tinha uma máquina de 110 H.P., 59,530T de arqueação bruta e 20,71m de comprimento. A capacidade de pesca era de 16/18T. Os paióis possuíam 12T de capacidade. A companha era constituída por dez homens. A velocidade máxima de arrasto era de seis milhas.
[22] O arrastão “Bussaco” foi construído, em 1945, na Gafanha da Nazaré. Tinha uma máquina de 391 H.P., 126,97T de arqueação bruta e 28,10m de comprimento. A capacidade de pesca era de 35/40T. Os paióis possuíam 36T de capacidade. A companha era constituída por nove homens. A velocidade máxima de arrasto era de quatro milhas.
[23] Na cédula, o registo de matrícula situa-se entre 28.08.1970 e 27.08.1970!
[24] “Empresa de Pesca João Maria Vilarinho”.
[25] Cabo Sardão.
[26] Em 15 de Fevereiro de 1978, o navio de mercadorias “Alchimist Emden” encalhou na Praia de Cambelas carregado de 1.600 toneladas de produtos químicos com elevado poder de explosão. Fonte – Jornal Badaladas de 2 de Março de 1978.
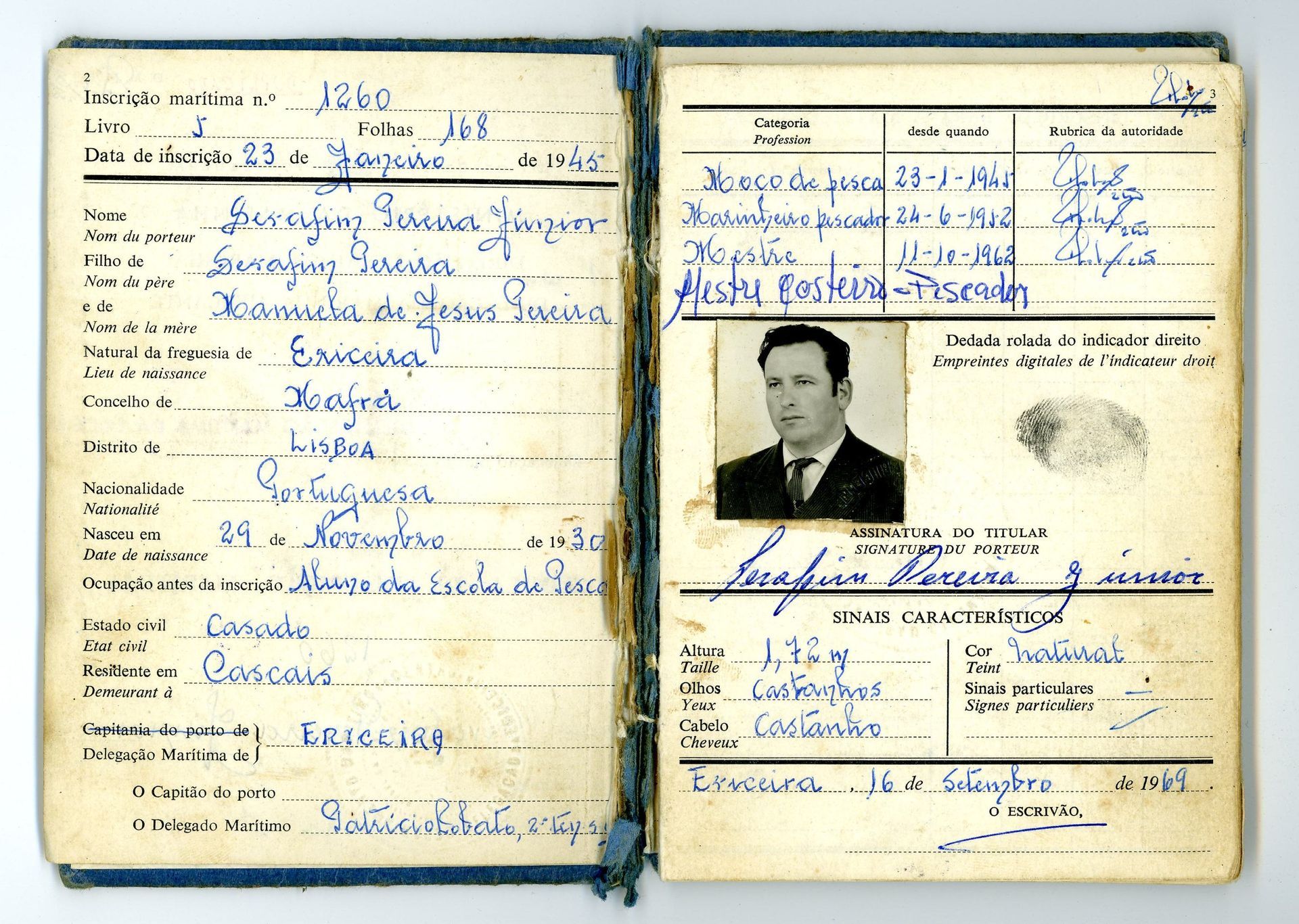
Fig. 2 Cédula de Inscrição Marítima emitida em 16.09.1969
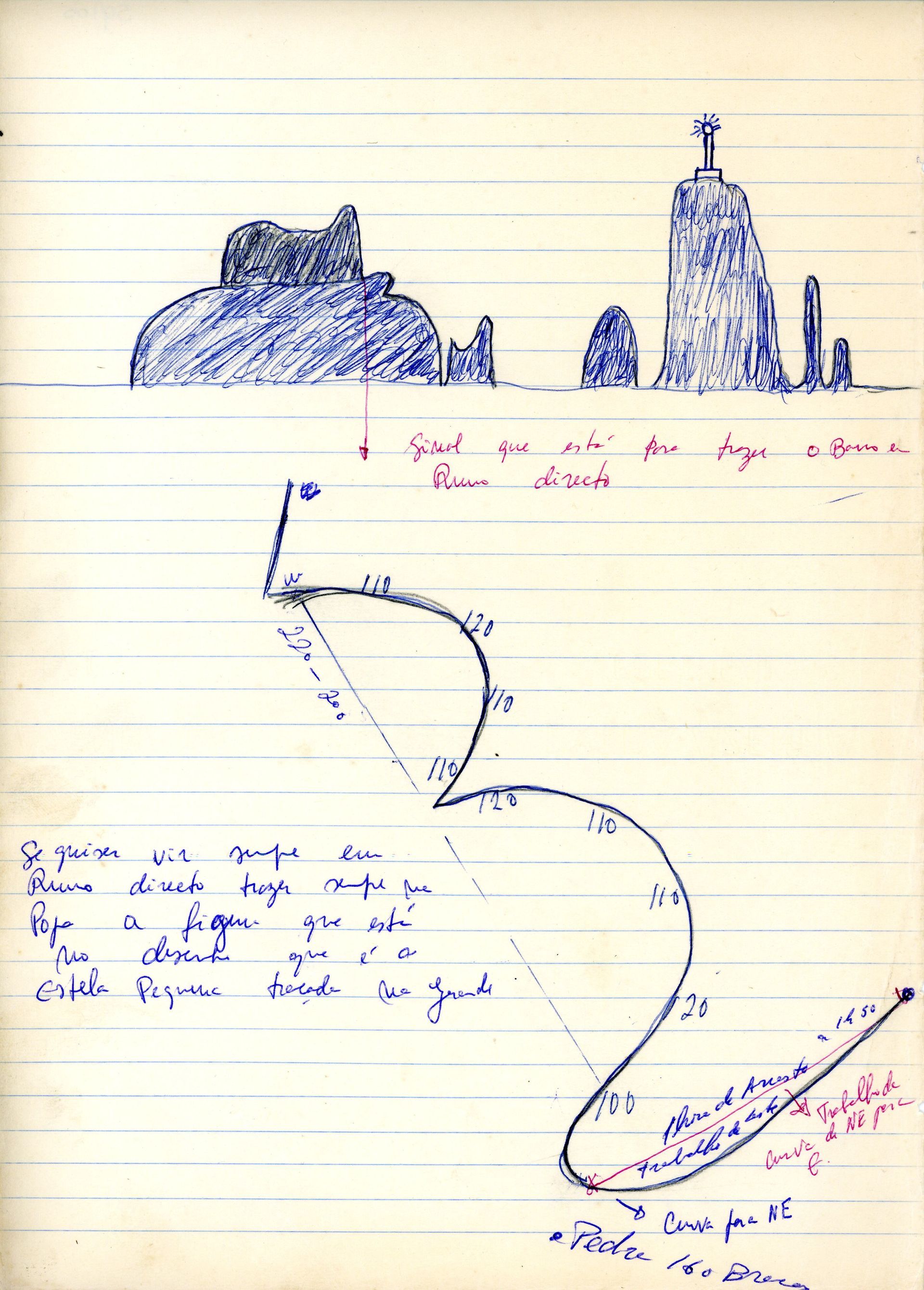
Fig. 3 Uma página do Roteiro de Mestre Serafim Pereira Júnior
Entrevistas feitas em sua casa na Ericeira em 10.10.2010, 19.11.2010, 02.11.2012, 07.12.2012 e 21.12.2012.
Francisco Esteves, Dezembro de 2012. Revisto e corrigido em Julho de 2023.
JOSÉ DOS SANTOS SOARES ARSÉNIO

Fig. 1 José dos Santos Soares Arsénio, em casa na Ericeira, em 2013
José dos Santos Soares Arsénio, conhecido pela alcunha “Zé do Norte”, nasceu na Ericeira, em 1 de Novembro de 1933, na Rua da Fonte do Cabo nº 79. A alcunha herdou-a do pai conhecido igualmente por “Zé do Norte”.
É filho de Maria José Soares, doméstica, e de José Henriques Arsénio, pescador jagoz. O casal teve quatro filhos – José dos Santos Soares Arsénio, Anastácio Soares Arsénio, pescador, Maria Júlia Soares Arsénio Isaac e Maria Guilhermina Soares Arsénio Campos.
José Arsénio frequentou a escola primária até à segunda classe. Saiu quando tinha dez anos. Foi aluno dos professores Bagulho e Velosa.
Após sair da escola, foi aprender o ofício de serralheiro, na oficina do seu tio “Chico Serralheiro”, na Rua do Ericeira. Em seguida, deu serventia nas obras de construção civil. Contra a vontade dos pais deixou as obras e foi trabalhar para a Ribeira na pesca, sem cédula, com doze, treze anos.
No final da semana, quando a companha fazia as contas da faina piscatória, recebia um pequeno “revés”. Nesse tempo, vinham, para a Ericeira, na época do Verão, os varinos, conhecidos localmente por pios. Traziam pequenas embarcações – os saveiros. Estas embarcações eram de fundo chato e não aguentavam mar alteroso, pelo que tiveram alguns acidentes mortais, pois as correntes marítimas que vinham do Norte atiravam os barcos contra a Laje Grande.
Em face desta situação, o delegado marítimo Santa Rosa [Manuel Pereira Santa Rosa [1]] proibiu a pesca com esse tipo de barcos. Os pios pescavam no mar com as redes do sável. Nesse tempo, a pesca jagoz era feita apenas com aparelhos de linha e covos.
José Arsénio andou ao mar no barco de Bernardino Garamanha. Da companha faziam ainda parte o “Pirolito” sobrinho e Felisberto filho. O barco tinha um defeito no bojo ou na quilha, mas não deixavam de pescar por ter esse defeito. Pescavam com aparelho miúdo, fanecas, moreias, safios, samilos [2], pargos, etc.
O cabo de mar, Lopes, avisou o pai que José Arsénio não poderia andar no mar por não ter cédula marítima, pois era proibido andar a pescar sem cédula o que dava direito à prisão de ambos. Como não tinha catorze anos não podia tirar a cédula.
A companha saía de noite para o mar e pela calada da noite José Arsénio entrava para dentro do barco sem ser visto, quando chegava, verificava se o cabo de mar estava à espreita antes de sair do barco. Em terra ajudava a safar os aparelhos.
Quando o mar estava raso, iam à moita de S. Sebastião capturar santolas, conhecidas na Ericeira por “burros”, com canas de pesca aparelhadas com anzóis, pois a água límpida permitia vê-las no fundo do mar. Quando tocavam numa, a pinha de santolas desfazia-se rapidamente, fugindo todas num ápice. «Metiam-se debaixo da laje, mas apesar disso nós apanhávamos muitas. Ainda me lembro do “Ti” Eduardo Sá andar lá ao mergulho a apanhar santolas».
Vejamos as suas recordações de infância socorrendo-nos dos seus registos manuscritos autobiográficos [3] – «Quando nasci, a minha mãe tinha dezasseis anos e o meu pai vinte e dois. Depois de mim nasceram mais três irmãos, que tinham um ano de diferença, uns dos outros. Nasci numa era muito difícil. Havia muita fome.
Naquele tempo, os Invernos eram muito rigorosos. Ninguém ia ao mar. Era com a ajuda da minha avó materna [Júlia Conceição Soares, alcunha “Júlia Rata”]. Quantas vezes lhe fiz companhia, a irmos ao moinho comprar farinha. Era ela que fazia as cozeduras em casa para que pelo menos não nos faltasse o pãozinho. Eram as merendeiras. Na altura da cozedura da massa punha-lhe uns torresmos ou duas sardinhas. Também era aproveitado o brasido para assar batatas e cebolas, que muitas vezes serviam de refeição.
Mas, o pior ainda estava para vir. Já tinha os meus sete anos quando rebentou a Segunda Guerra Mundial. Passou a ser tudo racionado. Não havia petróleo para acender o candeeiro. Não havia luz eléctrica nas nossas casas. Era como a água, também não estava canalizada. Tinha que ir à fonte com o cântaro. A luz; éramos iluminados com lamparinas que tinha um pavio que queimava o óleo de peixe, que deixava um cheiro, que parecia que ficávamos intoxicados, pois assim que nos deitávamos, era logo apagado.
Estava-se a passar um tempo muito difícil. Não havia azeite. O azeite era contrabando e só para quem tinha dinheiro. Depois começou a farinha também a faltar. Minha mãe chamava-me às cinco da manhã, para ir para a bicha do pão. Todos os alimentos comestíveis eram comprados só com senhas, que tinham que ser racionadas. O café era fervido uma quantidade de vezes. Punha-se ao Sol para ir outra vez ao lume. Era só para enganarmo-nos. Não havia açúcar.
O pior aconteceu quando meu pai é chamado para ser mobilizado pela marinha de guerra. Depois chegou a altura de ter de ir para a escola já com oito anos e tive de aprender o a, e, i, o, u, na Cartilha de João de Deus. De sacola de serapilheira às costas, descalços, mal agasalhados, com Invernos frios e gelados. Era assim que acontecia principalmente aos menos abastados como a classe dos pescadores e outros. Os horários tinham que ser respeitados a rigor. Entrada às nove horas, até ao meio-dia. Tínhamos uma hora para o caminho e almoçar porque a entrada era à uma hora e só saíamos às cinco da tarde.
No Inverno era quase de noite. Também tínhamos férias no Natal, quinze dias e depois aproximava-se a Primavera e depois o Verão. Era quando vinha as férias grandes, que eram passadas na praia do peixe ou Ribeira. Começava a ajudar os barcos a descarregar todos os aparelhos de pesca, como lavar a embarcação, depois davam-me uns peixes, dinheiro, quando faziam as contas. Se isto fazia jeito à minha mãe.
Também tinha tempo para dar uns mergulhos e nadar. Era todo nuzinho, mas tinha cuecas. O meu problema era ser calmeirão e ser maior do que uma parte deles. Chegámos a ser corridos pelo cabo de mar e autoridades marítimas. Chegámos a fugir com a roupa à cabeça para a praia do Algodio. A roupa ficava toda molhada. Depois tinha que pô-la a secar no meio das rochas. Mas uma vez fomos caçados, eu e mais dois. Éramos três. Levaram-nos para a delegação marítima, presos. Fecharam-nos numa repartição sem casa de banho. Só tinha documentos de velhos que por ali passavam. O pior foi os senhores esquecerem-se de nós e quando chegou à noite a minha mãe e as mães dos outros companheiros ficaram aflitas, por não saberem nada de nós, até que alguém lhes disse que tínhamos sido presos por estarmos a tomar banho todos nus. Procuraram a autoridade marítima. Foram encontrá-los na taberna [Zé da Açúcar”], já bêbados e lhes disseram que se tinham esquecido de nós. Quando nos soltaram já era mais das dez da noite. Depois nunca mais fui a banho nu naquela praia. Arranjei umas calças velhas. Cortei-as nas pernas. Foi assim que arranjei um fato de banho. Eu ia ao banho, mas sempre de olho nos barcos que estavam a chegar. Assim que atracavam, eu ia ajudar para ganhar alguma coisinha. Foi assim até acabarem as férias.
Depois abriram as aulas. Para mim era uma seca, porque havia um bichinho dentro de mim que já só pensava na praia e nada de estudar. Trabalhos para fazer em casa, nem sempre tinha tempo para os fazer, depois ficava a tremer. Já sabia que lavava umas reguadas até dizer chega. Eu era um deles que fazia parte do tambor da festa, nem à porrada conseguiram matar o bichinho. Cheguei ao fim sem estar preparado para o exame. Chegou novamente as férias, lá fui novamente para a praia fazer o mesmo serviço que fazia antes; até quando chega a altura da matrícula para o novo ano. Quando minha mãe me disse que me ia matricular respondi-lhe que não ia para a escola e que queria ir trabalhar. Foi o que ela quis ouvir porque tinham falta de dinheiro em casa.
O primeiro emprego foi para uma oficina de serralheiro que era [do] meu tio, cunhado do meu pai, ganhar cinco escudos por semana. O meu trabalho era arear os fogões a lenha, que havia antigamente, e tomar conta da oficina enquanto ele ia trabalhar fora, até que um dia passei-me e fui para a pesca.
Fui corrido. Tive que ir dar serventia a pedreiro. A primeira, foi construir o edifício que é hoje o lar da Misericórdia. Acabou a construção, fui para a pesca outra vez. Pescar polvos, caranguejos, cabozes, abróteas. Muitas vezes ia para o rio pescar às enguias. Lá ia esgravatando alguma coisinha. Até que um dia havia muito peixe-espada. O meu pai levou-me ao mar, à pesca do peixe-espada. Chegámos à noite para o jantar. Foi a primeira vez que comi de garfo. À noite foi bacalhau com batatas.
Foi o começo de trabalhar na pesca. E comecei a andar ao mar com um velhote com o nome de Bernardino Garamanha. Eu, com um filho e com um neto. Andávamos a pescar com o aparelho com anzóis. Apanhávamos fanecas, pargos, abróteas, safios e moreias. Chegávamos a terra, descarregávamos o peixe para a lota e os aparelhos para terra. Íamos matar o bicho. Depois íamos apanhar santolas com uma cana com anzóis na ponta. As santolas estavam a montes. Naquele tempo não [as] apreciavam. Ganhei bom dinheiro neste barquinho. Depois fui descoberto pelo cabo de mar que me ameaçava que não tinha a cédula não podia andar ao mar e eu ainda não tinha idade para tirá-la, só aos catorze anos.
Ao segundo ameaço prendia-me a mim e ao meu pai. A saída era sempre à noite e quando chegava escondia-me debaixo da coberta».
Em 12 de Junho de 1948, José Arsénio obteve a cédula de inscrição marítima com o nº 1.338 na Delegação Marítima jagoz.
Durante a entrevista acentuou – «Eu embarquei em 1948. Fui lá fazer os quinze anos. Assim que tirei a cédula, através do conhecimento que o meu pai tinha com o mestre José dos Reis, do pequeno arrastão “Transmontana”, arranjei trabalho».
Estes arrastões eram chamados “vacas” ou “pirolitos”. Pescavam na barra de Lisboa. Com catorze anos nunca tinha saído da Ericeira. A mãe foi levá-lo a Lisboa. «Era um movimento que eu nunca tinha visto. O primeiro dinheirinho que eu ganhei foi para comprar umas “botazinhas” e uma saladeira em esmalte. Foi assim. Pescávamos em frente à barra. Os barcos tinham pouca força. Apanhávamos camarão, linguados, pregados, raias, marmotas. Não serviam para apanhar chicharros, porque não tinham velocidade suficiente. Andei quase dois anos nesse barco. Meti-me naquele meio e não regressei mais à Ericeira. Era um rapaz novo, as miúdas eram uma atracção.
Eu cozia todos os dias canastas e canastas de camarão. O camarão ia para a lota já cozido. Cheguei a ter colegas que andaram comigo na escola de pesca, que já faleceram, que iam ter comigo e eu enchia-lhes a barriga de camarão. Com um colega meu, agarrávamos num saco de camarão, íamos por terra dentro e tínhamos as miúdas que queríamos. Isto era assim, claro que é preciso olhar à idade, eu era um rapaz».
Apresentamos, pelo seu punho, a vivência da chegada a Lisboa e da pesca do arrasto na costa – «Assim que apareceu a vaga, chamaram-me para a pesca em Lisboa, na Ribeira Nova, para embarcar. Foi a minha mãe que me levou pela mão, que eu nunca tinha saído daqui. Era uma criança. Chegámos à Ribeira Nova estava o barco a descarregar, no batelão da descarga. Estava o mestre a bordo e minha mãe perguntou-lhe se era o senhor que era o mestre do barco. Ele respondeu que sim. Então está aqui [o] meu filho, como se entregasse uma encomenda de pouca importância e veio embora. Sem estar preparado para trabalhar, com pouca roupa, sem botas de borracha, oleados. Muitas vezes me deitei com as roupas molhadas. Tive que me desenrascar. Conforme ia ganhando, ia comprando tudo o que precisava, até um tacho e uma saladeira, dois garfos e duas colheres.
Nunca tinha vindo a Lisboa. Ainda me recordo quando chego à Ribeira Nova. Olho para o Tejo. Era quanto meus olhos viam um Rio Tejo cheio de vida. Viam-se fragatas à vela carregadas de mercadorias como barris de vinho, açúcar, pele, milho e muitos cereais, grandes rebocadores do alto mar, reboques do rio, batelões carregados de água para abastecerem os grandes paquetes de passageiros, cargueiros, barcos de pesca, etc., muitos botes à pesca do camarão. Apanhavam alcofas e alcofas deles, como “eiróses”. Barcos a descarregarem sardinha e outras qualidades de peixe.
Naquela Ribeira Nova era um movimento, que chegámos a andar aos encontrões uns nos outros. Era tanta gente a trabalhar. Mais abaixo, Santos, onde havia descargas de peixe de Cabo Branco. Começavam cinco barcos a descarregar ao mesmo tempo, desde as dezassete horas até às cinco horas da manhã. Eram toneladas e toneladas de peixe naquela praça.
Mais ao lado eram as docas secas, aonde se construíam os navios, limpavam o fundo e pintavam, etc. Eram milhares de trabalhadores, que ali trabalhavam.
Mais ao lado era a doca espanhola, aonde se encontravam os navios para descarregar as mercadorias. Eram milhares de estivadores a carregarem as camionetas para o comércio, como para o estrangeiro.
Lisboa uma cidade de trabalho, de gente pacífica, séria, trabalhadora. Que pena na altura vivíamos em ditadura. Tudo isto morreu. Agora todos os locais onde dantes se trabalhava estão ocupados por discotecas, bares, lugares de lazer e aonde se encontra a prostituição, a máfia, a violência. Já não se pode andar em Lisboa a partir de certas horas.
Tirei a cédula em 12 de Junho de 1948. Tinha eu catorze anos. Aos quinze anos embarquei no navio de arrasto chamado Transmontana. Naquele tempo chamavam vacas e pirolitos, a esta classe de arrastões por serem de pequenas dimensões. Foi neste barco o princípio, que comecei a trabalhar na pesca do arrasto. Era muito novo ainda não tinha a noção da vida que escolhi. Foi a sina, a escolher a mesma do meu pai, avô, de outros parentes. Tive que ir à luta, aprender a ser homem. Aprender a trabalhar. Cumprir com os meus deveres e saber respeitar todos companheiros, camaradas, desde os encarregados aos restantes.
Foi o que eu fiz em quase dois anos, que andei com eles, pois comecei a crescer a ganhar a prática, pois a bordo não havia cozinheiro e cada um tinha que cozinhar para si. Também não havia criados. Fui andando e vendo. Comecei a ver que estava a trabalhar numa vida terrível, pois trabalhávamos com umas artes ilegais, trabalhávamos com malha 2,5-3cm. Era o número de malhagem [com] que conseguíamos apanhar o camarão. Nós e outros apanhávamos às toneladas. Em geral era vendido em Cascais. Com este número de malha, matávamos todo o peixe que tinha olhos. Matávamos os filhos e os pais. Era um dó na nossa alma quando íamos virar as redes e depois quando escolhíamos o peixe maior. Depois o resto ia fora, para o mar. Ficavam a boiar por cima de água até servia para alimentação das gaivotas e outros pássaros marinhos. Anos e anos com esta matança estávamos a dar passos largos, a chegar ao fim. Já dizia o investigador dos fundos oceânicos que o mar parecia um deserto, o capitão Jacques Cousteau [4].
Neste tempo já havia as regras que nunca eram cumpridas, existia a fiscalização, mas o processo como era feito dava para rir. Era uma jogada. Era um rato escondido com o rabo de fora. Nós em geral sabíamos quando éramos fiscalizados. Tínhamos tempo para esconder tudo, tudo o que era ilegal nos lugares mais secretos, mas também tenho que ser franco.
Nós todos a bordo detestávamos os fiscais. Se fosse uma fiscalização a rigor a maioria deste tipo de arrastões não conseguiam sobreviver. Desembarquei em 3 de Fevereiro de 1950.
Fui para a Ericeira, a minha terra. Procurei o senhor delegado marítimo e professor da Escola Naval, 2º tenente Sr. Santa Rosa. Foi sem dúvida, o maior marinheiro naval que eu conheci e muito aprendi com ele. Pedi-lhe se era possível ir para a Escola Profissional de Pesca em Pedrouços, que eu gostava de ir para a pesca do bacalhau e ao mesmo tempo deixava de fazer a recruta no exército e ia fazê-la na marinha.
Quase no fim de Outubro fui chamado à escola para me alistar como aluno e com o número noventa e nove. Éramos cem alunos. Já entrei com quase dois meses de atraso para a vaga de um aluno que estava doente. Começámos a ter aulas. Aprendi a fazer nós, pinhas, ganchetas, costuras de cabos de arame, como cabo de massa, conhecer todo o tipo de barcos à vela, como a motor, como o velame e poleame, saber cartear a bússola ou agulha ou Rosa dos Ventos, como regras de navegação, saber o nome de todos os faróis de bordo, todo o tipo de ferros para ancorar, etc., etc.
Depois de cinco meses de aulas, eu e os meus colegas, companheiros, ficámos aprovados no exame. Mandaram-nos para casa que depois na altura era chamado. Neste período era para nós comprarmos as roupas e todos os agasalhos que eram precisos para enfrentar o clima frio da Terra Nova e Gronelândia».
Regressamos à entrevista – «Nessa altura, comecei a namorar a mãe dos meus filhos, Maria Alexandrina de Almeida, aqui na Ericeira. Era um rapaz novo. Ela ficou grávida e eu, em Março de 1951, arranquei para o bacalhau no “Sernache”.
Em frente aos Jerónimos, tivemos uma festa com missa campal, bênção dos barcos e com as famílias a assistirem. Acabou a festa e arrancámos. Fui de moço. Comecei a pensar que ia fazer uma viagem de seis meses e tal sem ver a minha namorada. Estar seis meses sem tomar banho. Davam um litro de água por dia a cada pescador. Como já tinha andado no mar era o encarregado de distribuir a água aos pescadores, as sardinhas e as lulas. Era um tanto de sardinhas e de lulas a cada pescador. Aquilo era tudo limitado.
Saímos de Lisboa direitos à Terra Nova. Quando chegámos, estivemos uma semana a pescar. O clima não era frio. Depois seguimos para a Gronelândia. Aí, é que havia frio. Estava sempre frio. Durante todo o dia tínhamos cinco horas para descansar. Como o descanso não era o suficiente chegávamos a uma certa altura, estávamos saturados e quase dormíamos e trabalhávamos em pé.
Às quatro e meia da manhã entrava um camarada, que tinha estado de vigia, o barco tinha sempre um vigia, e cantava os louvados – “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! São quatro e meia. Vamos ao pequeno-almoço!” Éramos sessenta e tal pescadores, perto de setenta. Metade ia tomar o pequeno-almoço, enquanto a outra metade ia receber a isca. O pequeno-almoço era feijão assado com toicinho e café. Só tínhamos carne uma vez por semana. A carne argentina ia salgada em barricas.
Os moços iam à câmara frigorífica e distribuíam quinze a vinte sardinhas a cada um, sardinha “arinca”, sardinha comprida. A sardinha era depois cortada para iscar o “trole”. Uma parte da sardinha ia congelada nas câmaras frigoríficas. A outra parte ia no porão, conservada em serradura e sal, e durava muito tempo.
Na matadela do bicho fazíamos bicha para tomarmos um cálice de cachaça. Depois de receberem a isca, os pescadores iscavam o “trole” e nós arreávamos os dóris.
O comandante e o imediato estavam sempre de olho nos pescadores, pois poderia surgir mau tempo. Apanhava-se bacalhau com “trole” e zagaia. Apanhava-se bastante bacalhau à zagaia. Alguns pescadores chegavam a vir com o bote carregado “resvés” com a linha de água, aquilo metia medo.
Em geral, o mar estava quase sempre “rasinho”. Às vezes havia Nordeste forte e feio, mas estávamos prevenidos, pois o capitão através das comunicações sabia quando ia surgir. Quando os botes estavam todos no mar, a pescar, e havia um aviso à navegação de Nordeste forte, o capitão içava a bandeira e apitava para os pescadores recolherem a bordo.
Alguns botes vinham a bordo descarregar e voltavam para o mar. Esta situação sucedeu poucas vezes. À chegada dos dóris, o capitão apontava a olho o que cada pescador tinha apanhado nesse dia. Os melhores pescadores tinham um prémio extra. Havia sempre a desconfiança que o capitão apontava mais peixe a uns do que a outros. Pois, às vezes, mais valia ter graça. Quando os pescadores chegavam para descarregar, cheguei a saltar várias vezes para o dóri, para que o pescador fosse comer alguma coisa enquanto nós descarregávamos o dóri.
Tinha força, sentia-me bem a fazer aquele serviço. Quando chegava à altura do jantar davam-me um copinho de “tintinho”. Eu não levei vinho nenhum porque não sabia que se podia levar. Os pescadores levavam o vinho nuns barris que estavam à proa. A proa daquele barco ia toda cheia de barris de vinho. Era um docezinho, que nos davam. O barco tinha umas divisões chamadas quetes, onde púnhamos o bacalhau que ia ser amanhado. Após descarregarmos os dóris, estes eram içados para dentro do navio com os guinchos e arrumados no convés.
Em cada quete, para amanhar o peixe havia um escalador e um troteiro. Primeiro partiam-se as cabeças. Com um jeito dava-se um golpe, batia-se a cabeça e esta separava-se. O escalador tinha uma faca com um certo jeito, um bocado torta, por causa da espinha. Com um bocado de prática, aquilo era sempre a aviar, a escalar o peixe. Quando separavam as cabeças, os moços estavam próximo e estas vinham parar aos nossos pés. Tirávamos as línguas e também os sames. A escala era feita sob observação do capitão. O bacalhau depois de escalado era lavado numas selhas, passava para o porão, onde estavam os salgadores, dentro dos hinos, a salgar e a arrumar o peixe. Os moços depois limpavam e preparavam os hinos para a salga do dia seguinte. O sal era carregado em Lisboa. Fiz uma só viagem, de seis meses e meio mais ou menos».
Algumas vezes, o capitão chamou-o para ir à emposta, isto é, para tomar conta do leme, enquanto andavam à procura de pesqueiros, porque sabia que José Arsénio tinha anteriormente andado embarcado.
Na primeira vez que substituiu o camarada que ia ao leme este disse-lhe qualquer coisa que não percebeu. Quando acabou o turno, o capitão foi ter com ele e disse-lhe:
– Oiça. É hábito, o camarada que larga o leme dizer – Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. E, o camarada que recebe o leme deve responder – Para que Sempre Seja Louvado. «Eu nunca tinha ouvido aquilo. O salário que recebi foi uma mijinha, setecentos e tal escudos, porque eu tive que pagar as roupas e aquela coisa toda. Não me lembro bem se fui recebe-lo à escola de pesca.
Quando estava um bocado de brisa os botes já não arreavam, mas os moços lixavam-se porque tinham que apanhar o peixe à zagaia para a alimentação da malta».
Devido às condições de trabalho e ao pequeno salário auferido na pesca do bacalhau, José Arsénio quando chegou a Belém foi ter com o comandante para pedir baixa. Não queria ir mais nenhuma vez.
Vejamos agora a sua vivência da pesca do arrasto na costa, da pesca bacalhoeira e do arrasto em Cabo Branco através dos seus escritos – «No dia 12 de Março de 1951 fui matriculado no navio de pesca do bacalhau com o nome Sernache. Fui abonado pela sorte com o navio que me calhou.
Naquela época, era um navio moderno. Pior [sorte] tiveram a maioria dos meus colegas, que lhe calharam os navios mais antigos, lugres à vela. Os lugres navegavam à vela com motor pequenino, que lhe chamavam, o auxiliar. Antes da partida tínhamos uma missa campal. Era a bênção aos navios bacalhoeiros e tripulantes. Era uma festa juntar todas as famílias a rezar, a pedir a Deus que fizéssemos uma boa viagem e que regressássemos com saúde e com boa pesca.
Quando acabava a missa começava a partida. Éramos uma série de barcos. Nós éramos cem alunos da Escola Profissional de Pesca. Fomos divididos por cada barco. Cada barco tinha à volta de 6-7 moços, 40-60 pescadores, mais oficiais, cozinheiros e maquinistas.
Esta vida é também uma vida de escravos. Recordo-me que por volta de 1947 mais ou menos os pescadores estavam a ganhar muito pouco no ordenado e percentagem de peixe que apanhassem e pensaram em fazer greve para rectificar os seus valores. Foi uma guerra. Os primeiros atacados foram os pescadores de Setúbal e Fuzeta. Prenderam os homens e raparam-lhes o cabelo e obrigaram a embarcar; foi um episódio que ficou na história do fascismo do Salazar, comandantes Tenreiros, pides, bufos e toda aquela seita que havia naquele tempo.
Saímos a 15 de Março de 1951 com rumo à Terra Nova. Navegámos onze dias até chegar ao pesqueiro. Nestes dias de viagem não havia apetite para comer com [a] tristeza. Não tenho vergonha em dizer que chorei; e não foi pouco só de pensar, que ia fazer uma viagem de seis meses e por acaso foi de seis e meio. Tantas saudades que eu tive. Muito jovem e na altura era como uma rosa a florir, mas sei que a vida não são só rosas, também tem espinhos como as tormentas e vendavais que passam.
Chegamos ao pesqueiro e começa a faina da pesca. Os dias de viagem é conforme o tempo que cai, pode ser de feição ou pode ser de contra, e assim chegamos ao pesqueiro. Começa a faina. Cada um para o seu posto. Os pescadores para a pesca e os moços são os auxiliares. Uns são encarregados da água, fornecer um litro de água a cada tripulante para lavar as mãos e passar a cara. A água tinha que ser racionada, porque éramos muitos a gastar.
Eu e os meus camaradas, só em seis meses e meio de viagem, nunca tomámos banho. Também é verdade, nunca vi qualquer parasita como piolhos, pulgas e outros em mim e nos meus companheiros. Também sei que o nosso corpo contaminado de sal, não era atacado; por experiência, os cães a bordo não criam pulgas. Outros [moços eram] encarregados da câmara fria aonde estavam conservados os iscos. Em geral eram sardinhas ou lulas, que depois, quando começava a pesca eram divididas por igual de 15-20 sardinhas por cada pescador.
Havia também os encarregados do porão. A sua missão era safar ou preparar os hinos no porão para os salgadores salgarem o bacalhau. Os hinos são divisões entabuadas no porão. Nós, os moços sempre que era preciso descíamos ao porão, cada um com uma pá e lá vai de pazada.
Nesta operação éramos acompanhados com um galão de cinco litros com água, com aguardente e açúcar. Transpirávamos muito derivado do isolamento do porão. Ficamos com sede; começamos a beber a água do galão; chegamos a estar alcoolizados. Depois era uma brincadeira e era assim sempre que descíamos ao porão.
Vamos ao processo de trabalho do princípio até ao fim. Há sempre um homem de quarto, ou seja, de vigia. Às quatro horas era hora da alvorada. Este vigia entra no dormitório e gritava Seja Louvado e Adorado o Nosso Senhor Jesus Cristo, são quatro horas, vamos ao pequeno-almoço. Toda a gente se levantava e era dividida a tripulação, metade vai receber o isco, fazem a bicha serenamente para receberem as quinze ou vinte sardinhas enquanto os companheiros matam o bicho que em geral é feijão torrado com pedaços de toucinho, café ou leite. Depois é o inverso, os que já receberam a isca vão comer e os outros vão à isca. Depois vão cortar as sardinhas em “boliscos” para iscar o “trole”.
O “trole” é aquilo que cá nós chamamos o aparelho. Também usam a zagaia para pescar. A zagaia é formada com um peso em chumbo com dois anzóis fixados sem isco. Tem que ser móvel, sempre com a linha para baixo e para cima. O bacalhau é um peixe [que a] tudo que mexe atira-se e fica preso nos anzóis. Os primeiros, depois de iscarem, formam a bicha para o cálice de cachaça ou aguardente. É aviada pelo moço da câmara. Quando todos mataram o bicho vão preparar, para arrear os dóris, que são os barquinhos, [em] que cada pescador pesca o bacalhau. Levam as artes para a pesca e o foquim com um farnel; em geral, umas postas de peixe frito, pão e uma garrafinha com vinho. Estes barquinhos são arreados e içados para os barcos com as talhas, que são os aparelhos manuais. Depois [de] todos arreados na água, cada um faz o seu rumo, um rumo ao norte, outros ao sul, conforme a ideia. Depois o navio é como uma mãe a tomar conta dos filhos.
Assim é o navio mãe que tem o comandante, o imediato ou o piloto. São os oficiais de bordo. Um deles está sempre atento com o binóculo para ver, se está tudo bem, com os pescadores que estão a pescar. Há um horário para o regresso. Também acontece alguns carregarem o barquinho antes do horário. Vêm a bordo descarregar, e voltam novamente a pescar.
O capitão está sempre atento à chegada para fazer os apontamentos, da quantidade de peixe que cada um pesca. Basta ele só olhar, com a experiência que tem, sabe, mais ou menos, o peso da pesca que trazem. Depois há sempre um desafio entre todos os pescadores.
Quando chega ao fim da campanha há sempre um campeão, e todos lutam para o ser, porque os campeões são sempre os mais amados para o capitão, e ganha sempre mais com a percentagem de pescado. Algumas vezes, aconteceu, virem descarregar e voltar para a pesca. Quando acontecia, eu mandava o pescador ir comer uma bucha, beber uma pinga. Eu saltava [para] bordo do bote e descarregava enquanto ele comia. Era uma alegria, para ele que descansava um pouquinho. Depois ao jantar recompensava-me com um copo de vinho. Eu dizia que não queria, mas era quase obrigado a beber. A bordo do navio existem quatro quetes, são dois em cada borda.
Os quetes são divisões que servem para os botes descarregarem o pescado. O processo é o seguinte – o bote quando chega lança a bossa para bordo. O moço segura com cuidado até o pescador descarregar. A bossa é um cabo que está atado à proa do bote. O peixe é descarregado com um garfo, que é um pau com 1,5m com dois dentes. Depois de descarregados são içados para bordo. Os botes têm o feitio, com um molde, que serve para encaixar uns nos outros. Depois de todos içados para bordo, vamos todos jantar. Era em geral caras de bacalhau fritas com batatas cozidas e sopa de feijão encarnado com farinha e hortaliça. Depois de jantarmos, íamos tratar do peixe.
O trabalho era feito assim, tínhamos o peixe nos quetes. À cabeceira de cada quete trabalhava um cortador de cabeças, um outro era o escalador. O que escalava o bacalhau. Nós, os moços cortávamos as línguas, as caras e sames. O bacalhau depois de escalado ia direito ao depósito de água, [onde] era lavado, e depois directo ao porão para ser salgado pelos salgadores. Esta operação nunca levava menos de 2-3h, conforme a quantidade do pescado. Depois de tudo arrumado, o barco lavado, íamos à ceia. Era a sopa de caras de bacalhau que a bordo lhe chamam chora. Depois de cear, íamos descansar até às 4h da alvorada.
O navio nunca pescava no mesmo sítio. Cada dia mudava de pesqueiro. O capitão tinha conhecimento, que eu já tinha andado embarcado, chamava-me para o leme, para levar ao pesqueiro, com as ordens dele. A primeira vez que fui render o homem ao leme, ele respondeu-me – Seja Louvado e Adorado Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu não sabia que era uso, fiquei a olhar para ele, que depois me disse, que eu lhe devia ter respondido, esta frase, Para sempre Seja Louvado. Trabalhámos aqui nos bancos da Terra Nova trinta dias. Depois navegamos quase dez dias com o rumo à Gronelândia, aonde fomos encontrar um clima mais frio, e a terra toda gelada, e o mar cheio de ilhas de gelo. Era sempre de dia, não havia a noite, e o peixe também era mais abundante. O processo de trabalhar era mais ou menos o mesmo, com os dias a passarem. Aqui na Gronelândia caíam mais brisas e aconteceu várias vezes os botes estarem todos no mar a pescar, e o capitão receber a notícia que [se] estava a aproximar uma baixa, mau tempo e o navio começava a apitar e içava a bandeira para chamar os botes. Era vê-los todos a remar à pressa, a fugir a medo de os apanhar. Pouco depois, aí estava ela. Era rápido. Chegámos a estar oito dias sem pescar. O capitão chamava os moços para irem pescar com a zagaia para apanhar peixe para a cozinha. Começávamos logo [a] refilar. Parecia que era castigo. Depois, com bom tempo, tivemos grandes pescarias. Era o convés de lés-a-lés cheio de peixe. Que eu me lembre foi duas vezes ou três estar a trabalhar oito a nove horas seguidas com o bacalhau. Depois de 2-3 meses o capitão dava a notícia, amanhã temos aqui o navio Gil Eanes. Era o navio hospital da frota do bacalhau e também trazia o correio. Era uma ansiedade, a espera de notícias para sabermos o que [se] estava a passar com a família. Também acontecia que [para] muitos, era uma desilusão. Tinham que esperar outra vez. Nós aproveitávamos e mandávamos nós.
Aos quatro meses de viagem, fomos a terra ao porto canadiano Santo Jones. Estivemos só dois dias para abastecer de combustível, água e alimentos. Foi pouco mas soube bem. Já estávamos fartos. Todos os dias a ver sempre as mesmas caras. Depois voltamos para o mesmo fado e nunca mais chegava ao fim. O barco também nunca mais estava carregado, para irmos embora, para casa. Tínhamos de trabalhar. Também às Quintas e Domingos tínhamos refeições de carne de barrica, carne argentina. Começámos a pesca. Fazíamos sempre o mesmo. Apanhámos várias brisas no pesqueiro.
Aconteceu uma vez, estávamos ancorados, começou a cair uma brisa forte, muito vento e formou ondulação, pois partiu a âncora. Ficou metade no fundo do mar. Tivemos que preparar a âncora que tínhamos suplente. Era uma âncora que pesava à volta de 200kg. Tínhamos que ser uns poucos para pegar nela. Formámos uma equipa com o capitão, imediato e piloto. Quando ao arranque, para fazer força, há um que dá um grande peido. Começamos todos a rir. Perdemos as forças. Tivemos que a baixar, e o tipo que deu o peido, vira-se para o capitão e diz, desculpe Sr. capitão, quem se caga a fazer força não fica a dever nada ao patrão. O capitão ao ouvir a frase, virou as costas e começou também a rir, e depois acalmámos, e correu tudo bem.
Depois começámos as nossas lides, e o tempo ia passando. Mas também havia sempre um bocadinho para pensar nas coisas a que éramos obrigados nestas idades, por exemplo, ter que dar de comer à mão ao passarinho. Cada vez que tinha este trabalho, fazia um risco com a navalha na antepara do beliche. Quando chegou ao fim da vigem já não havia mais espaço, pois todos estes riscos estavam sempre tapados com a manta, para não serem vistos. Só mostrei a dois amigos de confiança. Quando estava já quase a chegar ao fim também sei que há pessoas sensíveis a este pequeno episódio. Pois desculpem o meu atrevimento, mas tudo isto penso que é natural e quem fala verdade não merece castigo. Íamos sempre trabalhando e sempre à espera, que o capitão, dissesse que chegou o fim da pesca. Vamos para Portugal, vamos para casa, pois a alegria foi grande, já cantávamos, a desarmar tudo o que estava para trabalhar, como apoiar ou amarrar bem os dóris, ou botes, para fazer uma navegação mais cuidada. Tínhamos quinze dias para navegar para chegarmos a Lisboa.
Neste período passámos o tempo a comer e dormir para carregar [as] nossas baterias e jogávamos às cartas e dominó, mas sempre com o pensamento da chegada a terra. Cada dia parecia um ano. Com [a] ansiedade da chegada, conforme íamos navegando, até que começámos a ver nascer e pôr o Sol, que há cinco meses não víamos este cenário. Estávamos quase sempre a olhar para o relógio. Era a pressa de chegar para matar saudades e beijar e abraçar os nossos queridos e eu que o diga, que ia encontrar o meu primeiro filho [José André Almeida Arsénio], que alegria de saber, que já era pai e com os meus dezassete anos. Íamos aproximando de terra. Dois dias antes da chegada, já pouco ou nada dormíamos.
No dia seguinte, íamos para a proa do barco para vermos qual era o primeiro a avistar os relâmpagos das rotações do farol do Cabo da Roca. O tempo não estava muito claro. Fui eu o primeiro a gritar, já o vi. Estávamos a trinta milhas de distância da terra. O barco andava pouco. Chegámos às oito horas da manhã, à entrada da barra. Foi uma viagem, que não me deixou saudades. Quando o navio ia a passar em frente à Torre de Belém subi à ponte, dirigi-me ao Comandante e pedi-lhe o bilhete de desembarque e que ele me acusou e ameaçou-me que ia fazer queixa à Escola de Pesca, que nós depois de desmamados, que íamos para outros barcos. Eu respondi que bacalhau nunca mais, que bacalhau só no prato. Olhou para mim, então lá me passou. Ainda tive que ir ajudar a fazer a amarração, que era no outro lado do rio. Depois tive que ir apanhar o barco cacilheiro. Ainda vim almoçar à escadinha da Bica, ao Manuel da Bica. Lembro-me que estava a almoçar, tremiam-me as pernas, parecia que ainda estava a bordo. Depois fui apanhar a camioneta das duas horas. Cheguei a casa eram quatro horas. Quando cheguei à Ericeira, procurei a família, mas ainda me recordo que não sei o que se estava a passar comigo, parecia que estava bloqueado, parecia um bicho, até tive um amigo que me ajudou. Isto parece mentira, mas foi o que se passou. Parece que estou a ver uma amiga da Alexandrina com o menino ao colo e a Alexandrina ficou parada a olhar para mim. Parece que lhe aconteceu o mesmo; até que [nos] agarrámos um ao outro. Comovidos com as lágrimas nos olhos, com alegria. Já éramos uma família a sério. Quando chegou a altura do pagamento fui receber. Pagaram-me setecentos e tal escudos. Tive que pagar as despesas que fiz enquanto andei na escola e pagar a roupa que levei para o bacalhau. Fiquei quase teso. Fiquei triste. Depois de uma viagem de seis meses e meio com tanto sacrifício e quase não levar dinheiro para casa. Tive logo que pensar numa nova vida.
Fui-me inscrever para a pesca do arrasto do Cabo Branco como moço e quase não tive tempo para respirar, porque cheguei da pesca do bacalhau em 6 de Outubro de 1951 e embarquei no navio “Alde Baran” em 10 de Novembro de 1951, de interino. Acabei por ficar efectivo até ir fazer a tropa na Marinha.
Fiz a primeira viagem para Cabo Branco. Acontece que o barco nunca tinha feito uma viagem tão curta. [Em] poucos dias carregámos o navio. Fizemos catorze dias e horas. O que era normal eram de 21-23 dias mais ou menos. Foi chegar ao pesqueiro, nunca mais parámos de trabalhar. Foram três dias e três noites sem irmos à cama e comer sempre à pressa. E, eu sem estar habituado, já dizia mal da minha vida, porque tinha deixado a vida do bacalhau, porque eram viagens muito grandes, mas esta é pior, porque no bacalhau tínhamos sempre cinco horas para comer e descansar e aqui não há descanso. Enquanto houver peixe e [o] barco estiver carregado. Tanto que eu sofri.
Era uma pesca terrível. Largávamos a rede, nunca dava mais que duas horas de pesca. E apanhávamos dez a doze toneladas [em] cada lanço. Quando ainda estávamos frescos ainda escolhíamos muito peixe. Depois começou a acumular-se o cansaço. [O] rendimento cada vez era menos, como é possível, o processo de trabalhos destes bandidos, criminosos, pois virávamos dois sacos de peixe. Era à volta de dez ou doze toneladas. Já cansados não tínhamos vazão, para despachar o peixe para o porão, pois tínhamos que ter o trabalho de atirar mais de metade fora, para o mar já morto, para virar outras tantas para bordo.
Era assim sucessivamente. Éramos nós e outros navios com o mesmo processo. Isto acontecia todos os anos no mês de Novembro e Dezembro. No paralelo 19º, a marmota estava sempre a montes. Isto foi em 1951. Eram toneladas e toneladas, a matarmos para depois de morta, atirarmos para o mar. Era uma desgraça, hoje é um deserto.
Também acontecia andarmos a pescar e caíamos nos fundões do oceano. Era uma gritaria do capitão ou mestre. Vamos à rede depressa. Virávamos a rede e era uma sacada de lagostas, que não conseguíamos pôr para dentro. Tínhamos que cortar o saco, para irem todas para o fundo do mar. A maioria todas mortas. Sempre que as apanhávamos, era sempre para atirá-las para o mar, já mortas.
Quando tínhamos tempo aproveitávamos os rabos, salgávamos e íamos vender à Rua do Arsenal, a sete e oito escudos o quilo, pois não havia nada para conservar as lagostas. Recordo-me de ler que os japoneses, que as mortas, que nós atirávamos ao mar, faziam desaparecer as outras, que muitas morriam com a geleia que largavam. Foi assim que desapareceu tudo. Nesta época havia muito peixe em qualquer lado, como pargos, de toda a qualidade, garoupas, meros, corvinas, cachuchos, dentão e muitas outras espécies.
O Cabo Branco era um mar rico em peixe. Depois com a exploração desenfreada, começou a falhar aos poucos. Trabalhamos só no parcelo; o parcelo quer dizer que não havia rochas, as rochas eram a protecção das espécies. Depois com o avanço das tecnologias inventaram as redes com roletes de ferro. Foi mais uma ideia para a destruição dos oceanos. Eram redes que estavam preparadas para trabalhar por cima de toda a folha, quer dizer por cima de rochas e de tudo o que aparecia na frente da rede. Como também muitas vezes ficavam presas no fundo do mar para toda a vida, porque eram fabricadas à base de nylon, material rijo. Também levávamos todos os dias a consertá-las, ou seja, a remendá-las. Era assim. Já não há maneira do peixe de defender-se e lá andávamos até ao carregamento do navio. Com o tempo, cada vez as viagens eram maiores, porque o peixe aos poucos ia escasseando.
Depois de carregados navegávamos seis, sete dias para Lisboa com o rumo Norte, quarta a Nordeste. Passávamos pelo meio das Ilhas das Canárias quase sempre com vento de Norte, “Nortada”, até Lisboa. Assim que chegávamos, íamos directos ao cais das descargas.
Em geral levávamos três dias a descarregar. Quase não dava tempo para lavar as roupas. Era tudo à pressa. Quando nos calhava um dia de vigia; como era possível já homem ganhar metade dos marinheiros, depois de fazer uma viagem de 22-23 dias de trabalho duro. Era uma escravidão, mas éramos obrigados a aceitá-la. Se desembarcasse tinha que enfrentar os Invernos rigorosos, que caíam naquele tempo. E, os barcos aqui na Ericeira não tinham as mínimas condições. Eram de pequenas dimensões. Tinha sempre medo de eu e os meus, de passar fome. Obrigava a aceitar a escravidão, pois vejamos eram uns gatunos. [Em] todas as descargas, havia o peixe deteriorado ou mal condicionado. Todo esse peixe era vendido para a tulha; até muito dele era aproveitado para consumo, e esse peixe era fruto do nosso trabalho. Dele nunca ganhávamos um avo. Era um autêntico roubo, e não podíamos reclamar. Se o fizéssemos acusavam-nos como reaccionários sujeitos a irmos presos por esses bandidos capangas do pirata comandante Tenreiro, que eles e muitos da mesma seita arranjaram fortunas à conta da nossa escravidão. Faltou-me resistir à sentença que me deu o senhor mestre de pesca Manuel Trabucho. Perguntou-me se eu sabia os mandamentos cá de bordo, disse-lhe que não, então era trabalhar à pressa, comer à pressa, e dormir à pressa, pois este fazia parte desta seita. Nós trabalhávamos e eles é que ganhavam o bolo.
O navio tinha feito uma reparação de vinte dias. Ficámos parados e eu aproveitei a casar. E, combinámos com o padre Manuel [Gonçalves] para nos casarmos e foi rápido. Este padre Manuel era um santo, porque fazia baptizados, casamentos a toda a gente que era pobre e não levava dinheiro nenhum.
Casámos em 19 de Junho de 1952, já o menino tinha nove meses. Foi engraçado. Começou a missa e eu fiquei a conversar com pescadores que estavam a trabalhar com as artes de pesca da lagosta, no adro, até que vieram as beatas a sair. Já estava a acabar a missa. Veio a Alexandrina cá fora a dizer-me que o padre estava à minha espera. Lá fui. Pedi desculpa e lá me casou. Na altura a minha mãe começou a chorar e a tia da Alexandrina [Manuela de Jesus Esteves Pereira] ao vê-la chorar deu-lhe um ataque de riso. Foi uma barraca. Tudo bem. Levei um casaco azul-escuro que o meu pai me emprestou e a Alexandrina levou um vestido verde que a prima Corália [Esteves Pereira Arruda] lhe ofereceu. Foi um casamento pobrezinho.
Depois fomos almoçar para casa da minha sogra. O almoço foi bifes com batatas fritas. Convidados foram meus pais e minhas duas irmãs, da parte do noivo, da parte da noiva só foi a mãe, minha sogra, a Marquinhas [Maria da Conceição Piloto] ficou chateada por não ser convidada. Volta e meia fala no assunto. Depois a minha avó paterna [Maria Guilhermina Arsénio] deu-me uma galinha e as tias da noiva deram-lhe um tacho, uma panela e lá fomos morar para o bairro dos pescadores. Foi esta a minha vida de moço em Cabo Branco.»
Regressamos novamente à entrevista – «Gostei de andar com o mestre Manuel Trabucho. Dei-me bem com ele, considerava-me porque eu trabalhava. Na altura embarquei de interino. Fui substituir um rapaz que tinha ido fazer seis meses de serviço militar na marinha. Quando o rapaz voltou para ocupar o lugar, o mestre disse-me que eu ficava. Não saía. Fiquei um bocado atrapalhado com a situação. Andei mais ou menos dois anos em Cabo Branco nesse barco.
Naquela altura, em Novembro, Dezembro, aparecia muita marmota, penso que era altura da arribação do peixe, quando este procurava aquele fundo. Levei uma porrada. Um homem não estava habituado aquele movimento. Nós não estávamos sempre a trabalhar em pé ou sentados, trabalhávamos de “trocas” ou de bruços. Eu já não podia mais. Cheguei a pensar – Então, eu fugi do bacalhau e agora apanho isto. Isto é uma desgraça. Cheguei a uma altura que pensei – Eu não aguento isto!
Depois tive mesmo de me habituar. Foi uma viagem de catorze dias e horas. Foi uma das viagens mais curtas. Era raro fazer-se isso. Aquilo foi chegar ao pesqueiro, largar a rede até carregar o peixe, durante três dias e horas. Não havia horas para comer. Não havia horas para deitar. Não havia horas para nada, enquanto o barco não estivesse carregado com 90, 100 toneladas de peixe. Sempre, sempre a trabalhar.
No princípio ainda estamos frescos e aquilo vai, mas chega a uma certa altura que satura.
Aquilo era uma vida assassina. Por exemplo, íamos à rede, apanhávamos dois sacos de peixe, levámos um certo tempo a tratar o peixe, havia peixe para abrir, não era só pôr em canastas. Havia umas mesas para amanhar o peixe. As marmotas eram marmotas miúdas e “meanas”. Não era pescada. A marmota “meana” já tinha que se abrir e tirar a tripa antes de ir para o gelo. Não éramos capazes de meter o peixe todo para dentro do porão, dos sacos que tínhamos metido dentro do barco. Não dávamos vazão. Com uma mangueira de água varríamos o peixe do convés para o mar para entrarem mais dois sacos.
O peixe estava ao Sol no convés e começava a escurecer. Abria-se o portaló, mangueira em cima e lá ia o peixe pela borda fora. Deitávamos ao mar constantemente toneladas de peixe. A nós pescadores custa-nos a dizer isto, mas éramos uns assassinos. Com este procedimento, certas espécies de peixe desapareceram. O barco arrastava lateralmente.
Naquele tempo, os barcos faziam fila para descarregar a marmota em Santos. Quando estamos a pescar à marmota, o fundo pode ser parcelado, tem serras e fundões, e a rede cai no fundão. A nossa costa está cheia disso, são altos e baixos no fundo do mar. Nessa situação vinha cada sacada de lagosta, que você não faz ideia. Quando caíamos no fundão, o saco vinha muito pesado, ao contrário de quando vinha só com marmota, porque a marmota quando vinha para cima flutuava e o saco não era tão pesado.
Nessas ocasiões utilizávamos uma foice de cabo comprido, para cortarmos o saco para se despejarem as lagostas para o mar, para podermos virar o saco para dentro do barco. As lagostas vinham em quantidades enormes na rede. Era uma sacada tremenda. Pegávamos nas lagostas e só aproveitávamos a côa, as cabeçorras grandes iam fora. Salgávamos as lagostas e depois íamos vender na Rua do Arsenal, a oito e a dez escudos o quilo. Também púnhamos algumas em frascos de vidro com vinagre para o petisco. Secávamos também chocos e lulas para vender. Era assim que íamos compondo o salário com aquilo que ganhávamos. O salário era baixo, nós ganhávamos era com as percentagens. Não me recordo bem, mas seriam quatrocentos e tal escudos. Quando o barco ia para a reparação o armador despedia-nos, quando vinha voltava a matricular-nos para poupar dinheiro a nível dos encargos sociais. Assim que chegava, a minha mulher vinha da Ericeira ter comigo. Cheguei também a morar na Bica, em Lisboa. Saí dali e fui para a marinha de guerra. Passei na inspecção, correu tudo bem».
Recorremos, uma vez mais, à autobiografia de José Arsénio – «Tive que desembarcar, pois estava na hora para assentar praça. Tinha dezanove anos. Foi dos dezanove aos vinte anos. Agora é que a porca torce o rabo. Casado, já com um filho, ganhava cento e sessenta escudos como grumete da reserva da marinha da Armada. A mulher tinha que trabalhar. Andava na venda do peixe. Nós morávamos com a minha sogra [Olinda da Conceição]. Era uma santa, tinha todas [as] qualidades, como amiga ajudava-nos dentro das poucas possibilidades que tinha. E, não tenho vergonha de dizer, tinha-lhe mais amor do que à minha própria mãe.
Meus pais nunca me apoiaram. Só uma vez o meu pai por coincidência embarcou na mesma camioneta que vinha para a Ericeira e pagou o bilhete da passagem. Naquele tempo custava dez escudos. E, lá fomos vivendo dentro das nossas possibilidades durante os seis meses que estive a fazer o serviço militar na marinha.
Acabou a recruta fui para casa, [na] Ericeira, para começar a trabalhar nestas embarcações, nome de lanchas, barquinhos de pequenas dimensões, mas sempre a pensar em procurar uma vida melhor, porque aqui só no Verão e os Invernos [são] muito grandes.
O mar na Ericeira era muito rico em marisco como lagostas, lavagantes e santolas, caranguejos, lapas, mexilhões e percebes, como muita qualidade de peixe. Era uma fartura naquele tempo, isto em 1952.
Como era feita a pesca da lagosta? Em geral, a praça do peixe às cinco horas da manhã já estava aberta, com uma ou duas camionetas carregas de chicharro para vender. Era este peixe que servia de isco. Comprávamos duas caixas de chicharro. Eram escalados e depois atados dentro dos covos. Os covos eram as armadilhas para apanhar as lagostas, lavagantes, moreias e polvos grandes. Iscávamos entre 25-30 covos. Procurávamos fundos rochosos. Atirávamos com os covos para o mar. Dávamos uma hora de pesca. Depois íamos içá-los. Chegávamos a apanhar dez e doze lagostas, só num covo. Era uma alegria quando isto acontecia. Havia sempre o garrafão ali perto; lá ia uma pinga, corria de mão em mão. Em dois lances que fazíamos apanhávamos à volta de 100, 90, 80 lagostas.
Depois se estivesse vento vínhamos à vela, se estivesse calma tínhamos que vir a remos até chegar ao porto. Quando chegávamos, púnhamos todas as lagostas dentro de sacos de redes que ficavam no lago presos com uma pedra e uma bóia dentro na água para aguentá-las vivas até à hora. Era engraçado a venda do marisco. Uma hora antes do Sol se pôr começavam os pescadores a puxar os sacos das lagostas para a terra para começar a venda. Estendíamos as lagostas na areia. Começavam todas a saltar e o pescador era o que fazia o pregão com um apontador ao lado, acompanhado do guarda-fiscal. O comprador dava o “chui”.
Depois ele analisava uma a uma e chegavam a encontrar algumas quase mortas e outras picadas por outras que eram capazes de morrer nos viveiros. Essas lagostas eram vendidas entre os vinte e trinta escudos, as mortas ou picadas iam a cinco ou seis escudos. Isto era a pesca do marisco.
Quando chegava a noite olhava-se para o mar parecia uma cidade flutuante com traineiras galeões todas com a rede de cerco largas, cheias de sardinhas ou carapaus. Neste tempo essas redes eram puxadas à mão, pois gritavam todos ao mesmo tempo “Olé vai” para fazerem a força todos em simultâneo até enxugar a rede para desembaraçar o peixe para bordo.
O início da pesca era sempre nos ensejos, uma hora antes de nascer o Sol ou uma hora antes de pôr o Sol. Era nestas alturas que começava a pesca. Mestre e camaradas olhavam para todo o horizonte para ver os pássaros marinhos como o alcatraz, gaivotas e gaivinhas, como golfinhos e outros mamíferos todos a atacar o cardume até que chegava a traineira fazia o cerco com a rede. Depois iam para o “Olé, Olé vai, Olé, Olé vai”, etc.
Depois da pesca, os barcos carregados de sardinha, uns mais outros menos, dividiam-se uns para Peniche, outros para Cascais, Lisboa, etc. Descarregavam também 10-15 cá na Ericeira. Era uma farturinha em frente do porto. Ancoravam umas ao lado das outras. Depois carregavam as chatas ou botes para transportar para terra. Enchiam as caixas e dali iam para a lota. Havia descarga até haver compradores.
Enquanto os botes ou chatas descarregavam, para não encalharem, éramos nós rapazes que tomávamos conta delas e íamos brincar com os botes para a carreira, para trás do cais. Eles iam aviarem-se à praça; comprar fruta e trocar por sardinhas.
Chegou a acontecer, quando eram muitas a descarregar, o peixe era muito, já não havia compradores, o resto ia fora para o mar. Quando isto acontecia, meu pai e muitos pescadores pegavam em duas ou três caixas, amanhavam os carapaus, faziam uma salmoura. Depois nós íamos apanhar uma mão cheia de “resquilho”, ou caruma para estender; depois estendiam-se os carapaus para secar, para comermos no Inverno com batatas.
Os Invernos eram rigorosos, passávamos fome, a seca era feita mesmo ao pé da porta. Na altura quase não havia carros. Voltando atrás os botes ou chatas como nós chamávamos tinham a bordo aparelhos de anzol, iscavam e largavam para apanhar outras espécies como pargos safios, abróteas, fanecas, etc. para caldeirada que faziam a bordo.
A lota era feita no areal. Espetavam uns ferros no centro do areal em forma de rectângulo acompanhado com as cordas. Eram estendidas caixas de sardinhas ou carapaus naquele areal. Depois apregoador ou vendedor com as varinas e todos os compradores para darem o “chui”. Depois o movimento a ir buscar baldes de água ao mar para lavar o peixe e arrumá-lo nas canastas. E, os homens nos canastros. Também estavam os burros à espera para serem carregados. Era uma praia cheia de movimento.
Temos um miradouro que é o icebergue da nossa terra. É arribas que estava sempre com muita gente a mirar esta luta pela vida. Parece que estou a ver as varinas, os varinos com as canastas à cabeça, como os homens com os canastros que eram uma vara com uma canasta em cada ponta que a punham às costas e burros também a subirem por aquela calçada acima. Uns direitos à praça, outros com outros destinos, como aldeias nas nossas áreas. Muitas andavam a pé e descalças. Chegavam a percorrer vinte e trinta quilómetros. Muitas só comiam quando chegavam a casa e algumas com crianças pequeninas sozinhas e às vezes todas cagadas com fome à espera da mãe. Havia muita fartura de peixe, mas não deixava de haver fome porque o peixe ia ao desbarato e não comíamos só peixe.
Havia outras pescas como a do anzol, o aparelho. O aparelho é por exemplo cem metros de linha ou fio, em cada metro leva um estralho com um anzol. Cem metros cem anzóis. E, usávamos vinte aparelhos, pois assim que chegavam as traineiras as primeiras caixas eram vendidas aos pescadores para a isca. Ali na praia iscavam os aparelhos. O processo era o seguinte: camaradas moços acartavam para a praia aparelhos, as bóias, uma pana; a pana era uma tábua com uns 70cm de largura, 2,30m de comprimento. Era aonde nós cortávamos a sardinha para fazer os iscos. Iscava-se o aparelho. Depois de iscado embarcavam para bordo com bóias para sinalizar. Tudo embarcado, toca a remar, içava-se a vela, se houvesse uma “aragenzinha” bastava navegar uma ou duas milhas para largar o aparelho.
Outros compravam isca para pescar à linha no “lejo”. Eram os pesqueiros como Portão, Gajeiro, Recanto, Portão das Sapateiras, Cabeço da Rosa, Pedras da Pontarrala, Pedra da Malha, Pedra das 14, etc., etc. Estes em geral pescavam de manhã até às quatro horas da tarde; lá traziam caixas de fanecas, uns pargos, choupas, etc. Outros também compravam isca para a pesca do safio e goraz; também apanhavam abróteas, moreias, etc. Estes saíam de manhã para o pesqueiro, só regressavam no outro dia de manhã.
Nome de alguns pesqueiros cascos, S. Vicente, Santa Terezinha, Figo, Bergal, Pêra, Mar do Avô, Pedra da Palavra, Maçã, Casco da Rosa, as Chapas, os portões, como André, Belga, Manuel António e muitos outros.
Nessa altura, os pescadores eram António Garamanha, o “Moleiro” [Fernando Bonifácio da Silva Brites], José Miguel [Rodrigues], o pai, o “Tó Quim” [Joaquim Rodrigues], Palaia, Guiné [António Henriques Carramona], João Camelão, Polinário [António Apolinário].
Esta era uma arte de pesca muito perigosa, porque eram barcos pequenos e distanciavam muito, alguns saíam e não voltavam, porque caia temporal, o mar também embravecia, barcos a remos e a vela não tinha defesa.
Cada barco tinha quatro tripulantes, mas apareciam três e quatro ajudantes, que depois juntávamos todos e começávamos a trabalhar. Uns a acartar os aparelhos, outros a cortar os iscos, outros a iscar os anzóis, outros a safar linhas e boias. Depois dos aparelhos iscados e tudo pronto, toca a embarcar. Todo este tráfego para sairmos para o mar.
Navegamos a remos ou à vela uma hora ou duas, quatro ou cinco milhas, para largar o aparelho, que estendia dois mil metros, que dava dois mil anzóis, que depois de largo ficava a pescar uma hora, para depois começar a alar ou puxar para bordo. Começávamos logo a ver os peixes presos nos anzóis. Era um a remar, outro a alar e outro a desiscar os peixes presos aos anzóis. Quando a caçada estava toda a bordo, preparávamos para o regresso.
Era uma arte que apanhava muito peixe. Trazíamos sempre grande quantidade de peixe, como pargos cabaços, ruivos, pregados, rodovalhos, safios, moreias, fanecas, abróteas, raias, cações, galhudos, caneja, pata-roxa, etc. Era um barco carregado de peixe. Lá íamos à vela ou a remar de regresso à terra, para depois descarregar o pescado para a lota. Ficamos sempre com o suficiente para dividir para camaradas e ajudantes, que nós chamávamos moços, que também quando fazíamos as contas, havia sempre uma migalha para os moços. Isto era uma pesca, uma arte que respeitava todas as regras que são exigidas hoje. Esta arte usava anzóis grandes que só apanhavam peixes com as dimensões adequadas. Se nós todos trabalhássemos com este processo, hoje não estávamos a gritar e a chorar a ver o peixe desaparecer, a passo largos para um fim. Também pescávamos à linha.
Procurávamos os mares rochosos, como cascos de navios, com anos de naufragados, aonde são criados os congros ou seja os safios, moreias e gorazes, nos bancos de pedra. Chamávamos o “lejo”, aonde pescávamos fanecas, pargos besugos, etc. Íamos de manhã e regressávamos à tarde com cinco seis caixas de fanecas, três ou quatro caixas de pargos e uma ou duas de choupas e ruçadas. A pesca nos cascos era diferente.
Era a pesca do safio. Largávamos para o mar à tarde e pescávamos toda a noite e o regresso era de manhã. Muitas vezes, chegavam com grandes lances de safios e de gorazes, como também aconteceu saírem e nunca mais voltarem porque eram traídos com os maus tempos que se formavam de um dia para o outro. Saíam com o mar calmo e durante a noite formava-se a tempestade, barquinhos com dimensões muito reduzidas, com cinco metros de comprido e dois de largura, a remos e a vela. Não tinha defesa. Hoje não acontecia nada disto com as tecnologias. Já sabem que tempo e o mar que cai durante dois e três dias. Todas estas pescas eram feitas só no Verão. Naquela altura havia um ditado muito antigo, no fim de Agosto cada barco no seu porto. Eram todos encalhados pela calçada acima. Com o medo ninguém arriscava, pois no Verão ganhávamos umas coroazinhas. Um Verão era tão pequenino e os Invernos grandes e dolorosos. Era assim e o dinheiro não chegava e aqueles que não pensavam noutra vida passavam fome, eles, mulher e filhos. Eu aproveitei assim que acabou o Agosto fui saber quando é que podia estudar para tirar a carta de marinheiro. Resposta na semana seguinte. Segunda-feira comecei eu [e] mais dez amigos, todos conhecidos. Começamos a estudar para tirarmos a carta de marinheiro. Estivemos dois meses e meio na Escola Profissional de Pesca em Pedrouços, Algés. Éramos dez companheiros a tirar a carta e só tínhamos aulas duas horas de manhã e duas horas à tarde.
Só vinha a casa aos fins-de-semana. Voltávamos na Segunda-feira seguinte, para aprender muita coisa que já sabíamos, pois, os senhores tinham que apresentar serviço, pois quem se lixou foi o mexilhão, digo eu. Não era preciso tanto tempo, para tirar uma carta de marinheiro. Chegou ao fim, fomos todos fazer o exame na Capitania do Porto de Lisboa. Foi um oficial da marinha que nos examinou. Quando acabou o exame todos nós esperámos os resultados. Assim que apareceu uma praça a dizer, ficaram todos aprovados, éramos todos a correr para a Rua das Trinas, aonde se faziam as inscrições. Os que se inscreviam à frente tinham a vantagem de embarcar primeiro. Coitados correram para a morte, é [o] que tem que acontecer. Calhou-lhes o navio Açor, navio que pescava cá na nossa costa. Fizeram poucas viagens. Houve um dia, o mestre pensou pescar ao norte do Cabo da Roca. Vinha de Lisboa e rumaram ao pesqueiro. Nessa noite o mar estava com grande ondulação e no Cabo Raso o mar partia muito longe da costa, pois passaram muito perto do cabo, o mar arrastou-o para terra para cima dos rochedos. Dá-se o naufrágio. Só se salvaram dois tripulantes. Um era cá da Ericeira, o Joaquim Caseiro, que ainda se encontra vivo[5], outro era de Cascais, e o resto da campanha faleceu; todos incluindo os meus colegas e amigos. Os três eram de Setúbal. E, houve muita gente em terra que viu esta tragédia. Os tripulantes a subirem os mastros com a aflição a pedir socorro. Quando o mar partiu os mastros, depois atirou-os contra as rochas. Foi o fim. Acontece. Foi um erro tremendo, o capitão fazer um rumo muito arriscado. Falta de conhecimento. São erros imperdoáveis. Também faleceu, não está cá para ser julgado, pois também que esteja na paz do Senhor».
Durante a entrevista revela-nos o primeiro embate com a doença que o tem apoquentado uma vida. José Arsénio sofre de distrofia muscular fácio-escapular-umeral [6].
«Na escola da marinha, durante um exercício na sala com a metralhadora não conseguia ter a correcção que o sargento queria que eu tivesse. O gajo tinha lá uma varinha, exigia a postura. Eu dizia-lhe:
– Meu sargento, não consigo. Não posso!
Tocava-me com a varinha. Até que me disse:
– Amanhã vais para o hospital.
Fui para o Hospital da Marinha. Isto foi depois de um mês de lá estar. No hospital, o ortopedista fez-me o exame e no final perguntou-me:
– Você vai estar muito tempo na Marinha?
Respondi:
– Sr. Doutor, posso estar mais dois ou três meses.
– Nesse caso, escreve-se aqui que não tem problemas, pois vai estar cá pouco tempo.
O meu pai não tinha esta deficiência. Nem conheci ninguém da minha família que a tivesse tido. Isto é esquisito, pois dizem que é hereditário. O meu filho Rui tem o mesmo problema e o meu neto Miguel para lá caminha.
Eu recordo-me de estar ao leme em Cabo Branco e o capitão ter dado por isso. Disse-me:
– “Eh, pá! Você tem aí um problema qualquer”.
Olhava para os meus braços e dizia:
– “Você tem um problema qualquer”.
Eu tinha uma postura em pé diferente do normal. Estive na armada cerca de seis meses. Fui para Vila Franca de Xira para a escola de marinheiros, depois fui destacado para o Arsenal. Ganhávamos cento e tal escudos por mês. Era mais do que na tropa, e a alimentação era melhor».
Entre 1953 e 1958, José Arsénio andou embarcado no “Ilha do Faial” como marinheiro pescador.
«Saí da marinha. Tirei a carta de marinheiro e embarquei no “Ilha do Faial”. Andei mais ou menos cinco anos nesse barquinho. Andei sempre na pesca de Cabo Branco e sempre como marinheiro pescador. O meu pai deu-me um recado – Quando fores para lá, faz o que vires fazer. Nunca mais me esqueci deste conselho. Andei de marinheiro nesse barco».
Nos escritos sobre o tempo em que andou no “Ilha do Faial” recorda – «O embarque foi em 15 de Dezembro de 1953. Eu fui protegido pela sorte. Calhou-me o navio de pesca no Cabo Branco, Ilha do Faial.
Era um bom navio. Depressa comecei a conhecer toda a tripulação, também encontrei dois tripulantes já meus conhecidos. Sentia-me muito contente, pois era marinheiro; já ganhava o dobro de moço. Mesmo a ganhar mais, nunca deixávamos de ser escravizados de tudo que já expliquei atrás, que continua tudo na mesma. E, assim começamos a abastecer o navio com gasóleo, gelo, óleos, água e todos alimentos comestíveis. Tudo abastecido, é marcada a saída [para] 20 de Dezembro de 1953. Ficámos logo a saber que o Natal era passado longe da família. Não é só aos homens do mar que isto acontece, também acontece com doentes nos hospitais, reclusos e outros que não têm uma migalha para a ceia. O mundo é assim. Vamos esquecer o Natal.
Navegamos para o pesqueiro. Vamos preparando as redes e todos [os] elementos que fazem parte da pesca. Quando chegámos ao pesqueiro, largámos a rede. Faziam duas horas de pesca. Depois viramos a rede para bordo. É despejado o saco que trás o peixe. Se o peixe é rentável larga a rede novamente, no mesmo sítio, se não for, navegamos para outro pesqueiro.
O peixe é escolhido, pargos com pargos, garoupas com garoupas e assim sucessivamente. Todo este peixe maior é aberto para limpar tripas, buchos e lavado para chegar a terra em condições de ser consumido. Todo o peixe depois de ser tratado é metido em canastas para descer ao porão para ser gelado nos paióis. Os paióis são divisões que servem para separar as espécies. As canastas são vasilhas, que também servem para saber a porção de peixe, que apanhamos. Tem que [se] contar as canastas que descem ao porão. E, cada canasta leva o peso 30kg de peixe. É um meio de orientação. Toda esta lida é feita até ao carregamento do navio, cerca de 100 toneladas para tratar esta quantidade de peixe. Temos que trabalhar muito. São viagens que são feitas entre 20 a 23 dias, isto é, como eu disse atrás, cada ano que passa vai-se notando que o peixe vai faltando. Quando carregado navega-se para Lisboa para descarregar para a lota e venda do pesqueiro. Até Lisboa leva cinco ou seis dias, isto é, tal e qual os alcatruzes, uns vêm e outros voltam. Era assim, todas as famílias estavam sempre de escuta para saber quando era a chegada e a que horas. Em geral quando o navio encostava ao cais, lá se encontravam os familiares da tripulação, pois assim que o navio ficava amarrado ao cais saltávamos para a terra para abraçar e beijar os nossos queridos. Íamos buscar os sacos de roupa suja, recebíamos ordens.
As ordens eram sempre as mesmas, no outro dia às oito horas da manhã para lavar a parte do porão que já tinha sido descarregado. Lá íamos para casa. Passávamos a noite em casa e procurarmos tudo para recompensar o tempo que estávamos no mar, o que não era possível. O diabo era quando depois de vinte e três dias de viagem, eu e outro colega, tínhamos que gramar a fazer a vigia até ao outro dia, até às oito horas da manhã, quando éramos rendidos. Aquelas descargas eram uma barafunda que não dava para uma fugida a casa, para dar uma rapidinha, mas também antes de acabar o serviço da vigia, tomava o meu banhinho, que era para não perder tempo em casa. Assim que saltava para terra, procurava o transporte para casa. Parecia uma flecha. Entretanto já era horas de almoço. Era almoçar, depois cama e pimba, até dizer chega. Era assim a porca desta vida. Desculpem, mas isto não tem graça. Tudo isto era o que acontecia e tudo natural e sério e não palavras a mais.
Depois do barco estar descarregado, fazíamos a limpeza geral ao porão, para novamente carregar de gelo, gasóleo, água e mantimentos e tudo o que era necessário, para nova viagem. Marcada a saída, as famílias no cais à nossa despedida. Largávamos cabos e seguíamos viagem. Acontece, na viagem há problemas com o rancheiro, lembraram-se logo de mim, que eu tinha jeito, respondi que tinha de pensar primeiro. Depois de pensar aceitei. Era um encargo que eu ia tomar. O rancheiro é a pessoa que é responsável com a alimentação dos marinheiros e moços. O resto é com o cozinheiro, que tinha que cuidar dos encarregados. O rancheiro tinha que ter a orientação para fazer as requisições dos mantimentos, que eram precisos para a viagem, com este encargo deixei de fazer vigias.
Quando chegava de viagem estava sempre pronto para saltar. No outro dia, ia falar com os fornecedores que eram hábito, e requisitava as batatas, cebolas, alhos, massas e arroz, azeite, e temperos, etc. As carnes; ia ao talho, comprava a carne para cozer, como bifes, costeletas, etc. Como era bom freguês e para não o perder davam-me sempre uns bifes ou costeletas para levar para casa. Era também as vantagens que tinha. O rancheiro; era ele que escolhia e amanhava e salgava o peixe para o rancho e preparava a refeição para quando havia uma oportunidade para comer. Foi assim que me apareceu um bichinho de gostar da cozinha. Mais tarde, meteu-se na minha cabeça para ser cozinheiro. Cheguei a pedir informações como é que eu tirava a carta, pois ia ao Arsenal da Marinha, bastava fazer uma caldeirada e passavam-me logo a carta.
Aconteceu, nem a propósito. Eu descia as escadinhas da Bica, para ir comprar o livro de cozinha, para estudar alguma coisa. Encontro-me de caras com o meu pai, que subia as escadinhas e que me perguntou para onde é que eu ia. Eu respondi-lhe que ia ali à livraria comprar um livro para a cozinha. Ele respondeu-me logo, que não me metesse nisso, que eu era muito nervoso, e que ia arranjar só chatices, porque era assim, para uns estava salgado, para outros estava doce, mal cozido, cozido de mais, o peixe melhor era este, ou aquele.
Foi um grande conselho que me deu o meu pai, que ele também reparava que eu tinha jeito para ir mais longe. É o que tem que acontecer.
Voltando a bordo lá íamos fazendo a viagem. Também aparecem problemas que nos põem os cabelos em pé. Navegávamos para o pesqueiro. [O capitão] descuidou-se e ficamos encalhados numa coroa de areia. Se fosse nas rochas, o Ilha do Faial não voltava mais a Lisboa. Além do azar também tivemos sorte.
Na altura estava a maré vazia. Despejamos os tanques da água e gasóleo para o mar, para o aliviar e esperar que a maré enchesse e foi assim que o desencalhamos e navegamos para Lisboa. Assim que chegámos fomos para doca seca. Assim que a doca fica seca, verificamos que o leme estava por um fio e que estava fora do lugar. Nós perguntávamos como foi possível navegarmos tanto tempo com o leme assim, e o cadastro todo torcido. Tivemos vinte dias para reparar. Tudo isto por causa do encalhe.
Depois saímos da doca. Tivemos que ser vistoriados por oficiais da Marinha até que ficamos aprovados para seguir viagem. Lá fomos preparar o navio como, carregá-lo de gasóleo, gelo, água e os mantimentos para seguir para a pesca e foi a última viagem que fiz no Ilha do Faial desembarquei em 15 de Novembro de 1959. Foram cinco anos que estive neste barquinho. Isto acontece porque quando cheguei a terra, meu pai perguntou-me se eu queria embarcar no navio da costa Eduardo Lopes de contramestre, que eu logo aproveitei, pois foi o começar de uma nova vida».
Entre 1959 e 1962, José Arsénio andou embarcado no “Eduardo Lopes”. «Um dia, estava a bordo do barco [Ilha do Fail] e alguém me perguntou se eu não queria ir de contramestre para o “Eduardo Lopes”. Não me lembro, agora, quem foi. Se o meu pai se outra pessoa, mas alguém foi.
Era um barco de pesca da Ribeira Nova. Era da costa, não tinha nada a ver com Cabo Branco. Respondi que sim e fui para esse barco. Voltei para a costa e já não fui mais a Cabo Branco.
Nesse barco, o contramestre era contramestre e mestre de redes. O mestre do barco queria empurrar o filho que lá andava para contramestre, mas o filho tinha pouco jeito. O mestre pediu-me – Oh, Zé, tu vais de mestre de redes, para ver se eu o consigo pôr de contramestre. Eu tinha que trabalhar que nem um preto. O gajo, nem uma costura sabia fazer! Aguentei porque gostava do mestre».
Regressamos aos seus escritos – «Embarquei em 20 de Novembro de 1959 de contramestre. Assumi o encargo de grande responsabilidade. O contramestre tem de saber fazer costuras, tratar do porão, congelar o peixe, trabalhar com os guinchos, como todas as limpezas e ainda ajudar o mestre quando é preciso.
Foi uma ausência. Foram onze anos, mas voltei a trabalhar na nossa costa. Ainda vim encontrar muito peixe, porque agora os barcos já tinham maiores máquinas, mais potentes. Com máquinas com força temos sempre maior vantagem, porque somos mais rápidos nos arrastos, porque o peixe também tem olhos, e há espécies que são rápidas, como o chicharro, carapau e outras. Se não tiver força, eles passam-se. Já as pescadas, marmotas, fanecas, besugos, pargos e todo o peixe couro são peixes mais lentos. Quando pensávamos pescar ao marisco já era com força reduzida para fazer com que a rede se agarrasse ao fundo. Apanhávamos camarão, lagostins, pescadas, etc.
Estas pescas eram feitas sempre durante o dia. À noite íamos ancorar para Cascais ou sítios que estivesse mais perto. Ainda me recordo, numa noite que parecia um inferno, trovoada, vento, relâmpagos. Vimos, parecia uma bola de fogo em frente à Fonte da Telha, Caparica, uma coisa esquisita. Qual foi a nossa surpresa quando de manhã ouvimos a notícia que tinha sido um avião de passageiros que despenhou-se e que tinham morrido todos que iam a bordo, 61 passageiros, foi em 1961. Acontece que dois dias depois do acidente, o nosso armador foi contratado para o trabalho da ressega. Foram os dois navios da casa, o Mar Báltico e o nosso, o Eduardo Lopes.
O contrato foi feito com a média do dinheiro que recebíamos por dia, pois era um trabalho que não tinha nada a ver com a pesca. O armador saca o dinheiro que está certo e nós somos mandados para lidar com os despojos e pedaços de alumínio e tudo o que trazia o avião, pois era precisa muita coragem com todos. Iam a bordo connosco quatro, cinco holandeses, engenheiros, investigadores para analisar, qual as causas do acidente. Começámos com o processo de trabalhar. Preparamos uma série de bóias para balizar todos os percursos que nós fazíamos arrastar, era a maneira ressegar, meia, em meia hora íamos à rede. Recordo-me, no primeiro arrasto que fizemos apanhámos dois pedaços dos cadáveres, uma barriga de senhora e parte das costas. As malhas da rede vinham sempre cheias de peles humanas, eram canastas e canastas cheias de ossos, todos partidos como pedaços de carne humana, ferros e alumínio do avião. Era assim todo o dia arrastar para juntar todos os fragmentos para analisar qual foi a causa. No fim do dia íamos para Lisboa. Quando chegamos ao cais já se encontrava um carro de bombeiros para carregar todos os destroços que apanhamos. Também apanhamos muitas roupas e algumas delas ainda com os alfinetes. Via-se que ainda não tinham sido usadas. Malas de viagem, todas despedaçadas. Recordo-me [de] encontrar um estojo de senhora com um batom, um frasquinho, dois anéis de osso de tartaruga, tudo isto estava desfeito quase tudo em pó só para fazer uma ideia como tal foi a explosão. Estivemos dez dias sempre neste trabalho, mas também apanhávamos peixe e nada ia fora, pois isto era um extra. Era vendido e depois repartíamos o dinheiro.
Deixamos estes trabalhos e voltamos para a pesca normal até que ao fim de trinta dias fomos chamados para irmos fazer novamente os mesmos trabalhos de ressega. Recordo-me de apanhar um pé e parte da perna dentro de uma peúga. Era um cheiro insuportável com o cheiro das redes até no navio. Tivemos que desistir e voltar para a pesca.
Depois fomos para a pesca do peixe-espada num mar com o nome Cama da Vaca, que fica a nove milhas ao sul do Cabo de S. Vicente, Algarve. O peixe-espada era tanto que tínhamos que ir para terra, para ancorar em Lagos, para vir os algarvios ajudar, a tratar do peixe, que nós não conseguíamos. Era assim até carregar o navio. Era uma matança, nós e muitos navios a pescar ao peixe-espada. Era na altura que o peixe procurava para desovar e se juntava em cardume, que depois se afastava por completo, e que depois voltava mais ou menos nas mesmas datas. Até que ficou extinta, porque matávamos os pais e os filhos e não havia defeso.
Depois embarcou outro mestre, o mestre Serafim, o velho, que também gostava de descarregar peixe para a lota de Cascais e era no tempo em que o peixe era comprado por tabela. Eu como contramestre era o encarregado que tinha que orientar todo o processo desde a descarga até entrar na lota, mas também havia varinas que me atacavam para comprar os peixes de escamas, que eu podia fazê-lo sem prejudicar ninguém era só um jeito que eu fazia a elas [e elas faziam-me a mim]. Procuramos outras espécies como chicharro que também era o peixe mais abundante, mas também outras espécies, como marmotas, pescadas, gorazes, pargos, etc. Foram três anos de contramestre no navio Eduardo Lopes».
De volta à entrevista – «O mestre Serafim, pai, foi um grande pescador. Foi vários anos campeão. Porquê? Porque naquele tempo não havia na costa portuguesa um barco igual ao “Cabo de Santa Maria”. Tinha todas as condições para pescar melhor, potência, comprimento, etc. O barco fazia num arrasto de uma hora, o que outros barquinhos não faziam num arrasto de duas horas. O homem tinha muitos conhecimentos. Antes, o velhote tinha andado num barco chamado “Cabo de S. Vicente”. Esse barco foi ao fundo no tempo da guerra (1945, 1946) em frente ao Cabo da Roca, a Oeste Noroeste, um pouco a Sul. O casco está a 22 milhas, a 121 braças. Eu sei onde está o barco, porque pesquei muitas vezes lá, no Mar de Sintra.
Nunca lá vi o Serafim filho. Andei anos aqui na costa e nunca o vi e, se o vi, foi uma vez ou coisa assim. Após o “Cabo S. Vicente” ir ao fundo, a companhia apresentou-lhe o “Cabo de Santa Maria”. Foi um grande pescador e campeão, como já disse. Com o tempo, o barco envelhece, como nós. Depois foi para o “Bérrio”. O filho, Francisco, foi tirar a carta de mestre. Eu dava-me muito bem com esse rapaz. Éramos amigos. Foi andar com o pai como mestre de leme, mas o rapaz tinha pouco expediente e acabou por ir para a Alemanha.
O mestre Serafim pai, depois desembarcou desse barco e foi para o “Eduardo Lopes”, onde eu estava de contramestre. Ele chegava a terra e não dizia nada a ninguém sobre a pesca. Procedia assim porque queria ser o primeiro. E, eu sabia disso.
O mestre Serafim pai era analfabeto. Eu dava-me bem com ele. Pescávamos na Malha Grande, aqui e acolá. Pescávamos, em todo o lado, deste o Cabo de Santa Maria, a Sul, até à Figueira da Foz, Cabo Mondego.
O gerente da companhia desses barcos, António Manso, era cunhado do armador Eduardo Ascentão. A certa altura, as pescas começaram a falhar. Quem é que paga? Já se sabe que é o mestre de pesca. Em determinada altura, o armador pô-lo a andar, um campeão! O armador despediu o mestre Serafim pai. O velhote começou a chorar. Eu assisti a isso. Foi por azar ou porque as coisas acontecem. A mim também me aconteceu isso. Aconteceu também com o Serafim filho. E, acontece com todos.
Era uma tristeza, um campeão, um senhor que tinha apanhado tanto peixe. Era doloroso, olhando também à idade que tinha. Era uma idade avançada. Andou quase à perada com esse António Manso, que era gerente e cunhado do armador. Depois foi para Setúbal pescar num barco pertencente ao armador Feu, do Algarve. O velhote esteve lá até abandonar a vida do mar e se reformar. Gostei imenso de andar com o velhote».
Entre 1962 e 1965, José Arsénio embarcou no “Lusito”, no “Alda Benvinda”, no “M. Manuel Vilarinho” e no “Beira Litoral”. Em 1966, andou a pescar no “Luís Henrique” e entre Outubro de 1966 e Setembro de 1967 no “Valido”.
Regressamos ao texto autobiográfico – «Foram três anos de contramestre no navio Eduardo Lopes. Desembarquei e fui convidado pelo meu irmão para embarcar com ele no Alda Benvinda e fazer [de mestre de redes].
Comecei a trabalhar com meu pai [no “Valido” de contramestre e mestre de redes], com o processo de trabalho que eu não gostava e que não era justo. Não estava habituado. Mandava os homens de quarto descansar e entendia que eu devia de estar de sentinela para aquilo que era preciso. Quando não me via no convés ficava logo aflito. Eu aceitava porque era filho. Lixava-me porque eu não tinha o descanso necessário. De dia tinha que gramá-lo, à noite íamos ancorar para Cascais.
Eu tinha que tratar do peixe e depois tratar da rede. Só ia descansar às tantas, até desprender o ferro para voltarmos a pescar. Era uma sobrecarga até que um dia houve faísca. Disse ao meu pai que não era escravo, a trabalhar assim não, porque já andei noutros barcos e não tem a ver com isto. Acontece que lhe roeu [a] consciência e lá moderou. Tudo bem, eu como encarregado tinha as minhas responsabilidades. Ajudar sempre o meu pai naquilo que eu via que podia estar mal, e que nos podia prejudicar na pesca. Eu sei com a experiência, que já tinha, que a maior vítima era ele. Acontece, eu como encarregado tinha que avisá-lo quando via alguma coisa que estava mal.
Aconteceu que eu reparei que uma costura estava muito fraca. Dirigi-me logo ao meu pai e disse-lhe que o melhor era fazer uma nova costura, não vá causar grandes prejuízos se ela partir. Meu pai aceitou a ideia. Quando à noite acabou a pesca chamei os camaradas e fiz a operação. Tudo bem, o pior é que estava para vir.
No dia seguinte começamos novamente a pescar. Largamos a rede ao mar com toda a aparelhagem; a seguir quando o barco começa [a] arrastar ou a pescar, dirigi-me ao meu pai e disse-lhe, que o barco não vinha a pescar bem, porque tínhamos que tirar a diferença do cabo que cortamos da dita costura, e que assim o aparelho vinha a trabalhar enviesado. Meu pai não aceitou a minha explicação. Fiquei furioso, até cabeçadas eu dei nas paredes. Fui-me deitar. Pensei quando chegar a terra, ponho-me a andar, desembarco. Ele começou a pensar que eu tinha razão. Pede ao primeiro maquinista para me chamar para ir à ponte ter com ele porque estava chateado com aquilo que estava a passar.
Eu fui à ponte ter com ele e levei dois bocados de fio para lhe explicar aonde é que estava o erro; nem me deixou adiantar a explicação. Dá-me com as pontas dos dedos nos fios e disse-me que logo íamos medir os cabos. Eu reparei que ele viu que eu tinha razão, mas não teve a humildade de me dizer que eu estava certo. Quando ele me disse que íamos medir os cabos, pensei logo agora é que me vais pagar. Tive uma atitude que não devia ter. Mas, é assim com ferros matas, com ferros morres. Quando chegou a noite fomos medir os cabos, quando comecei [a] ver, que ele estava a perder terreno, a minha razão a vir ao de cima. Já não me cabia uma palhinha no buraco do cú.
Depois dos cabos medidos ainda tem a lata de me dizer que não deixava de pescar com aquela diferença; era quase dois metros só para não dar o braço a torcer. Tivemos que cortar os cabos para ficar com as pontas certas, e tínhamos que fazer uma costura em cada ponta. Meu pai faz uma, e eu faço a outra. Parece que estou a vê-lo a correr direito ao torno para fazer a costura à frente de mim; deu-me vontade de rir. Disse para mim, agora é que me vais pagar. Agarrei no cabo e rápido faço a costura e sentei-me de braços cruzados na borda do barco à espera que ele acabasse. Quando ele repara em mim ficou furioso e disse-me que eu ainda estava nos tomates do meu avô, já sabia fazer costuras e eu com cara de sacana comecei a rir.
Mais tarde, ele veio a casa e disse à minha mãe que me tinha faltado ao respeito, tive pena de tudo isto ter acontecido. Também era um barco com pequenos recursos e os camaradas terem que desenrascar a tirarem peixe às escondidas e eu tinha que fazer vista grossa, porque se estivesse no lugar deles fazia o mesmo. Tudo isto; ainda andei uns meses com ele».
Na entrevista afirmou – «Eu andei com o meu pai de mestre no “Valido”. Eu era contramestre e mestre de redes. Fazia os dois lugares. O meu pai estava lá em cima na ponte e eu tinha que vigiar tudo aquilo que dizia respeito ao aparelho, cabos, redes, etc. Os cabos do aparelho vão-se desgastando normalmente. A certa altura eu disse ao meu pai:
– Olhe que eu não estou a gostar do cabo da mãozinha da porta, do lado da proa. Está a mancar. Não estou a gostar nada daquilo.
É um cabo de aço que aguenta a porta da rede. O meu pai disse-me:
– Corta o cabo e faz uma mãozinha.
Tinha de se cortar braça e meia de cabo. À noite, quando chegámos da pesca, chamei a malta, cortámos o cabo e fiz a mãozinha. A costura ainda dava um bocado de trabalho.
No outro dia de manhã, após largarmos a rede disse ao meu pai:
– Olhe que isto está mal.
Os cabos reais tinham, umas marcas na “cocha”, a uma distância fixa, para sabermos a quantidade de cabo que tínhamos largado. Nos barcos de arrasto lateral, as marcações da “cocha” do cabo permitam-nos saber se os cabos estavam bem lançados. Eu disse ao meu pai:
– Olhe que isto não está a pescar bem.
Quem é que metia na cabeça do meu pai, isto? Chateei-me tanto com o meu pai, por causa disso. O meu pai não chegava lá. Não compreendia. O meu pai tinha esse defeito. Eu também tenho. O meu se calhar é pior do que o dele. Dizia-me:
– Oh, pá, cala-te! Estás com isto e com aquilo. Cala-te!
Fui direito ao camarote, pus-me dentro do beliche, que era à popa, e pensei – Chego a terra, meto-me por terra a dentro e já não volto. Não vou estar a chatear o meu pai e ele a mim. Quando estava deitado apareceu-me o primeiro motorista. Tinha sido o meu pai que o mandara vir ter comigo. Tinha-lhe dito:
– Vai lá abaixo ter com o rapaz. Ele está desarvorado.
Expliquei-lhe com dois bocados de fio a diferença que os cabos tinham por ter cortado um pedaço para fazer a mão. Um ficou mais curto do que o outro e havia que tirar a diferença. Fez um gesto de indiferença com a mão. Disse-lhe:
– Acha que eu sou algum boneco? Você está a brincar ou o quê?
Depois disse-me:
– Nós, logo à noite vamos medir os cabos a ver se tens razão.
Fomos medir os cabos e quando cheguei ao chicote é claro que havia um mais curto do que o outro. Custava-me muito. Como é que o meu pai não metia aquela na tola! Havia qualquer coisa que eu achava esquisito, pois era tão visível. O meu pai ainda teve a lata de me dizer:
– Não era por causa disso que isto ia deixar de pescar.
O meu pai disse-me:
– Agora, vamos cortar o cabo para acertá-lo. Está tudo direito. Cada um vai fazer a sua costura.
O meu pai agarrou num chicote para fazer a costura e eu agarrei no outro para fazer a minha costura. Parece que estou a ver o meu pai. Foi a correr à popa do barco com o chicote na mão, porque tinha um torno à ré para apertar o cabo e fazer a costura. Naquela altura tinha força. Fiz a costura à mão, pás, pás. Ele foi a correr para fazer a costura primeiro do que eu. Já lhe soara ao ouvido que eu era rápido a fazer costuras, em cabo de aço. E, era. Depois da costura feita sentei-me à borda, à espera que ele viesse com a costura feita. Ele quando me viu:
Disse-me danado:
– Ainda, eu andava nos toma… do teu avô e já fazia costuras.
Eu, feito malandro, ainda me pus a rir, por vê-lo danado por eu o estar a contrariar. Fiz-lhe uma parte.
Não devia ter feito. Depois da viagem quando chegou a casa, o meu pai disse à minha mãe:
– Olha, faltei ao respeito ao nosso filho. A minha mãe é que me contou isto mais tarde. Eu, depois, não quis andar mais com o meu pai. O meu pai sacrificava-me. Porque é que ele me sacrificava? Naquela altura, ele era encarregado. Não queria facilitar que ninguém andasse ao leme. Punha-se lá sozinho e queria ver-me.
Eu tirei a carta de mestre costeiro pescador em 26 de Outubro de 1966, após sair do “Valido”. Eu não tinha o exame da quarta classe. Tinha a segunda classe. Para poder tirar a carta era obrigatório ter a 4ª classe. Para fazer a 4ª classe falei com o professor Botelho, que me preparou e fez o exame. Tirei a carta na Capitania do Porto de Lisboa».
Entre 12 de Setembro de 1967 e 6 de Dezembro de 1967, andou de mestre de leme no arrastão “Luso Arrasto”.
Na autobiografia escreveu – «Depois pensei em desembarcar. Foi uma tristeza quando lhe disse [ao pai] que me ia embora, pois pensei em estudar para tirar a carta de mestre pescador costeiro. Acontece, o que eu não sabia, que tinha que ter o exame da quarta classe e eu não tinha. Lá vou eu também para a escola de adultos. Numa semana fiz o exame. Fiquei aprovado. Depois encontrei-me com um amigo cá na Ericeira, Manuel Ronca. Descobrimos um professor de náutica na Rua do Norte. Dava aulas até às duas da manhã. Quando chegava a casa aquela hora a Alexandrina estava sempre desconfiada que eu andava no pandam, mas não era assim. Tive muito que aprender, como exemplo, saber os nomes dos faróis da costa portuguesa, saber a cor e rotações que davam, saber distância de milhas, conhecer as entradas dos portos, os baixios das barras, etc. Depois fomos examinados na Capitania do Porto de Lisboa por um oficial da marinha. Passei com dificuldade, enervado, esgotado de tão pouco tempo ter na cabeça as respostas que fiz, mas felizmente fiquei aprovado em 26 de Outubro de 1966 com a carta [de] mestre costeiro pescador.
Primeiro barco que embarquei de mestre de leme foi o navio de arrasto Luso Arrasto. Ainda andei a trabalhar com o senhor mestre um ano, o tal que o meu pai conhecia, e que lhe pediu se arranjava uma vaga de moço para eu embarcar, para me livrar da rapariga nessa altura. Quando embarquei tinha quinze anos, era moço e agora fui-me encontrar com ele já com trinta e três anos, de mestre de leme, no barco que ele anda e que muito gostei do processo de trabalhar, porque pescava quase sempre ao marisco, como lagostins, camarão e pescada, etc.
Também sabia, que cada degrau, que subia, maior eram as responsabilidades. Mestre de leme é como um capitão a bordo, num navio de maiores dimensões, e não tem a ver nada com a pesca porque a pescar o responsável [é] o mestre pescador. Até que o armador me convidou para embarcar num navio da casa como mestre pescador e eu aceitei o convite.
Embarquei no navio Alfredo José, um barquinho de pequenas dimensões. Foi uma aventura, mas sabia que era uma aventura, porque sabia que tinha que ter conhecimentos suficientes para trabalhar, como conhecer os pesqueiros, os fundos do oceano, etc. Pescar para apanhar a maior porção de pescado, para que dê os lucros suficientes para tripulantes e armador.
Os pescadores ganham à base de percentagem do pescado porque o ordenado era pequeno. Se o mestre não der o rendimento é despedido, isto tal e qual um treinador de futebol, mas as coisas correram-me bem, [a] olhar às dimensões do barco. Até que o armador ofereceu-me um navio de maiores dimensões, o navio Luso. Foi o maior desastre da minha vida do mar. Descarregava em Cascais, os encarregados das descargas e da lota, era a ver quem roubava mais e foi assim que me fizeram a folha, mas há males que dão para o bem. Depois fui para casa desempregado».
Entre 7 de Dezembro de 1967 e 12 de Abril de 1968, José Arsénio foi mestre no “Alfredo José”.
Na entrevista acentuou – «O primeiro barco em que andei de mestre de leme foi no “Luso Arrasto”. O mestre pescador era José dos Reis. Para os armadores, o mestre de pesca era mais importante do que o mestre de leme embora este último fosse o responsável da embarcação perante as autoridades e a lei.
Naquela altura, o Serafim filho (Serafim Pereira Júnior) andava de mestre no “Alfredo José”. Nós por hábito íamos descarregar a Cascais por causa do marisco. As quantidades eram poucas e a lota de Cascais pagava melhor preço.
O Serafim desembarcou do “Alfredo José” por um motivo que eu não sei qual foi. Eu, conhecia bem o motorista do “Alfredo José”, já tinha andado comigo. Tinha um certo à vontade com ele. Fomos a terra, eu e o mestre José dos Reis, a Cascais. Estava lá na areia, o armador dos barcos, “Luso Arrasto” e “Alfredo José” para falar com o encarregado de pesca que era o José dos Reis. E, vi o tal primeiro motorista que era o Sr. Fernando. Cumprimentei-o, falei com ele e perguntei-lhe:
– Quando é que vão para o mar?
Eu sabia que o barco estava em terra. Ele respondeu-me:
– Você não quer ir para lá pescar!
Disse-lhe:
– Você está a brincar?
Perguntei-lhe:
– Quem é que lhe disse isso?
– O mestre Serafim disse-me que você não queria ir para lá.
Aquilo era para me tramar. O armador estava a ouvir a conversa e disse para o mestre José dos Reis:
– O melhor que temos a fazer é levar o “Zé do Norte” para Lisboa para dar baixa, para ser matriculado no “Alfredo José”.
Ia ocupar o lugar no barco em que o Serafim tinha andado. Eu nunca tinha dito nada a ninguém. Para que é que ele inventou que eu tinha feito aquela conversa. Saí de mestre de leme do “Luso Arrasto” e fui para mestre do “Alfredo José”, num determinado dia.
No dia seguinte, cerca da hora do almoço, em S. Paulo, onde parava a malta da Ericeira, apareceu-me o Serafim. Morávamos em frente da taberna do Careca. A minha mulher – era prima direita dele, a mãe dele era irmã da minha sogra – ouviu qualquer coisa e veio à janela. Achei estranho. Chegou e deu-me umas palmadinhas nas costas e disse-me, num tom alto:
– Seu primo, parabéns!
A intenção dele era vir falar comigo a respeito das redes, quando começou a falar eu disse:
– Oh, Serafim, eu vou fazer aquilo que entendo.
Cada mestre tem a sua mania, joga com as pedras que conhece, o peso do arraçal, o número de bolas, e por ai fora. Havia sempre qualquer coisa diferente. Havia uma diferença entre eu e ele. Ele podia pescar em todo o lado. Eu se fosse para as zonas onde ele pescava ia preso. Depois disse-me:
– Vamos arranjar um código para trabalharmos os dois.
Argumentou que os dois barcos eram mais ou menos parecidos. Eram de pequenas dimensões. Desse modo poderíamos ganhar mais alguma coisa. Concordei.
No primeiro dia de pesca, fui pescar para o Mar Novo. Tive sorte! Calhou! Apanhei uns peixinhos. Agora creio que é proibido pescar aí. Como ainda estava à espera do código, quando cheguei a terra, a Cascais, disse ao meu contramestre, o Ará filho [António Augusto Arbelo]:
– Vais ter com o Serafim e diz-lhe que está ali uma pesca jeitosa para nós.
O Ará deu-lhe o recado.
No dia seguinte, quando saí para o mar, o gajo não me acompanhou. Estranhei. A pesca mantinha-se na mesma quantidade. Disse ao Ará:
– Vais dizer ao Serafim que se ele tiver problemas com qualquer coisa, pode vir, eu dou-lhe espaço.
Sabe o que é que isto significa? Que o pesqueiro dava para os dois. O peixe chegou a uma certa altura e falhou. Era escasso. Um dia, o Ará vem de terra e eu soube por ele, que o Serafim trouxera uns peixinhos bons. Não foi o Serafim que tinha dito directamente ao Ará. O Ará não sabia em que mar é que ele andava a pescar. Porque se soubesse quando ele lá chegasse, já lá estava eu. Não era preciso andar a atrás dele. Nós estávamos fundeados e disse ao Ará:
– Quando ele suspender o ferro, nós suspendemos também e vamos seguir a linha dele. Suspendemos o ferro e fui na linha dele, cerca de três minutos depois de sairmos, ele apagou as luzes. Eu na boa-fé, apaguei também. Pensei – Era para a malta não nos ver. Ele vai a navegar, por aí fora, e a certa altura começa aos ziguezagues. Ele esqueceu-se que eu tinha radar e estava a vê-lo. Fiquei furioso.
Disse ao Ará:
– Mudamos de rumo e vamos embora.
Foi ter comigo a S. Paulo, com palmadinhas nas costas, e depois fez-me esta parte! Eu nunca mais lhe falei. Ele diz no seu depoimento que não sabia qual foi a razão porque eu deixei de lhe falar!
O Fernando, dono do restaurante “Ti Matilde”, aqui ao pé, uma vez disse-me isto, através de conversas que tinha ouvido sobre a nossa desavença – Você, uma vez ia atrás dele e… Afinal, o Serafim sabe porque é que eu deixei de falar com ele!
Eu é que levei o “Alfredo José” para a Figueira da Foz, e não ele, como diz, e eu, é que trouxe o “Luso” para baixo».
Entre 8 de Maio e 3 de Junho de 1968, José Arsénio foi mestre no “Luso”. «Na história do “Luso”, é verdade o que ele diz [Serafim Pereira Júnior [7]], que aquilo lá em terra era uma roubalheira. Ele aí tem razão. Em terra, o melhor peixe era todo roubado. É verdade! Eu vim-me embora! Saiu-me a sorte grande!».
Entre 1 de Setembro de 1968 e 23 de Fevereiro de 1972[8], José Arsénio foi mestre de leme do “Joaquim Fernandes”.
«Fui para o “Joaquim Fernandes”, que era o melhor barco de arrastar pela popa que lá andava. Fui à escala, à Rua das Trinas, falar com o Simões. Ele tinha uma certa consideração por mim. De vez enquanto aparecia na Ribeira Nova e dava-lhe uns peixitos. Disse-me:
– Não é fácil arranjar todos os dias um lugar de mestre.
Respondi-lhe:
– Eu encaro qualquer enxada, contramestre, mestre de redes, mestre, seja o que for.
Depois disse-me:
– Sendo assim, vais fazer o seguinte: Vais à doca seca, que era a doca da Lisnave, nunca digas que vais com o meu conhecimento, e falas com o Meloas. Tu sabes o que deves fazer. Quem me tinha dito que ele tinha uma vaga de mestre de leme foi o tal Simões, da Rua das Trinas. Voltou a dizer-me:
– Não digas que vais da minha parte, porque o gajo não gosta de mim. “Meloas”, era a alcunha, não me recordo do nome dele. Cheguei lá e disse-lhe:
– Sei que precisam dos serviços de um mestre de leme.
Ele disse-me logo:
– E, depois como é que é? Vais para a Ericeira?
Respondi prontamente:
– Não! Não!
A Ericeira é que vem cá. Quando for preciso a minha mulher vem a Lisboa. Depois acabou por ter uma certa simpatia por mim, porque eu cumpria as minhas obrigações.
Já me estou a pôr aqui num escadote. Mas isto é real. Nesse barco andei com o mestre pescador algarvio chamado Albano. Foi com ele que aprendi bastante. Era um portento a trabalhar. Conhecia tudo. Ele tinha necessidade que eu também soubesse, porque sofria de gota. A doença era terrível. Chegava a ir de charola para terra.
Nessas alturas, eu é que fazia o lugar dele. E, desenrasquei-me sempre. Ele chegou a estar dias em terra. Era natural da zona de Lagoa. Foi um campeão. Também era malandro. Uma vez caçou as redes dos Padinha daqui e tive de vir à Ericeira safar o assunto. Fui ter com os Padinha e disse-lhes que ia pedir mais alguma coisa ao Meloas. Para não dizerem que tínhamos roubado as redes e não divulgarem o facto. Trouxe mais do que o preço das redes. Pagaram-se as redes e mais alguma coisinha por causa do preço do peixe. Fui duas vezes campeão. Ganhei mais dinheiro do que quando andei na companhia dos Lusos. Andei nesse barco durante dois anos. Aprendi, com o mestre Serafim pai, com o meu pai, com o mestre Albano, com todos eles. O mestre Albano ensinava-me tudo. Com o mestre Serafim pai aprendi a pescar de noite na Malha Grande».
Na autobiografia escreveu o seguinte sobre o período em que andou embarcado no arrastão “Joaquim Fernandes” – «Em 28 de Fevereiro de 1969 saímos da Doca Pesca, depois de descarregar a pescaria, com rumo ao pesqueiro. Era por hábito, o senhor primeiro maquinista, gostava de conversar comigo e muitas vezes íamos a conversar até ao pesqueiro. Mas nesta data acontece; quando íamos a navegar ao largo do Farol da Guia, eu e ele, ouvimos um barulho muito esquisito na máquina. O maquinista correu logo à casa da máquina para verificar se aquilo que ouvimos teve alguma coisa a ver com a máquina. Estava tudo em ordem.
Quando eu olho para terra vejo a terra todas às escuras, logo pensei que algo se estava a passar. Fui logo ligar o rádio; já estavam as notícias no que estava a acontecer. Foi então um sismo com uma escala média de intensidade que pôs a população em alvoroço em Lisboa. Fugiram para as ruas os homens em pijama, as senhoras em camisas de dormir e a rádio pedia constantemente que se acalmassem, que o pior já tinha passado.
Nós íamos sempre com [o] rádio ligado a ouvir as notícias e rumamos com o rumo à pesca, mas sempre ralados com o que se passou principalmente com as nossas famílias. Tivemos conhecimento depois que não houve problemas e que não passou de um susto e que não foi pequeno e continuámos a nossa vida.
Pouco tempo depois também tive um problema terrível que nem sei como escapei de morrer, porque existem coincidências que me fazem pensar, porque é que isto acontece, porque não acredito em tudo. Não sou crente, mas também não sou ateu e [a] história é esta – Estava muito vendaval; nós e os barcos, das nossas dimensões, não saíram para o mar e o que ficamos amarrados à muralha, ainda era fusco-fusco, quando o mestre de pescador e o mestre de redes saltou para a terra para verem a vendagem do peixe que estava a ser vendido. Eu depois quis ir fazer o mesmo. Quando salto para terra de sapatos, que tinham pregos nas solas, escorrego e caí ao mar. Parece que fui ao fundo e vim para cima. Era a ondulação a bater na muralha e ao mesmo tempo a bater no navio; era uma aflição a respirar toda aquela porcaria, óleos, bocados de cortiça, plásticos, etc.
Tive sorte que os marinheiros ainda estavam deitados e acordados e pela vigia viram-me cair ao mar e correram para me socorrerem; já estava cansado e como é que apareceu um cabo pendurado na muralha para eu me agarrar; e foi que me ajudou a salvar. Fiquei com um trauma que cheguei a dizer que o mar nunca mais.
Depois apareceu o armador que me animou. Mandou-me levar o barco para a doca e fosse descansar e foi assim que as borras assentaram e comecei a vida novamente. Mas nunca mais fui o mesmo a saltar para terra, saltava sempre com medo.
Também aconteceu, estávamos nós e mais três barcos a pescar na costa da Galé, Setúbal, na zona proibida. Apareceu um barco pequenino da pesca artesanal disfarçado com duas autoridades marítimas a bordo, que nos prendeu a nós e aos outros três. Fomos enganados nós e os barcos. Fomos presos para Setúbal. Depois nós, os mestres de todos os barcos, fomos chamados à Capitania de Setúbal aonde nos deram a sentença. Foi navegar para Lisboa e apresentarmos no quartel da marinha em Alcântara para sermos presos.
Quando lá chegámos mandaram-nos buscar um colchão cada um; colchões sujos cheios de teias de aranhas; isto foi uma tourada, enquanto alguns se riam; houve quem chorasse, mas tudo correu bem. Assim quando chegava a noite fugíamos, um cada vez, para não sermos caçados e de manhã entrávamos às sete horas para chegarmos primeiros que os oficiais da marinha. À hora do almoço arrancávamos também, um cada vez, para irmos almoçar a casa e foi assim que passei os vinte dias [de] prisão.
Depois da pena cumprida saímos para o mar, para começar a nossa vida. Navegámos para o mar com o nome Sudoeste da Berlenga. Largámos a rede. Eram sete horas da manhã. Fizemos um lance de três horas. Depois fomos virar a rede. Trazia uma sacada de peixe tão grande que eu e a maioria tivemos medo de metê-la a bordo, que o navio não aguentava tanto peso e haver problemas e irmos ao fundo ou naufragarmos. Eu pedia a Deus que rebentasse o saco e foi o que aconteceu. Foi saco e peixe pelo fundo abaixo. Depois andámos dias e dias a pescar no mesmo sítio e nunca apanhámos o saco.
Até que fomos [para a] reparação, onde estivemos um mês, a reparar. Voltamos novamente ao mesmo pesqueiro e apanhámos o saco, depois de estar debaixo de água seis meses. Só trazia escamas e espinha e um cheiro terrível. Depois lavámos o mesmo saco, que ficou pronto a trabalhar.
Andei três anos. Fomos campeões dois anos e um ano em segundo lugar. Correu tudo bem e foi neste barco, com este encarregado de pesca, que aprendi ainda mais a trabalhar e a ter a astúcia que é preciso. Aquele que pensar a sério nesta vida não vai a lado nenhum. Era um homem que volta e meia ficava paralisado com o problema [do] ácido úrico. Depois era eu que pescava no lugar dele e as coisas corriam-me sempre bem até um dia, que um barco da casa precisava dum mestre pescador.
O armador foi pedir ao meu mestre [Albano] uma opinião para arranjar um mestre pescador. Ele deu-lhe logo a resposta, então não tem aqui o José do Norte. O armador respondeu-lhe que se tinha lembrado de mim, mas que eu podia fazer falta quando você estivesse doente e o mestre respondeu, temos que ajudar aqueles que trabalham e que já me tem ajudado muito e não se rale quem vier logo se vê. Eu ao saber isto fiquei logo a saber a grande consideração que ele tinha comigo. Talvez fosse o meu maior amigo, que eu tive na pesca, e foi assim que embarquei como encarregado de pesca no navio Silva Fernandes.
Comecei a pescar e as pescas correram bem. Ainda andei dois anos e meio neste barco. Aconteceu, o seguinte depois de um ano – o armador vendeu o barco, a um armador de Aveiro, este também tinha barcos do bacalhau. Quando tive conhecimento fiquei furioso. Quando cheguei a terra, disse ao encarregado do patrão, que o armador tinha vendido o barco, mas que não tinha vendido a mim. Este recado deu um resultadão, porque na viagem seguinte, já estava ele com um envelope com vinte contos. Naquele tempo era muito bom.
Deixou de ser meu patrão. Começou a ser o de Aveiro. Lá fui andando até que me fartei; até que um dia encontrei um amigo, que também era encarregado de pesca, o senhor Manuel Ronca e contei-lhe que já estava farto do barco. Ele disse-me que o armador dele, que estava a construir um barco e que devia estar quase pronto e se eu queria ir falar com ele. Disse-lhe logo que sim e fui. Falamos com o armador. O homem disse-me que não me conhecia e que ia saber o meu currículo. Na viagem seguinte quando cheguei a terra, deram-me o recado que me preparasse para embarcar no barco novo para arranjar redes e toda a aparelhagem.
Quando fui informar o armador que ia desembarcar e que ia para outro, que era um barco mais moderno, e que me oferecia umas condições de trabalho melhores, o homem parece que estava maluco, a pedir-me que não desembarcasse, que tinha comprado o barco a olhar às médias que o barco fazia; e agora procuro outro e se me não dá o rendimento, o que eu faço à minha vida, e que me assinava uma declaração que me dava cem contos no fim dum ano de trabalho. Ceguei com o sacana do dinheiro. Naquele tempo era muito dinheiro, e eu também assinei. Com aquela choradeira deu-me a volta. Ainda hoje como é que um homem se esquece da honestidade, que vergonha que eu tive de negar um compromisso. Tive que ir falar com o armador a pedir-lhe desculpa e assim foi. O homem nem queria acreditar e virou-me as costas com desprezo. Ficou-me na memória para toda a vida, e nunca mais fui a mesma pessoa. Desejoso que passasse um ano. Passou um ano, pagou-me os cem contos, ainda fui continuando.
Acontece, o barco passou um fim-de-semana em terra e ao Domingo combinamos para uma almoçarada na Foz do Lisandro, eu, [o] Papum [António Florêncio Baptista Neto], [o] Clemente, o José André, [seu filho] e as mulheres. Foi enguias fritas. Eu torci um pé e fiquei com dificuldades em andar. Tive que telefonar para Lisboa, que não estava em condições para ir para o mar. Pedi ao mestre de leme que fizesse um dia, para o barco não perder o dia. E, assim foi. À noite fui para Lisboa e embarquei. Tudo bem. Dei ordens da saída para o mar e fui-me deitar.
Quando de manhã vou verificar os meus apontamentos, reparei que foram mexidos. Foi violada a minha privacidade, porque os nossos roteiros também têm segredos das pescas. Também não lhe disse nada. Deixei-o andar. Nunca mais fui o mesmo homem para ele.
Até, que um dia, me perguntou, que me achava diferente e se passava alguma coisa com ele. Dei-lhe a resposta, se não tinha a vergonha de violar o meu roteiro, e se estava a pensar que eu era algum tanso. Coitado não conseguiu dar-me uma resposta, também não o mandei embora, porque já sabia que ele ia por si, porque não se sentia bem com ele, até que desembarcou.
O armador pediu-me, que tinha um mestre de leme e se não me fazia diferença. Aceitei. Ainda era primo do armador. Tudo bem. Não o conhecia, mas tive que me pôr à tabela.
Mas, não foi preciso muito tempo para conhecer a criatura. Pensava que vinha aprender alguma coisa comigo. Cagou-lhe o cão na carreira; dava-lhe o rumo e a posição do mar, que eu queria pescar, mas sempre errada. Depois mandava-o embora, que fosse descansar e era assim que depois rumava para o lugar certo. Com o tempo começou a perceber que comigo não aprendia nada, até que aconteceu aquilo, que eu queria para ter pé, para me ir embora. Nós tínhamos metido cabos novos no guincho e não estavam bem apertados como devem estar e eu como pescador era responsável, e o tal dito senhor caiu na asneira de me dizer que os cabos assim estavam mal, e que deviam estar esticados e eu respondi-lhe que na pesca quem manda sou eu. Começou a refilar, há é assim, então vamos à rede e vamos para Lisboa, que eu quero desembarcar. Quando chegámos, já estava o armador à nossa espera. Eu disse-lhe que estava chateado e que não estava bem. E nunca lhe disse a razão por que desembarcava».
Entre 4 de Setembro de 1972 e 4 de Setembro de 1973, José Arsénio foi sucessivamente, encarregado de pesca, mestre e novamente encarregado de pesca no “Silva Fernandes”.
Vejamos um episódio curioso do registo escrito de quando foi tripulante do “Silva Fernandes” – «Saímos sozinhos, debaixo de mau tempo e fomos pescar para a Costa da Galé. É uma área entre Setúbal e Sines, em zona proibida. Pescamos a uma, duas milhas da terra, em trinta e tal braças e eu sabia que com mau tempo os barcos da fiscalização não saíam, porque eles enjoavam. Era assim, largamos a rede e as pescas estavam a ser muito boas. Continuamos a pescar até que ouvi pela rádio, por um colega meu, que estivesse a pau, que ia a sair um barco de guerra na barra de Setúbal. E, eu fiquei desconfiado com a gentileza do meu colega me avisar, porque nós naquela vida somos uns mafiosos uns para os outros, mas depois de estar atento confirmei que afinal era mesmo verdade.
Eu consegui detectá-lo com o meu radar e logo fiquei de sentinela e segui o rumo que ele rumava, até que o perdi de vista. E, fui pescando até à noite, mas sempre a pau, até que fugi com medo não viesse e me caçasse. A noite e o mau tempo continuavam com muito mar e vento, e navegamos para Lisboa. Dei ordens ao mestre de leme que não encostasse muito a terra porque estava muito mar e que eu ia descansar um bocadinho e quando estivesse perto da barra que me chamasse.
Mas, acontece que me chamou antes, mestre José está aqui um iate à deriva e que é capaz de estar a pedir por socorro e aproximamos dele. Reparamos da nacionalidade. Vimos que era holandês. Ninguém a bordo percebia aquela linguagem. Mandei chamar o primeiro motorista, que era a pessoa mais culta, também não percebia. Estava muita ondulação, não podíamos estar muito perto um do outro. Foi uma aflição não perceber, como havíamos ajudar aquelas almas. Lembrei-me de chamar pela fonia os pilotos da barra, que estavam ao abrigo, no Rio Tejo, responderam-me, e eu expliquei tudo o que se estava a passar, que nós não os compreendíamos, mas percebia que estavam a pedir ajuda. Os pilotos ficaram como estavam e não quiseram de saber de mais nada.
Eu e todos os nossos camaradas aflitos, a pensar qual era a melhor maneira de os ajudar, porque passar reboque nem pensar, com o mar que estava, estávamos sujeitos a pô-lo no fundo. Pensei, com os gestos, que ia devagarinho e que viessem atrás de nós. Pedi ao motorista um homem para a máquina e estivesse atento para responder à força que eu pedisse. Assim foi. Começámos a navegar devagarinho e ele atrás de nós. Eles com medo, deixaram-se ficar para trás, num ponto que era um grande risco virar para trás.
Fomos para a doca não conseguia dormir, a pensar naquela gente. Pior foi que de manhã, soubemos a notícia, que ele naufragou ali perto da entrada da barra, ali em S. Julião. À noite li, no jornal o Diário Popular, aonde estavam os navegadores, os grandes homens do mar que deixaram morrer aquela gente. Isto acontece em 1973, antes do 25 de Abril, porque naquela altura não podíamos explicar esta história contra aqueles chulos, os pilotos da barra. Estávamos sujeitos a passar por trabalhos, que a palavra deles valia mais do que a nossa». Durante a entrevista revelou-nos – «O “Meloas” tinha outro barco chamado “Silva Fernandes”. O mestre que andava lá, andava a pescar mal. Acontece, as coisas não correm bem. O “Meloas” foi ter com o mestre Albano, o mestre Albano era um senhor junto do armador, e disse-lhe:
– O “Silva Fernandes”, está a pescar mal. Não pode continuar a pescar assim. Quem é que você acha que eu devo meter lá?
O Albano respondeu-lhe logo:
– Oh, Sr. Joaquim, o “Zé do Norte” anda aqui a fazer fretes. Eu fico em terra, ele é que pesca, o barco nunca pára. Ele não tem pescado mais ou menos?
O “Meloas” respondeu-lhe:
– Mas, se eu o tiro de lá, fico sem mestre.
O Albano descansou-o:
– Não se preocupe que eu vou arranjar um rapaz para lá e em pouco tempo ele aprende aquilo que é preciso.
Fui pescar no “Silva Fernandes” e as coisas correram-me bem. Eu recordo-me quando andava no “Silva Fernandes” e vinha pescar à Ericeira, largava o ferro às oito, nove braças de água, à espera do dia seguinte, para pescar novamente. A malta para passar o tempo, punha-se a pescar para passar o tempo. Apanhámos quatro ou cinco canastas de lula. Uma canasta de lulas tinha mais de 40kg. Os algarvios diziam, que pouca-vergonha, estão deitados e está aqui peixinho a montes. As luzes do barco, é que atraíam o peixe.
O “Meloas” a certa altura vendeu o barco para um armador de Aveiro. Eu na altura soube. Cheguei a terra e disse ao encarregado Fenha:
– Como é que é? O “Meloas” vendeu o barco, não me vendeu a mim.
Ele foi ter com o Joaquim “Meloas” e disse-me mais tarde:
– Tome lá umas notitas de mil e cale-se!
Recebi as notitas e fiquei descansado.
Eu era amigo, a sério, do “Manuel Ronca” [Manuel “Penicheiro”]. Eu e o Manuel tínhamos um código para pescar. Erámos uns mafiosos. Através do código trocávamos as voltas à malta em relação aos sítios onde pescávamos e à quantidade de pescado capturado.
Andava no “Joaquim Fernandes”, o patrão nunca estava aqui, estava lá no Norte, e comecei a desgostar do barco. Não gostava de andar no barco. Fui ter com o Manuel e contei-lhe a minha situação. Aconselhou-me – Está um barco no estaleiro, que era o “Madrugador”, o barco estava a ser construído ou reparado. Fui falar com o imediato, que era o encarregado, à procura de trabalho. Fiz uma asneira na minha vida, que não se conta a ninguém. Eu até tenho vergonha disto.
Um dia, na doca do espanhol, em Santos, fui falar com o encarregado e disse-lhe que estava embarcado, mas não estava satisfeito. Ele afirmou – Está tudo bem, mas eu não conheço o currículo do senhor. Passado um mês e qualquer coisa, mandou-me desembarcar, para ir tratar das artes de pesca desse barco que estava no estaleiro. Telefonei, ou pedi para telefonar ao armador do “Silva Fernandes”, não me recordo agora, que eu ia desembarcar. O armador, que era de Aveiro, veio direito a Lisboa. Era também armador do “Inácio Cunha” do bacalhau. Chegou ao pé de mim e disse-me:
– Oh, Mestre Zé não faça isso.
O homem estava aflito. Eu comprei o barco, olhando às médias que o barco faz. Você agora vai-se embora, não me faça isso. Vem para aqui alguém que eu não conheço e fico empanado. Disse-lhe:
– Quando não pescamos os Srs. mandam-nos embora, como isto compensa é por essa razão que o Sr. diz isso, mas eu tenho um barco que me oferece melhores condições.
Disse-me:
– Vamos fazer um contrato e você ganha…
Naquele tempo eram cem contos ou mais. Era muito dinheiro. Assinei a proposta. Depois tive de ir dizer ao outro. O homem deu-me uma resposta… e virou-me as costas. A resposta vai comigo para a cova. E, eu fiz aquilo por causa da m… do dinheiro! Faltei à minha palavra! Não se faz uma coisa dessas. Naquela vida se uma pessoa fosse boa demais, não ia a lado nenhum. Quando a pessoa era boa, todos roubavam».
Entre 2 de Outubro de 1973 e 4 de Maio de 1979, José Arsénio foi encarregado de pesca no “Santa Maria do Mar”.
«Depois fui para o “Santa Maria do Mar”. Larguei o homem. Eu não me sentia bem no barco. O “Silva Fernandes” era um barco de arrasto lateral e fui para esse barco que era de arrasto pela popa. Era muito melhor. Desembarquei do “Santa Maria do Mar” porque o barco ia para o Norte e eu não quis ir.
No “Santa Maria do Mar” eu andava escondido, devido à minha deficiência. Escondido porquê? Porque não havia inspecções periódicas todos os anos. Quando o “Santa Maria Maior” foi para o Norte, eu não quis ir e desembarquei. Assim que desembarquei, caçaram-me logo. Fui a uma inspecção e o médico disse-me que devido à minha deficiência era obrigado a abandonar aquela vida. Tinha 46 anos. Tentei convencê-lo, dizendo-lhe que trabalhava em cima na ponte. Ele disse-me – Se alguma vez acontecer algum incidente, se algum homem cair ao mar, os culpados somos nós. E, tive de abandonar a vida do mar com 46 anos. Eu vim para casa com 46 anos. Era uma criança, no auge da minha vida, levei uma facada».
Na autobiografia conta o seguinte – «No fim de vinte dias [de] estar em casa, morávamos na Rua da Fonte do Cabo, em frente ao restaurante Toca do Caboz, apareceu-me o encarregado [António Fenha] mandado pelo patrão [armador de Aveiro], que o tal senhor, que fez o meu lugar, que destruiu tudo aquilo que deixei e que eu tivesse paciência, e que embarcasse para ver se lhe endireitava tudo. Lá fui outra vez, mas nunca mais tive aquela febre para pescar como tinha antes.
Até que um dia, estávamos na reparação e eu estava cá na Ericeira, apareceu um senhor à minha procura. Até que nos encontramos e convidou-me para irmos beber uma cerveja, e eu aceitei. Fomos para [a] cervejaria Vidinhas. Começamos a falar em pesca, até que ele me disse que era armador e que me vinha convidar. Se eu queria embarcar para o Santa Maria do Mar e que era muito melhor que o Silva Fernandes, e que estavam dispostos a pagar o meu prejuízo, que eram sessenta contos. Foi o que me pagaram, mas conseguiram-me enganar. Prometeram que depois embarcava num outro barco melhor e esse barco nunca me apareceu, mas andei muito contente no Santa Maria do Mar e foi nele que ganhei alguma coisinha.
As pescas corriam boas, e como as histórias que aconteceram, boas e más, por exemplo aconteceu o mês de Fevereiro de 1975. Andávamos na pesca e tivemos uma avaria no guincho, que tivemos que arribar para Lisboa para ser assistida. Tivemos quinze dias a repará-la e depois de reparada o armador telefonou-me a dar-me conhecimento, que o navio estava pronto para sair para o mar e eu logo de seguida dei ordens à tripulação, que a saída era às duas horas da madrugada.
Nesse dia estava um temporal e os barcos estavam todos recolhidos na Doca [Pesca], mas quando cheguei a bordo perguntei ao vigia, se já tinha saído algum barco, e ele respondeu-me que tinha saído um barco para o mar. Mas depois vim a saber que o barco que saiu da doca não foi para o mar, mas sim para a doca seca limpar o casco e pintar. Mas na verdade, eu fui enganado, que pensei que ele tivesse saído para o mar. Fomos nós, o único navio a sair para o mar. Saímos debaixo de um temporal e que a maioria dos tripulantes ficaram enjoados e a vomitar por todos os cantos e eu também fui um deles, que tive que guardar a prótese dentária nas algibeiras para não ir para o mar.
Navegamos sempre com a ideia de largar a rede. Quando chegámos às cindo milhas ao norte do Cabo da Roca, nas cinquenta e sete braças, largámos a rede para o mar. A vagaria até metia medo, na cova da vaga perdíamos o farol da Roca à vista. O medo era tamanho, que não me cabia uma palhinha no buraquinho do cú. Tive que ir à rede com uma hora e quarenta e cinco de pesca e que tivemos sorte, que em tão pouco tempo de pesca, apanhamos uma sacada de carapau negrão, à volta de quatro toneladas.
Depois foi uma carga de trabalhos, a navegar para Lisboa com o convés cheio de peixe. Fomos acabar de tratar do peixe, já amarrados à muralha da Doca Pesca. Os guardas-fiscais, e toda aquela gente que estava perto da muralha, levaram o saco cheio de carapaus. Foi uma alegria, depois de tantos tormentos. O pior foi que nunca mais vimos carapau negrão e que desapareceu na nossa costa. Esta foi uma história boa que ficou bem vincada na memória».
José Arsénio encontra-se na reforma desde 1979.
Em 1982, Maria Alexandrina faleceu de cancro. Em Junho de 1983, José Arsénio juntou-se com Maria de Lurdes Inácio. Casaram em 6 de Abril de 1989.
Actualmente, desloca-se com auxílio de uma cadeira de rodas eléctrica. Em casa dispõe de toda a aparelhagem necessária para tratar da sua higiene e vida diária com agilidade, apesar de se deslocar em cadeira de rodas.
Os filhos ofereceram-lhe, em Novembro de 2013, um “Ipad” e desde então passa longos períodos a navegar na internet. De Verão sai de casa. Vai até ao adro da capela de S. Sebastião para cavaquear com os seus camaradas e recordar as suas aventuras de lobo-do-mar.
Mestre José Arsénio ou “Zé do Norte”, como era conhecido no meio piscatório, velho lobo-do-mar jagoz, faleceu, na Ericeira, em 24 de Julho de 2020.
[1] Manuel Pereira Santa Rosa nasceu, a 5 de Julho de 1887, nas Caldas da Rainha. Era filho de José Pereira Santa Rosa e de Maria Madalena. Foi Delegado Marítimo da Ericeira entre 25 de Abril de 1932 e 9 de Abril de 1940. Reassumiu o mesmo cargo entre 20 de Junho de 1940 e 31 de Julho de 1945. Em 18 de Outubro de 1945, passou à Reserva da Armada. Em 30 de Outubro, foi autorizado a residir na Ericeira. Faleceu na sua casa, em Lisboa, em 13.01.1961.
[2] Sinónimo de safio pequeno.
[3] Transcrevi os textos manuscritos de José Arsénio. Tentei preservar, na medida do possível, o seu estilo de escrita. Corrigi os erros ortográficos e alterei a pontuação. Suprimi uma dúzia e meia de pronomes e várias conjunções. As palavras que acrescentei, para clarificar o texto, estão assinaladas dentro de parênteses rectos.
[4] Jacques-Yves Cousteau (Saint André de Cubzac, 11 de Junho de 1910 - Paris, 25 de Junho de 1997) foi oficial da marinha francesa, documentarista, cineasta e oceanógrafo.
[5] Joaquim Caseiro faleceu na Ericeira no final de 2013. Perdi assim a oportunidade de entrevistá-lo.
[6] A distrofia muscular fácio-escapular-umeral caracteriza-se por fraqueza dos músculos da face, da cintura escapular e mais raramente dos membros inferiores. Apresenta grande variabilidade clínica, inclusive em doentes da mesma família, com início desde a infância até à terceira idade.
[7] Ver o depoimento de Serafim Pereira Júnior.
[8] Na segunda via da cédula marítima consta 23 de Fevereiro de 1970, mas de acordo com as suas declarações deverá ser 23 de Fevereiro de 1972, pois nunca esteve dois anos consecutivos sem trabalho.
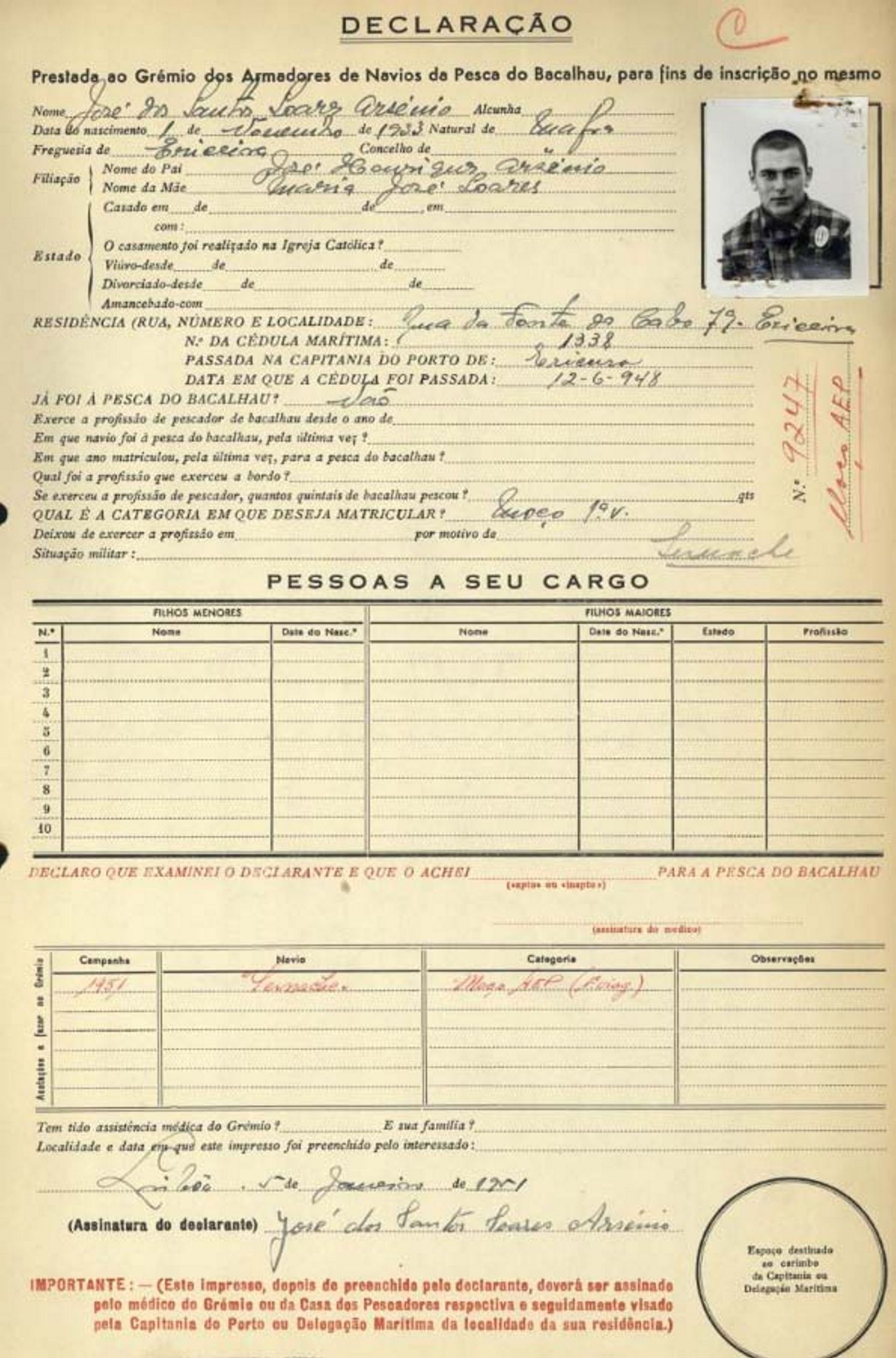
Fig. 2 Ficha de Inscrição do Grémio dos Armadores Bacalhoeiros
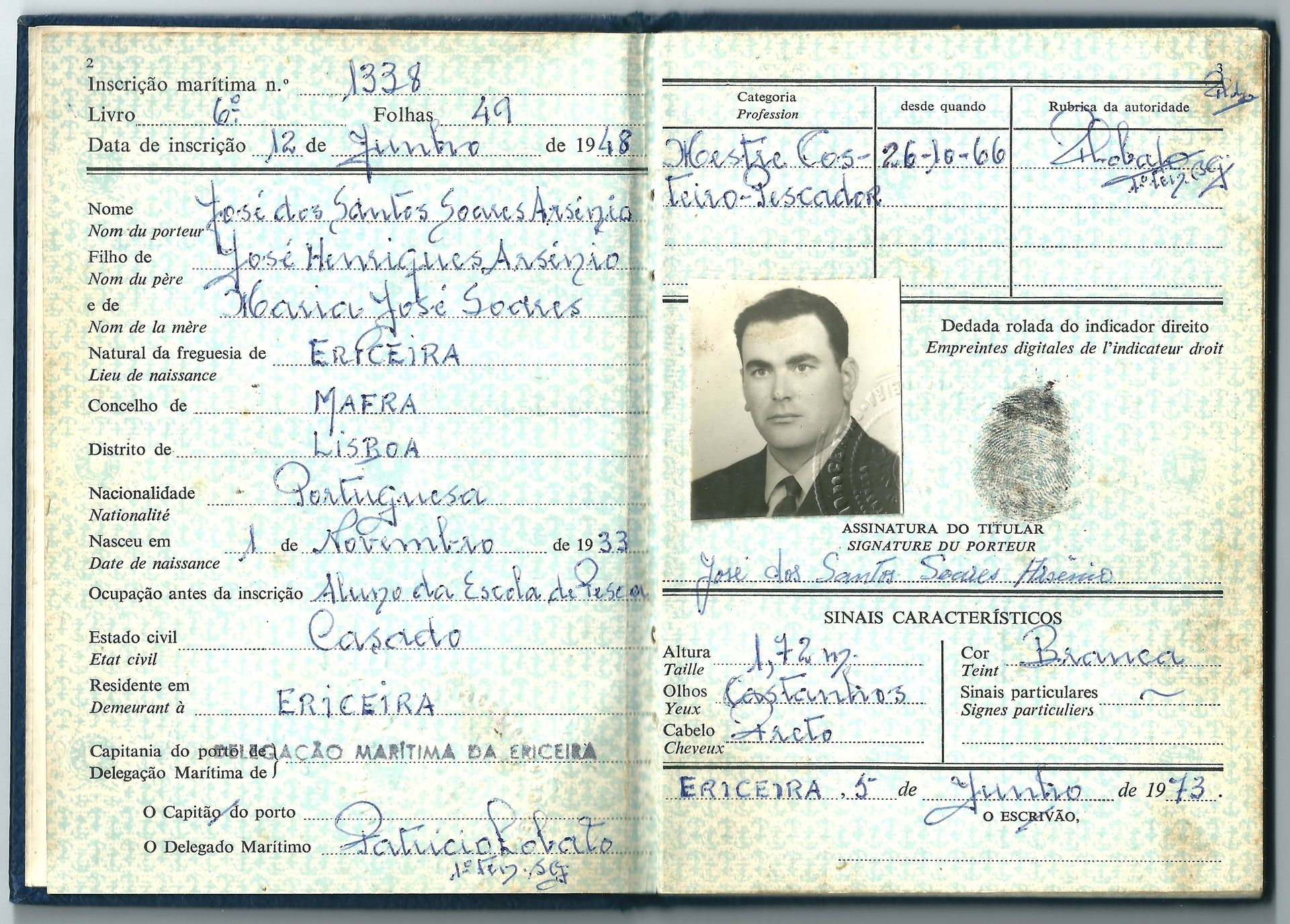
Fig. 3 Cédula de Inscrição Marítima emitida em 05.06.1973
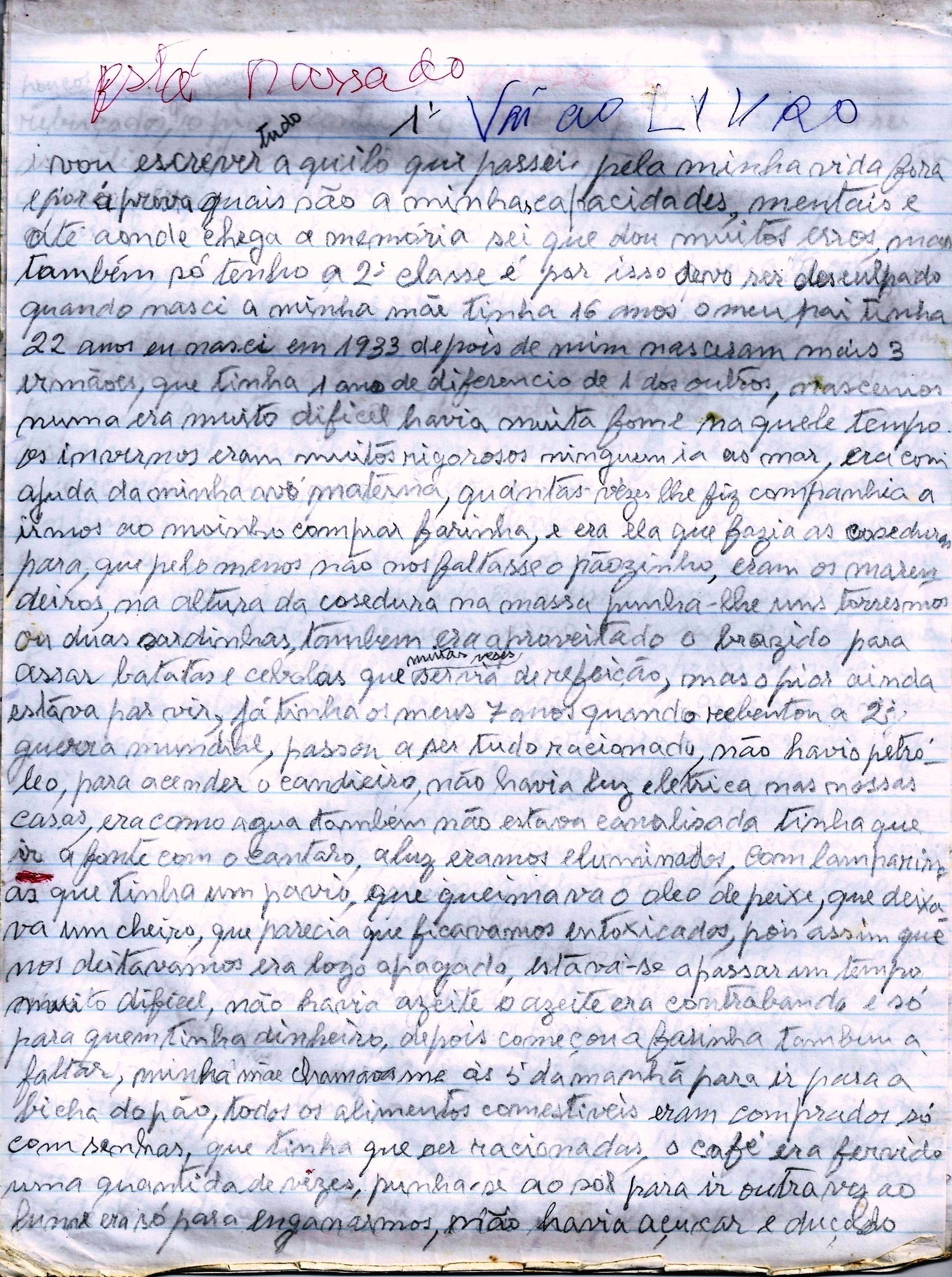
Fig. 4 Uma pág. do manuscrito original #2
Nota: A memória é um processo reconstrutivo falível, por essa razão utilizámos extractos da autobiografia e da entrevista que Mestre José Arsénio nos deu. Recorri a dois tempos diferentes da memória, em ordem a melhorar a sua fiabilidade!
Mestre José Arsénio foi até agora o único, dos pescadores jagozes que entrevistámos, que escreveu a sua autobiografia.
Entrevistas feitas, na Ericeira, na cozinha da sua casa em 23 e 24 de Dezembro de 2013, 3 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2014.
Ericeira, 2014, Francisco Esteves.
JOSÉ ÁLVARO MATOS ARVELO

Fig. 1 José Arvelo no Largo das Ribas, em 2008
José Álvaro Matos Arvelo, conhecido por “Tuta”, nasceu a 12 de Agosto de 1933, na Ericeira, segundo o Bilhete do Cidadão. De facto, nasceu a 6 de Março de 1933!
É filho de António Augusto dos Santos Arvelo (Gala, Figueira da Foz 25.12.1885-Ericeira xx.03.1967), pescador, natural de Gala, e de Maria Sofia da Conceição Lopes de Matos (Ericeira 02.11.1893-15.01.1961), natural da Ericeira.
O casal teve quinze filhos, dos quais sobreviveram doze, sete raparigas e cinco rapazes – Gertrudes Arvelo (Ericeira 17.11.1907-xx.xx.1992), conhecida por “Chapeleira”, Manuel Augusto (Ericeira 07.03.1917-xx.xx.xxxx), primeiro “Tuta”, Felicidade Conceição dos Santos (Ericeira 18.07.1910-29.12.1990), Rosa da Conceição Arvelo (Ericeira 16.01.1914-21.06.1989), conhecida por “Rosa do Coração”, Graciosa Arvelo (Ericeira 28.11.1915-xx.xx.xxxx), António Augusto Arvelo (Ericeira 04.01.1919-xx.xx.xxxx), conhecido por “Samarra”, Raul Arvelo (Ericeira 09.01.1927-Cascais xx.xx.xxxx), segundo “Tuta”, Júlio dos Santos Arvelo (Ericeira 18.07.1929-xx.xx.xxxx), conhecido por “Linho”, Maria Filomena Matos Arvelo (Ericeira 16.11.1935-xx.xx.2018), casou com António Inácio, conhecido por “Rodeia”, Angélica Arvelo (Ericeira 15.01.1929-05.01.1984) e Beatriz da Conceição Matos Arvelo (Ericeira 01.08.1938), mãe do Paulo, sobrinho e actual proprietário do “Café Salvador”.
«Saímos todos muito novos de casa. Tinha de ser. O Júlio foi para a vindima no Carvalhal. O Raul foi para Cascais». Perguntei-lhe qual era a origem da alcunha “Tuta”. Eis a resposta – «“Tuta” era a alcunha do meu irmão mais velho. Em seguida passou para o outro a seguir, o Raul, e depois para mim. O Manuel Augusto andou muito tempo no longo curso. Naquela altura pagou 500 escudos para poder embarcar. Eu tinha oito anos. O meu irmão Raul veio de Cascais e a minha mãe ganhou o prémio da Câmara de Mafra para quem tinha mais filhos vivos. Recebeu 1.500 escudos. 500 escudos foi para o meu irmão Manuel Augusto embarcar. Isto passou-se há 79 anos. A minha irmã Beatriz tem o papelinho que eu li na altura, pois era o único que sabia ler. O presidente da Câmara era o Capitão João Lopes.
A vida foi muito dura com muito sacrifício e muita labuta. Na minha família nunca houve um ladrão era tudo gente séria. As minhas irmãs foram servir para Lisboa, com doze, catorze anos. Os senhoritos vinham passar o Verão e depois as senhoras ofereciam trabalho para elas servirem em Lisboa.
O meu pai veio para a Ericeira trabalhar nas armações de sardinha. Durante doze anos foi pescador bacalhoeiro da frota à linha. Trabalhava de Inverno nas armações e na Primavera embarcava para a pesca do bacalhau na Terra Nova. Na pesca artesanal jagoz nunca teve barco. Foi durante muitos anos mestre das lanchas “Primavera” e “Bela Vista”. Foi muito tempo mestre por conta do “Ti Angelino”, sogro do Lebre, que morava ao pé do Grémio. Nesse tempo pescava-se tudo, lagostas, safios, peixe-espada, gorazes. Naquele tempo havia muito goraz. Era tudo apanhado com aparelhos. Não existiam redes.
Vivia, na Travessa de Santa Marta, ao pé do mar, quando saía a porta de casa via logo o mar. De todos os meus irmãos, a única pessoa que foi à escola oficial fui eu. Fui o único que tirou o exame da quarta classe. Usei sapatos pela primeira vez quando fui para a escola, até aí andei sempre descalço. Eram umas botas de carda. A comida em casa dos meus pais era à base de sopas de pão, papas de milho, café com leite, peixe cozido, frito e assado, enguias e de longe em longe havia carne.
O meu pai era conhecido como o “Rato da Foz”. Ia pescar enguias à cana com remolhão. A cana tinha cerca de dois metros o fio era mais curto. Fazia um molho com minhocas da terra. Ao princípio, quando eu era miúdo, usava um arame e uma chumbada. Depois passou a utilizar fio de nylon. Vinham três e quatro enguias de cada vez agarradas ao remolhão. Pescava só de madrugada. Pescava para dentro de uma poça durante a noite e de dia ia apanhá-las com uma navalha para dentro de uma saca. Vendeu muitas enguias ao Heitor Gaspar. Nesse tempo, eu tinha cerca de dez anos e ia vender para a praça.
Os meus irmãos não sabiam ler nem escrever. Depois da escola, tinha aí catorze anos, fui servir para Riba Fria, perto do Sobral de Monte Agraço. Fui trabalhar com um velhote que passava o Verão ao pé da minha casa. Era uma pessoa que vivia bem. Era rico. Como sabia bem ler e escrever levou-me para trabalhar com ele. Tinha várias casas e fazendas. Vendia adubos. Tinha uma camionete Chevrolet. Comprava naquele tempo muita cereja ali em volta. Havia boa cereja, que transportava para Lisboa. Às vezes ia com ele comprar adubos a S. Iria para revender. Estive aí seis ou sete meses.
Depois dessa vida ingressei na Escola de Pesca, em Pedrouços. Frequentei a escola durante nove meses. Após a escola de pesca, com 17 para 18 anos (1951), embarquei, no lugre “Alain Villiers” (19.06.1953-18.10.1953)[1], para o bacalhau na pesca à linha. O barco tinha o nome de um escritor australiano que também fez um filme sobre a pesca bacalhoeira. Saímos a 20 de Junho. Regressámos a 18 de Outubro. Trouxemos muito peixe, o navio veio quase carregado. Só fiz uma campanha no bacalhau. Embarquei como moço do convés. A alimentação a bordo era péssima. Para mim era das piores coisas que existiam a bordo. Já passaram tantos anos que não me lembro bem o que era. Comíamos bacalhau da pana, bacalhau fresco com dois dias de sal, para ficar rijo. A sopa era a chora. Coziam as caras do bacalhau. Tiravam fora a maior parte das espinhas. Comíamos a chora com pão. Fazíamos sopas de pão que era o que nos salvava. Parece-me que não tinha nem arroz, nem massa, era só o caldo. Não tenho bem a certeza. O melhor de tudo era a carne. A carne era podre! Eu não comia a carne nem com molho de tomate. Nos dias em que apanhavam mais peixe servia um copinho de aguardente a cada um. Às quintas-feiras servia vinho. Durante a viagem tomei banho uma vez ou duas, porque o meu camarote era à ré. Não sei se tomei banho, talvez banho no mar. O barco era novo. Era bom. Era um belo barco. A companha dormia quase toda à proa. O meu camarote à popa tinha três beliches, levava três moços. Para além do bacalhau, aproveitávamos as caras, os sames, as línguas e produzíamos óleo de fígado na caldeira.
Levámos cento e tal toneladas de isco congelado, lulas e cavalas. Depois era distribuída uma determinada quantidade por cada pescador. Os pescadores levavam a comida no foquim, umas postinhas de bacalhau frito e pão cortado às fatias. Às vezes, estavam cheias de bolor, mas nós comíamos na mesma e ninguém morreu. Era uma vida de escravatura.
A salga era dirigida por um mestre de salga. Os bacalhaus depois de escalados e lavados em água eram enviados para o porão. O bacalhau era todo salgado e estivado em camadas com a barriga para cima. Deitava-se uma mão cheia de sal para cima da barriga e depois espalhava-se com as mãos. Faziam aquilo muito depressa porque tinham muita prática. A moura conservava o peixe. Enchiam o porão até cima.
No regresso do bacalhau, estive dezoito dias na Ericeira, após o que embarquei na pesca para Cabo Branco, a bordo do “Arrábida” (20.11.1953-29.07.1954; 26.01.1955-16.06.1956; e 14.08.1966-16.02.1967). O mestre era o João Ratinho, de Olhão. A companha tinha à volta de 22 pessoas. Em Cabo Branco pescávamos tudo ao arrasto. Capturávamos pargos, corvinas, etc. As lagostas que vinham na rede eram deitadas fora. Nós aproveitávamos algumas, apenas as coas, as cabeças iam todas fora, dávamos uma fervura durante dois ou três minutos, para largarem a casca, depois tirávamos fora e deixávamos arrefecer. Levei noites inteiras a cozer lagostas. Depois dava-se um golpe nas costas das coas para retirar a tripa. Em seguida eram conservadas em sal moura em latas de tinta de vinte quilos. À chegada a Lisboa vendíamos as lagostas, por fora, e dividíamos o dinheiro entre nós. Levávamos também frascos de vidro grandes, de um ou dois litros, fazíamos o mesmo tratamento às lagostas, mas colocávamos nos frascos conservadas em vinagre, quando não cabiam nos frascos cortávamos as coas a meio para entrarem bem para dentro dos frascos. Andei na pesca do arrasto durante catorze ou quinze anos.
Casei-me com 27 anos (1960) com Benvinda Arsénio dos Santos, filha do “Chico Serralheiro”, que depois acrescentou Arvelo, quando andava a bordo do “Ilha do Fogo”. O “Tarzan”, pai deste rapaz, era o contramestre. Tenho dois filhos, António dos Santos Arvelo e José Alberto dos Santos Arvelo (“Joe”).
Andei na pesca do arrasto em Cabo Branco primeiro no “Arrábida” como moço. O “Ti Gaudêncio” era o contramestre. Era um bom contramestre. O arrasto era feito pelo través. Depois, estive quatro meses, menos dois dias, na Marinha de Guerra, em Vila Franca de Xira. Em Vila Franca dormíamos no “Gonçalves Zarco” que estava encostado ao cais. Estive no draga-minas “Belas”, no Alfeite. Saí da Marinha e voltei para o mesmo barco. Se fossemos bons trabalhadores, o mestre gostava de nós e voltávamos ao mesmo barco. Em seguida, embarquei no “Almada” também como moço (21.07.1956-30.11.1957). Era comandado por um capitão. Da companha faziam parte o “Ti Isidoro”, contramestre, e o “Ti Quirino” (Quirino de Almeida Pereira), mestre de redes, pai do Filipe “Fomeca” (Filipe José de Barros Pereira), eram irmãos, ambos naturais da Ericeira. Desembarquei e fui tirar a carta de marinheiro à escola de Pedrouços (24.01.1958).
Embarquei de marinheiro no “Albatroz” (01.03.1958-28.03.1958), no “Altair” (08.04.1958-07.05.1958), no “Maria Leonor” (13.09.1958-14.01.1959), no “Ilha do Fogo” (28.01.1959-09.05.1961), no “Alverca” (01.02.1962-05.05.1962), no “Praia do Restelo” (28.05.1962-04.06.1963), que já produzia farinha de peixe, e no “Praia de Paço de Arcos” (28.03.1964-30.05.1966). No “Alverca” e no “Albatroz” fazíamos uma viagem e saíamos porque a pesca não dava nada.
A determinada altura (fins da década de 1960) fui a uma policlínica, perto da Praça do Comércio, que pertencia ao Grémio dos Armadores e o Doutor disse-me que se eu queria viver mais alguns anos deveria de deixar aquela vida, porque tinha uma mancha no pulmão. Tinha de sair, a minha mulher também estava presente e ouviu a conversa. Aquela vida era muito trabalhosa. Nunca havia horas para pararmos. Cheguei a almoçar às quatro da manhã. Dormia um quarto de hora, vinte minutos, no máximo, por dia.
Em Cabo Branco a comida era por nossa conta. Nós comprávamos os produtos em terra. Fui rancheiro, comprava os produtos e decidia o menu das refeições. O cozinheiro fazia as refeições.
De Cabo Branco a Lisboa demorávamos quatro a cinco dias de viagem. Fazíamos duas refeições de caras, duas de bacalhau cozido e duas de peixe que secávamos a bordo, caneja ou arraia. As refeições de carne eram o cozido ou uma sopa de carne. Tínhamos de fazer duas refeições por dia, o almoço e o jantar. Tínhamos as refeições programadas desde que saíamos de Lisboa».
Em 19 de Setembro de 1967 fez exame para arrais da pesca costeira em Cascais, tendo ficado aprovado. «Também andei no arrasto na costa, no “Almourol” ou “Açor”. Apanhávamos pescadas. Estou desconfiado que ainda era solteiro. Arrastávamos em frente ao Farol de S. Maria, em Olhão, de Norte para Sul. Perto de terra o fundo tinha cento e tal braças, fora, a Sul, tinha trezentas e tal braças. O mestre de pesca era o Sebastião “Quarteireiro”, natural da Quarteira. Foi ele que me ensinou o arrasto. Eu gostava de saber as coisas. Perguntava tudo.
Em Sagres também há um pesqueiro chamada “Cama da Vaca”. A sessenta e tal braças apanhávamos muito peixe-espada. Era cada lance de peixe-espada branco! No meio vinha uma pescada por outra. No total dava duas ou três canastas. Íamos ao Carvoeiro, os pescadores vinham com os botes ajudar-nos a amanhar o peixe-espada e em troca, o mestre dava-lhes as pescadas que tínhamos pescado. Amanhávamos o peixe para não se estragar. De noite, na baía de Sagres dávamos arrasto a dez, doze braças de água. Apanhávamos lagostas e várias qualidades de peixe, robalos, salmonetes. Fazíamos três, quatro dias de mar. Tínhamos uns caixotes onde guardávamos, o peixe, robalos, salmonetes, lagostas que vendíamos em Lisboa, para nós. Descarregávamos o peixe no Frigorífico em frente à Rocha. Perto havia as docas secas da CUF (Companhia União Fabril).
Em Olhão, andava um barco com uma vela latina, quadrangular. Essa embarcação só navegava à vela. Levava-nos três garrafões de vinho e jornais. Um garrafão era para a proa, outro para a máquina, e o outro para o convés. Naquele tempo havia muito camarão. Do pequeno e do grande. Não se vendia, porque não valia nada. Deitávamos o camarão todo fora. Quando o barco atracava, o mestre dava os peixes da fundura e os camarões a essa embarcação. Ele vendia o peixe e os camarões em terra e dava-nos o vinho e nós ficávamos todos satisfeitos».
De supetão afirma – «Vou dizer-te o seguinte, com toda a seriedade, se não estou a falar a sério que Deus Nosso Senhor me leve – Sei o que é passar muita fome, sei o que é dormir muito mal, sei o que é dormir todo molhado, sei o que é dormir numa cama de um hotel de cinco estrelas, sei que em casa não me falta nada, Graças a Deus, tenho tudo o que é de bom e como do melhor que há. E como aquilo que quero e que me apetece.
O meu sogro incentivou-me a tirar o passaporte de turista em Lisboa.
Após sair de Cabo Branco fiz uma viagem no “Lima” (16.10.1968-22.11.1968) para os Açores, no transporte de gado, como marinheiro de 2ª. No “Ilha da Madeira” (24.03.1969-06.05.1969) como marinheiro de 1ª. O gado era descarregado no Cais do Sodré. Depois embarquei no “Star Stone”, um navio de carga, de longo curso, com bandeira de Monróvia». Embarcou em Barcelona (09.12.1971). «Os oficiais eram ingleses e alemães, na tripulação havia muitos portugueses, italianos. O cozinheiro era português. O navio tinha quarenta e tal tripulantes. Tinha seis porões com abertura automática. Transportávamos carga geral. O maior pau de carga pegava em 50T. Levávamos também alguns contentores. Transportava tudo dentro dos porões. Fazia viagens para a Alemanha, Mediterrâneo e Pacífico, passávamos por Seattle íamos até ao Alasca. Atravessávamos o canal do Panamá. O navio pertencia a uma companhia estrangeira que tinha a sede na Avenida 24 de Julho em Lisboa, ao pé da Rocha. Andei aí embarcado um ano e tal sempre como marinheiro. Saí e vim pescar para a Ericeira numa embarcação minha chamada “José Alberto”, que comprei ao “Ti Procópio”. Não fazia o tempo todo. Andava à pesca no Verão, no tempo que andava embarcado, punha um mestre por minha conta. Tive essa embarcação sete anos, depois vendi-a ao meu cunhado (“Rodeia”, alcunha de António Inácio).
Em 1973 fui para a América. A minha cunhada Rita Santos, casada com o Eduardo Fragata, que morava na Rua do Ericeira, e irmã da minha mulher, chamou-nos para a América. Fui para New Bedford, no Estado de Massachussets, onde trabalhei durante quinze anos na pesca. Os meus filhos tinham onze e cinco anos. Primeiro embarquei no barco do meu cunhado Fragata. Tinha o nome da mãe “Fernanda Isabel”. Estive cerca de dois anos com ele na pesca de arrasto. Pescávamos bacalhau, arinca, grissol, deves (palmeta), etc. O “Red fish” era deitado fora. Mais tarde, embarquei no “Esperança Segunda”, onde andei uns cinco ou seis anos. O peixe era vendido na lota em New Bedford. Havia muitos armadores portugueses e muitos americanos. Estive quinze anos na América sempre na pesca. Trabalhávamos oito horas e tínhamos direito a quatro de descanso. Ganhei sempre bem. Comecei como marinheiro, cheguei a “mate”, um posto abaixo do capitão. Eu é que mandava nas redes, fazia os arrastos, era como se fosse mestre de redes. Com a prática fiquei a conhecer bem os pesqueiros. O meu cunhado Fragata ensinou-me a conhecer a posição no mar com os instrumentos que havia. Depois passámos a utilizar o radar. Pescávamos ao Norte da Nova Escócia. Capturávamos 30, 40 mil libras de pescado. Cheguei a fazer duas viagens a S. John’s para pescarmos palmeta. De New Bedford a S. John’s eram quatro dias de viagem. Pescávamos durante quatro dias e depois regressávamos. A viagem durava em média dez, onze dias. O peixe era todo conservado em gelo. Os porões eram revestidos a inox, não usavam madeira como nos navios em Cabo Branco. Também cheguei a levar barcos à pesca de arrasto durante oito dias como mestre. Não trabalhei mais tempo na pesca como mestre porque não quis. Navegávamos até às longitudes 19, 18, 17. Já conhecia o mar todo, naquela costa. A distância de uma linha a outra, durante o arrasto, demorava uma hora. Havia um canal, que desde a boia, cá fora, até chegarmos ao porto demorávamos seis horas.
Em 1988, com 55 anos, decidi regressar à Ericeira. Os meus filhos já tinham casado. Fiz as contas à vida. Pobre fui sempre, a rico não chego e decidi vir-me embora. Já estava saturado da vida do mar. Regressei sem qualquer reforma. Em 1991, comprei aqui um bote chamado “Zezinho” e como conhecia bem o mar andei uns anos na pesca desportiva à cana. Vendia algum peixe, mas a maior parte era para meu consumo. Vendi na lota e ganhei algum dinheiro. Como éramos velhotes deram-nos a oportunidade de vender o peixe na lota. Nunca registei os meus conhecimentos em cadernos, tinha tudo na memória, tanto aqui como na América. Talvez fosse um pouco de estupidez. Nunca tive uma ideia de chegar mais longe. Havia pescadores que tinham tudo apontado em cadernos.
O meu irmão “Samarra” tinha um livro com apontamentos dos pesqueiros. Quis dar-mo. Eu nunca aceitei. O meu irmão tinha uma inteligência rara, mas nem o nome sabia escrever. Tinha um livro que lhe tinham dado os pescadores idosos do Seixal. O meu irmão teve uma morte muito má. Muito má.
Depois de andar em Cabo Branco veio para o arrasto costeiro. Foi muito tempo mestre de pesca. Andou muito tempo no “Santa Luzia”. Depois foi para um barco italiano com o pai dos “Cassapos” (José da Silva Almeida Cassapo). Teve uma infelicidade. O barco tinha à popa a patesca. O cabo da patesca partiu-se cortou-o mesmo ao meio e deitou-o ao mar. O corpo nunca mais apareceu. Era uma joia. Era um irmão fora de série. De Inverno quando estava desempregado, vivia à conta das putas em Lisboa. Tinha uma vida muito confusa.
Vendi o bote em 2005, tinha 72 anos. Entretanto andei sempre na malhada na Praia do Sul, ia, e ainda hoje vou, aos seguintes pesqueiros da praia, a começar de Norte para Sul – no início, a seguir à piscina, junto a terra, “Cu da Galinha”, fora, “Pedra do Viveiro”, a meio, “Pedra Furada”, ao fundo da praia, “Laje Pero Afonso”, antes do pontão sul, “Lage da Carrasqueira”, a sul do pontão, “Muro Preto”, “Muro Encarnado”, “Fom Fom”, “Covas Rotas”, “Grissol” ou “Cortinas”, “Muro do Carrascal”, “Poça dos Burros”, depois seguem-se a “Malhadinha”, “Muro das Galhetas” ou “Pedra das Galhetas”, “Charneiras” (dentro e fora), “Sudoeste”, a “Laje da Galera”, “Muro da Galera”, “Cavilhas”, “Mesa”, “Laje do Descalça Sapato” e a Foz. Pesco em volta da Praia do Sul, um pouco mais ao Sul ou mais ao Norte. Apanho polvos, navalheiras, abróteas, com a sertela. Havia muitas abróteas. Nunca gostei muito de cabozes.
Ainda andei no mar, mais algumas vezes, com o João da Eugénia, que tinha uma taberna chamada “Polo Norte”. Pesquei sempre à cana ao fundo da Praia do Sul, nas lajes da “Carrasqueira” e no Cabo David. Apanhei muitos robalos. Nesse tempo havia muitos robalos. Cheguei a pescar exemplares com cerca de 7,5 kg.
“Tuta” além de um competente pescador é um excelente cozinheiro. Começa por nos dizer – «Adoro canêja de infundice. Amanho a canêja, procuro tirar tudo o que é sangue. A parte do umbigo tem que ser muito bem limpa, muito bem lavada, pois é onde acumula mais sangue. Lavo-a com três ou quatro águas, pode ser com água do mar ou da torneira. Deito fora a cabeça e o rabo. Corto-a às postas com dois a três dedos de espessura. Deixo-a a escorrer durante duas a três horas. Ponho-a um pouco ao Sol. Se não houver Sol, deixo-a ao ar que enxuga na mesma a canêja. Meto um bocadinho de sal, ao de leve, em todas as postas. Na parte do umbigo ponho mais um bocadinho, pois é a zona onde fica mais queimada. Embrulho-a toda nuns panos. Ponho panos entre as postas. Uso os panos que tenho à mão. Faço um molho. Enrolo em dois ou três jornais. O melhor é folha de papel pardo. Quando não tenho papel pardo embrulho-a em jornais. Depois meto-a dentro de um saco de plástico se tiver, senão fica mesmo a curar só nos jornais num sítio fresco durante dez, dezoito, vinte dias. Há canêjas, mais claras, mais escuras, há a pintada, que também é boa. Olho para o peixe e vejo logo que é canêja. Depois de curada, desembrulho e lavo-a muito bem. Depois ponho-a ao Sol durante três ou quatro horas, para ficar enxambrada, a posta faz mais falha. Cozo durante sete, oito minutos, depois de levantar fervura. As batatas, cortadas ao meio, são cozidas com a pele. Tempero só com azeite. Há quem ponha um pouco de vinagre. Cheguei a preparar canêja na América. Apanhava canêjas (Mustelus canis). Lá não tem valor comercial. É rara a terra que tenha tanta qualidade de peixe como a Ericeira e até melhor peixe.
Para fazer caldeirada, ponho logo por baixo cebola, às rodelas, se o tacho pegar, o melhor é por um bocado de berbigão, mexilhão, um marisco qualquer para não pegar, depois por cima deito tomate às rodelas, batatas às rodelas e peixe, tudo em camadas sucessivas, depois repito as camadas, deito dois ou três dentes de alho descascados, aos bocadinhos, depois duas folhas de louro, deito uma pinga de água, azeite e um pouco de “Becel”. A “Becel” é para desenjoar o azeite. Pouca água, porque o tomate e a cebola criam água. Depois de pronta deve ser só uma pessoa a servir. A qualidade do peixe é conforme a carteira da pessoa. Entra safio, tamboril, galinha do mar, pata-roxa, arraia, cação (Barroso). Ponho sempre arraia, mas tiro a pele de cima. Quando a caldeirada está quase pronta deito um ramo de salsa e coentros.
Para fazer a sopa da caldeirada, cozo massinha pequenina, em água normal, ao dente. Depois num tacho deito o caldo da caldeirada e junto a massa. Vai ao lume a apurar. A sopa deve ficar rala com pouca massa.
O polvo fresco demora mais tempo a cozer. No tacho demora uma hora e tal. Às vezes, cozo o polvo com uma cebola, para apanhar a cor. Se o polvo estiver congelado coze mais depressa. Não cozo o polvo com sal. Utilizo os polvos que apanho na malhada.
Para fazer a salada de polvo corto o polvo, corto cebola, às rodelas fininhas, e pico um dente de alho. Por fim tempero com azeite, vinagre, pimenta branca, um bocadinho de piri-piri e sal fininho.
Faço o arroz de polvo com tudo em cru. Não faço refogado. Deito no tacho, azeite, um bocadinho de “Becel”, cebola picadinha, alho picadinho, pedaços de tomate, o polvo cru aos pedaços e um pouco de água quente para cozer. Acrescento água quente sempre que for preciso. Espeto o polvo com um garfo para ver se está cozido. Quando o polvo está cozido deito água quente e quando a água ferve deito o arroz. Mantenho sempre o lume brando. Tenho sempre água quente ao lume que acrescento quando é preciso. Não meço a quantidade de água».
«Faço assim o arroz de lagosta – Metes a lagosta viva de barriga para cima. Estás a perceber? Metes uma faca no início da cabeça e escalas por aí abaixo. Numa das metades da cabeça removes o estômago, porque amarga. Das costas de uma das metades da coa, retiras um fiozinho. É a tripa! Aproveitas tudo o que a lagosta deitar, aquela "auguinha". Partes cada lado da coa em três bocadinhos. As metades da cabeça partes cada uma ao meio. Mais nada! Depois aproveitas toda a "aguinha" que ela deitar.
No tacho deitas duas cebolinhas, bem picadinhas, um fio de azeite, um bocadinho de tomate, um tomate pequeno, um bocadinho de alho, um bocadinho de louro, um bocadinho de piri-piri, se quiseres pôr, ao final. Deixas cozer e depois passas tudo com o passe-vite, até ficar uma massa consistente. Percebes? Pões água a aquecer ao lume e vais acrescentando água quente, se precisares. Acrescentas água quente e pões o arroz a cozer dez minutos. Olhas para o relógio e passando os dez minutos, deitas a lagosta dentro com tudo. A lagosta aberta demora dez minutos a cozer. Temperas com sal, a gosto. Estás a compreender? Aprende que eu não duro sempre (e desata à gargalhada)».
[1] José Arvelo inscreveu-se na Capitania do Porto de Lisboa em 12 de Março de 1953, tendo-lhe sido atribuída a Cédula de Inscrição Marítima nº 45.262.
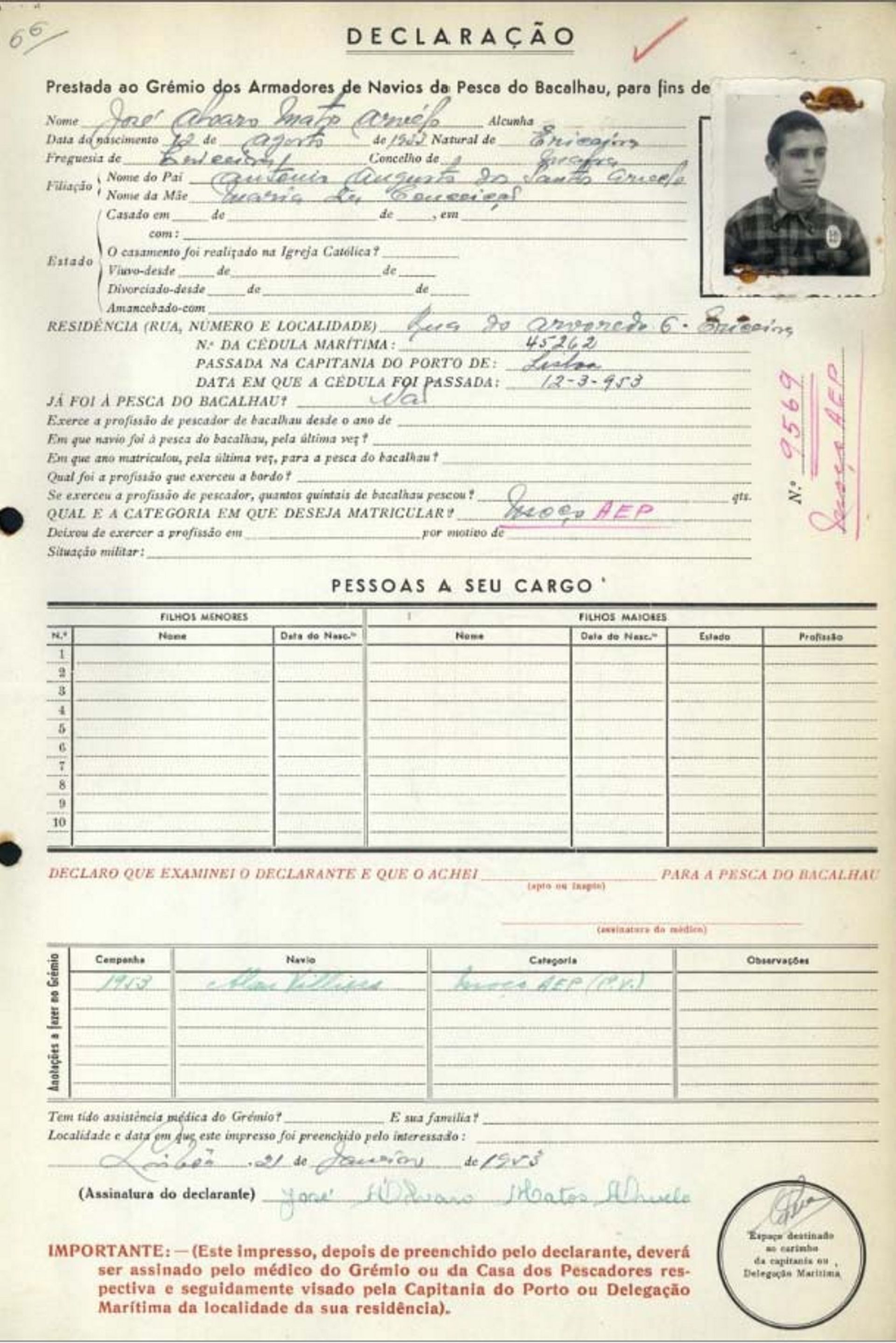
Fig. 2 Ficha de Inscrição do Grémio dos Armadores Bacalhoeiros
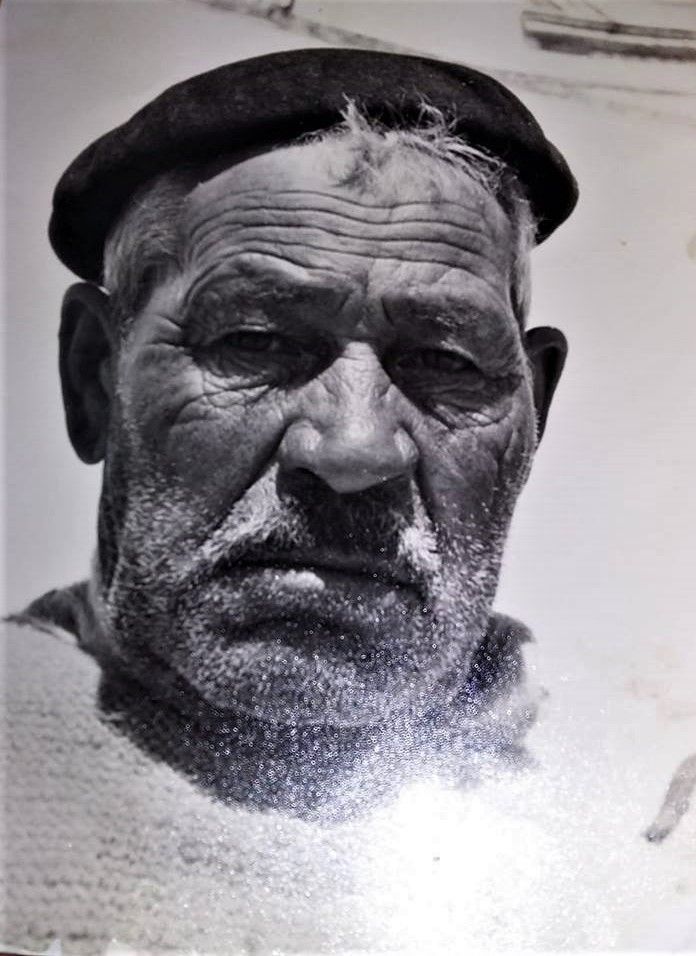
Fig. 3 António Augusto dos Santos Arvelo, pai de José Arvelo
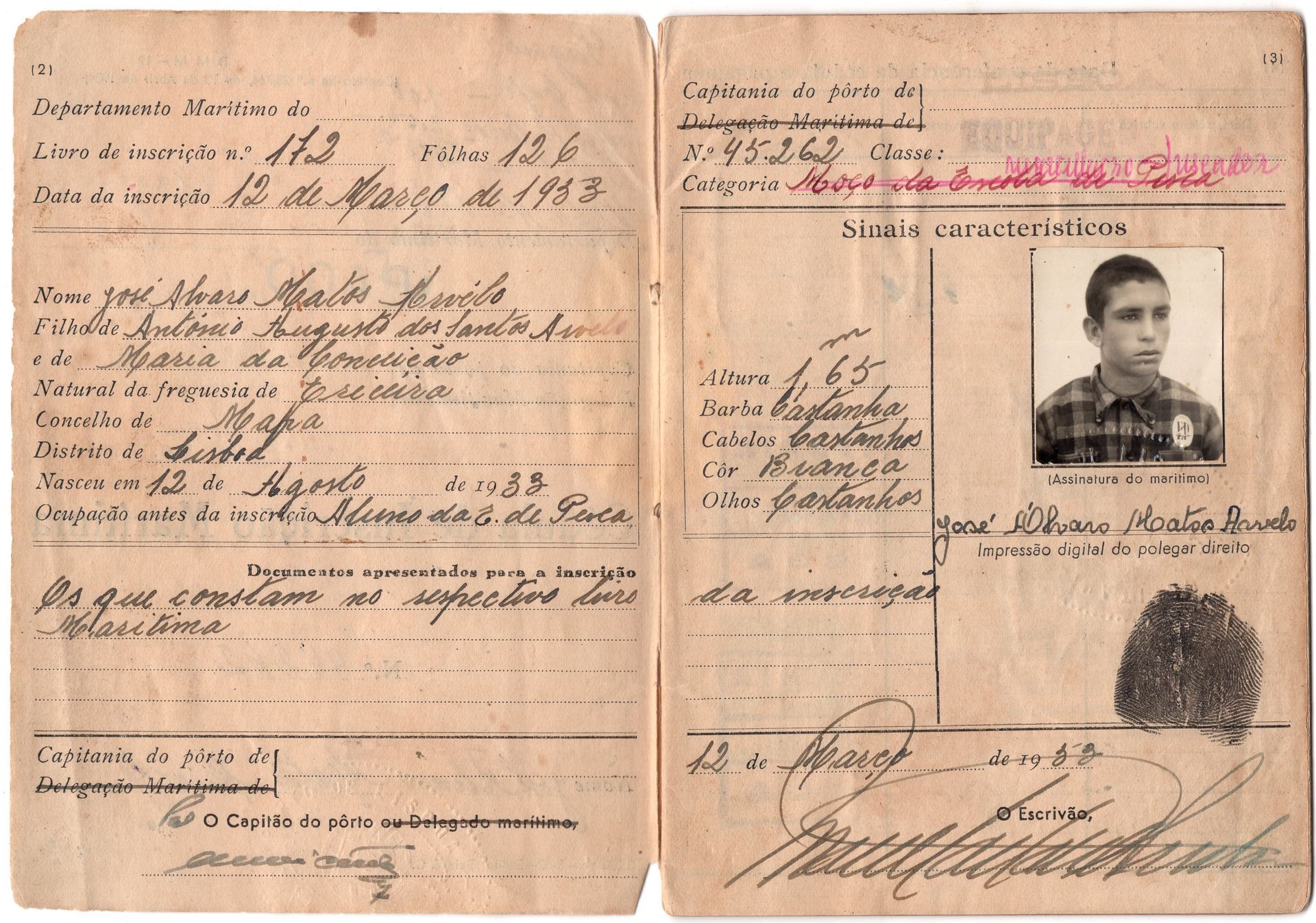
Fig. 4 Cédula de Inscrição Marítima, datada de 12.03.1953

À malhada em 20 de Novembro de 2021, no “Cu da Galinha”, Praia do Sul, às 7h 53m.
Entrevista feita na esplanada do “Café Salvador” na Ericeira, em 26.09.2020. Corrigida em 18.11.2021 no “Café Salvador” após a leitura do texto ao Mestre “Zé Tuta”.
A receita do arroz de lagosta foi registada durante um dos nossos pequenos almoços no “Café Salvador”, propriedade do sobrinho Paulo, em 20 de Julho de 2023.
Francisco Esteves, Novembro de 2021 e Julho de 2023.